Os melhores textos de «O Ano da Morte de Alberto Caeiro / Álvaro de Campos»
Copio, com raras emendas, todos os textos que tiveram Muito Bom (incluo
Muito Bom, Muito Bom (-), Muito Bom -) na tarefa 2 da quarentena. A ordem é a alfabética do autor, segundo o nome por que costumam ser tratados em Português. As turmas estão
misturadas. E são, com efeito, muito bons textos.
Ana (12.º 3.ª)
O Ano da Morte de Álvaro de Campos
A marginal, que
via agora sob uma perspetiva totalmente nova enquanto mero passageiro num
comboio à hora de ponta, desdobrava-se, abraçando o seu caos característico,
motivo de serenidade para aquela mente frenética que gostava de se ver
replicada em exóticas paisagens citadinas. Na verdade, não tinha qualquer
necessidade de andar de transportes públicos, mas a vontade de sentir os
carris, aço vivo e gritante, debaixo de si, ouvir o seu estremecer constante e
cheirar a Lisboa apressada exsudando por aquelas janelas insuficientemente
abertas, sobrepôs-se à opção bem mais óbvia de um confortável táxi, permitida,
aliás, pela carteira avultada. A cabeça doía-lhe, é certo, mas esse martelar
invisível que o atormentava era já rotineiro, até mesmo uma faísca essencial
para despoletar os seus devaneios por vezes escrevinhados.
Seria de
esperar, até porque nunca fora uma pessoa desatenta em semelhante contexto
cosmopolita e agitado que lhe alegrava as vistas, que tivesse saído em Algés –
era, afinal, onde iria pernoitar, num quarto escuro e bafiento em casa de um
amigo de longa data – mas a estação escapou-lhe. O sol já baixo que procurava
refúgio sob o rio conferindo-lhe em troca algumas das suas quentes tonalidades
dava-lhe algum conforto: lá estava o agradável laranja carregando o fecho de
mais um dia, só podia ser o mesmo presente no céu de Tavira que o vira nascer,
arrebatando-o de melancolia agora ao ser recordado. Fosse pela invulgar inércia
que sentia abater-se sobre si ou por estar intrigado pelo que se seguiria,
deixou-se ficar: já tinha perdido a sua paragem e, de qualquer forma, o comboio
do tempo há muito que o deixara para trás, levando consigo a possibilidade de
uma vida estável, serena e deixando-lhe apenas uma aguda autoconsciência.
Ignorava que horas seriam num pequeno jogo, se é que tal se lhe pode chamar,
que habitualmente fazia consigo próprio: desfrutando momentaneamente de uma
ignorância temporal, sentia-se, ao aperceber-se invariavelmente se de que
estava atrasadíssimo para um qualquer compromisso, regressar ao seu verdadeiro
eu, ao estado em que se sentia confortável: puro nervosismo e agradável
frenesim. A verdade é que sabia que nesse momento o seu solilóquio não surtiria
o mesmo efeito: não tinha horários a cumprir e o vazio que insistia em aparecer
naqueles limbos entre dia e noite aumentava.
Tais eram os
seus pensamentos ao apear-se em Cascais, misteriosa e que pouco de si revelava
da estação. Riu para dentro ao reconhecer que não se sujeitaria a apanhar a
maravilhosa génese da engenharia de volta e limitou-se a chamar um bendito
uber. Imediatamente percebeu que o condutor era de poucas palavras enquanto
olhava a cidade, agora coberta por um escuro véu cada vez mais espesso, dissipando
o vazio, dando a noite cortante por vencedora. Gozava do regresso do martelar,
confortável e gritante, por entre cartazes publicitários a desfazerem-se algures
na João Chagas. O cheiro das escadas do prédio era quase bafiento (nova e
infernal onda de melancolia) mas antes de nelas se aventurar recompôs-se:
deitou um último olhar à noite e logo um frémito o tomou.
Francisco (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
Ficava para trás, então, o autocarro que o trouxera do Ribatejo até
Lisboa. Reconheceu a zona de fotografias que lhe mostrara a sua mãe, era Sete
Rios. Alberto Caeiro começou a ficar um pouco incomodado com a paisagem que via
à sua frente, amava a natureza, não o alcatrão e os carros que passavam a altas
velocidades. Não estava habituado às cidades modernas, preferia as paisagens
serenas do Ribatejo, onde os pássaros cantavam de manhã até à noite. Cantos de
pássaros já não ouvia, mas encontrou um jardim com árvores altas e decidiu
entrar. Indicaram-lhe que aquele espaço era o Jardim Zoológico, que era preciso
pagar para entrar, e decidiu entrar para ver, ainda que tivesse de se ir
instalar. Saiu fascinado, tinha já saudades do contacto com a natureza, e
prometeu a si mesmo que lá voltaria. Começou a andar calmamente até à paragem
de autocarros, mas descobriu que a sua carreira não funcionava ao domingo.
Optou, então, por ir de táxi: sempre seria mais fácil, pois já sentia algum
cansaço.
Pediu ao motorista que o deixasse junto ao café Califa, que Caeiro não
sabia onde era, pois alugara aí perto uma casa para os próximos meses.
Intrigou-se, mais uma vez, sobre o que estaria ali a fazer, o que o tinha
levado a deixar a sua vida no Ribatejo. Concluiu que não conseguia responder a
estas perguntas: um dia lembrou-se de vir e veio. A meio da viagem reparou numa
floresta imensa, cerrada, que se precipitava sobre a cidade. O motorista
respondeu-lhe que era Monsanto, uma floresta enorme no coração da cidade de
Lisboa, e que até tinha um miradouro que permitia ver a cidade inteira.
Conferiu se estava no sítio certo e foi andando na direção da casa que
alugara, conforme as instruções que lhe tinham dado. Aquela zona era muito diferente da zona da
estação de autocarros, era mais calma, mais familiar. Lembrou-se que estava na
cidade onde nascera, e ficou a pensar nesse momento da sua vida, perguntou-se
se seria como as crianças que agora via a descerem a rua levados pelas mãos dos
pais. De um lado e do outro da rua, pequenos cafés serviam casais já com alguma
idade, que descansavam à sombra dos guarda-sóis enquanto se regalavam com
croquetes e pastéis de nata. Era uma paisagem perfeita, que emanava
tranquilidade, só a estragavam as ocasionais motas de entrega de pizza que
passavam a alta velocidade. Imaginou a sua vida se nunca tivesse ido para o
campo, mas percebeu que ainda assim não conseguia viver ali, afastado dos
pássaros e das flores do seu jardim. Reconheceu a rua da casa que ia alugar,
tinha combinado encontrar-se com o seu dono à frente do parque infantil.
Agradecido por ter escolhido uma casa numa zona que tanto lhe agradava,
encontrou-se com o senhorio, que lhe deu as boas-vindas a Benfica.
Gonçalo (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
“Grande
Lisboa”, suspirava o rapaz ao passar a Ponte 25 de Abril de comboio naquele dia
de sol tímido que se escondia entre as nuvens. Olhando a quantidade de
prédios, estradas e carros que o esperavam, ficou triste. Não lhe
agradava a falta de animais em Lisboa, muito menos a falta de espaço, mas tinha
sido obrigado a regressar à cidade onde nascera depois da morte da dona da
quinta (morte que ainda pesava nos seus mortiços olhos azuis). Cada vez
que a tia-avó lhe falava da capital, referia a variedade de gentes que por ela
passava para visitar a Baixa, local para onde se dirigia o pastor – nome pelo
qual gostava de ser chamado, não se tratando exatamente da verdade. Acabado
de chegar à estação do Rossio, o sol ganhara coragem para o apresentar à
cidade. “Largo de Camões”, pensou enquanto procurava um táxi que o
pudesse levar até ao hotel onde ficaria hospedado. “Obrigado, muito boa
tarde”, disse ao entrar no velho Mercedes amarelo que cheirava a tabaco,
referiu que pretendia ir para o Largo de Camões, recostou-se e pôs-se a olhar a
janela.
Crianças corriam na Praça dos
Restauradores assustando os pombos que tentavam alimentar-se de migalhas
deixadas cair. Alberto sentia-se deslocado, a sua boina e cajado
pareciam não se encaixar no vestuário escolhido pelos “alfacinhas”, mas
descansou-o pensar que teria oportunidade de comprar novas roupas nas lojas da
cidade. Rapidamente, para surpresa do “pastor”, chegaram ao local onde
ele ficaria alojado nos próximos tempos, e gostou principalmente da proximidade
às igrejas. “Muito obrigado, uma boa tarde para si”, disse, entregando o
que devia ao calado taxista lisboeta que esboçou um sorriso antes de pedir que
a porta do táxi fosse fechada. Olfato apurado tinha o “pastor”, logo
sentiu o característico odor dos pastéis de nata de um café próximo em que decidiu
entrar e experimentar um, acompanhado de um “pingado”.
Guardado no seu bolso tinha o relógio que
o pai lhe deixara. Uma vez, a tia-avó contara-lhe que o pai lutara na
guerra e aquela tinha sido uma prenda do Coronel. Era nisso que pensava
ao subir as escadas do discreto hotel numa das ruas perpendiculares ao Largo,
rua estreita e aparentemente vazia, pensou. Reavaliava agora se teria
tomado a decisão certa quando uma senhora baixinha e com ar simpático o recebeu
e se disponibilizou para tratar do seu check-in. “Rápido, vá”,
disse brincalhona a dona do hotel abrindo a porta do escuro e simples quarto
que serviria de dormitório a Alberto. Estava cansado e, ao deitar-se na
cama, sentiu-se a adormecer, deixando-se ir depois de uma manhã de viagem. Imaginando,
no sonho, o regresso ao seu Ribatejo, os vizinhos esperando-o e convidando-o a
entrar para beber um copo. Reabrindo os olhos sentiu um aperto no peito
que reconheceu como arrependimento, mas não tinha escolha, era aquela a única
hipótese. Ocupando a cadeira da pequena mesa de escritório, escreveu
noite dentro.
Inês S. (3.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
Inicia esta sua aventura com grande entusiasmo e curiosidade
pelo desconhecido. Nunca antes saíra
da quinta da sua tia-avó, situada no Ribatejo, uma zona completamente diferente
deste seu novo rumo, visitado por milhares - a capital de Portugal, bastando
pronunciar o seu nome para se perceber a grandeza e o prestígio desta cidade. Enquanto aguarda por outro comboio, da
linha de Sintra, observa os lisboetas, tentando enquadrar-se naquele mundo, que
lhe parece tão estranho e incomum. Senta-se
num lugar dos poucos disponíveis e, ao longo do percurso, olha a cidade, a
correria de toda aquela multidão, os prédios, as torres, as estradas e
autoestradas, denotando a timidez do seu ser na expressão pálida de um sorriso.
Sai na estação de Benfica e decide que não vai chamar um táxi,
nem mesmo um uber, vai a pé, recordando Cesário e desejando a sensação da realidade.
Os seus olhos estranham tanto
movimento, tanta agitação… pergunta-se como é possível, sem árvores nem
plantas, que estas pessoas consigam respirar, sentir o ar e as coisas que as
rodeiam. Fica desmotivado por uns
momentos, mas logo decide não desistir da nova experiência para conhecer, de
ver... não precisa questionar mais, não quer pensar. Iludido pela distância que a sua vista consegue alcançar, resolve
descer a Avenida Gomes Pereira, mas rapidamente se arrepende quando toma
consciência da sujidade da rua, da falta de luminosidade entre os prédios, dos
odores a cigarro e a gases dos carros. Avança
para a estrada de Benfica, rumo à emblemática Igreja de Nossa Senhora do Amparo
e ao famosíssimo Palácio Baldaya que, para além de ser um recente espaço
cultural e inovador, é um local dinâmico que tem um jardim… este pormenor
agrada particularmente a Caeiro.
Sente um aroma familiar quando as portas transparentes e
automáticas do Palácio se abrem… os seus olhos expandem-se perante aquela visão
encantadora. Imaginara um simples
jardim, não muito trabalhado e quase abandonado, mas o que os seus olhos agora
contemplam é a junção de duas realidades, cidade e campo, ali, naquele espaço,
num resultado perfeito. Lentamente
vai captando tudo o que os seus sentidos lhe permitem: o cheiro a pão caseiro,
o som das crianças a brincar e a correr pelo largo parque, as cores do céu que
parecem encaixar no verde dos arbustos, os batimentos do coração que ecoam como
um tambor por todo o corpo. Volta à
rua e apressa-se a encontrar um hotel ali perto, quer ficar próximo daquele
jardim que o acolhe novamente, como dantes sentira. Apresentam-lhe um hotel pequeno, vazio e com condições modestas...
e é ali que fica.
Ivânia (12.º 9.ª)
O Ano da Morte de Álvaro de Campos
Ia ainda o dia
a meio quando os seus sapatos gastos pisavam pela primeira vez, uma nova
primeira vez, o chão da cidade que o seu coração tinha preferido a Londres.
Vencido pelo cansaço, e assustado com os tempos que só há pouco tinham ficado
para trás, decide não se aventurar pelos transportes públicos da capital. A
Uber parece a escolha certa: um clique apenas e resta-nos esperar pelo nosso
motorista. Nenhum minuto havia passado tão rápido, estava ainda a admirar a
arquitetura do, a seus olhos, renovado aeroporto Humberto Delgado, quando uma
notificação o alerta de que o seu motorista já o aguardava. Impressionado com o
serviço, pegou rapidamente na mala, de cor vermelha já a desbotar, que o
acompanhava, e entrou no carro. À sua frente, no lugar do motorista, estava
sentado um homem de expressão serena e pele clara — os cabelos grisalhos
apontavam a sua idade, entre os 50 e os 60, e os olhos azuis olhavam, sorrindo,
pelo espelho retrovisor para o nosso passageiro com ar inglesado: Álvaro de
Campos.
Muito
atrapalhado, o passageiro, de vestes pretas e cabelo apanhado no cimo da
cabeça, quase que formando uma bola disforme de cabelo, apressa-se a começar um
diálogo com o seu motorista. O que estas tecnologias traziam de negativo era a
falta de comunicação verbal: o destino estava na aplicação, o nome de ambos
também, a curiosidade era morta com um rápido olhar sobre o telemóvel, e as
perguntas ‘‘Para onde?’’, ‘’Vai cá ficar cá durante muito tempo?’’, ‘‘Já
conhece a cidade?’’, deixam de ser feitas. Nada incomodava mais Álvaro do que o
silêncio num sítio com mais do que uma pessoa: se era possível conversar, qual
seria o sentido de não o fazer? ‘‘Tem filhos?’’, perguntou o passageiro. Entre
a visão dos carros que, tal como eles, andavam pela 2ª Circular, viam-se os
prédios dos subúrbios que serviam a cidade: Olivais, Teresinhas, São João de
Brito. ‘’Ia ligar-lhes quando vi o seu pedido, tenho dois, sim, uma menina e um
menino’’, a resposta tinha chegado. Recostou-se no banco de pele enquanto
observava a cidade pelo vidro meio sujo do carro. O destino aproximava-se ― o Bairro de Alvalade
― e o caminho deixava claro que nada se comparava a Lisboa: o tempo convidava a
passear e conhecer a cidade, as pessoas eram sorridentes, e as casas
acolhedoras, tudo parecia chamá-lo.
Varrido de
gentes, o silêncio de Alvalade era apenas quebrado pela tentativa de regresso à
normalidade pelos vendedores do mercado de Alvalade. Inconsoláveis com a pandemia
que os tinha atingido, dispunham nas bancas os produtos frescos. Os caixotes
amontoavam-se nos cantos. Lentamente, dirigiu-se para a porta de um prédio
pintado de amarelo e branco, o número 51. As varandas, verdes, deixavam ver um
pouco das casas que não se cobriam com cortinados. Na campainha, os números
quase já não se viam, mas Álvaro sabia-os de cor e, sem hesitar, pressionou o primeiro
botão à esquerda. ‘‘Tinha saudades tuas, entra’’, disse a voz na campainha.
Escadas intermináveis separavam Álvaro da voz calorosa que o recebia, ‘‘Olá, tia’’,
disse, e entrou.
Júlia (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
Já
marcavam três da manhã todos os relógios do aeroporto quando o último voo
aterrou. Um dos passageiros, já com idade mais avançada, seguia na
frente enquanto segurava fortemente o seu chapéu acastanhado encostado ao
peito. «Lisboa, como é bom poder estar de volta», disse ele baixinho,
como se se vangloriasse por ter conseguido voltar a pôr os pés na cidade que
tanto amava depois de tantos anos longe. Inicialmente, o plano
traçado era sair do avião e ainda procurar alguém que o ajudasse a encontrar um
local para ficar, considerando que a sua família já havia se desvinculado da
cidade muito tempo antes. «Acho que vou precisar de ajuda, meu
menino», pediu assim que chegou no local onde se busca a bagagem, abrindo
levemente um sorriso na esperança de persuadi-lo.
Logicamente,
toda a ajuda necessária e suporte requerido foram fornecidos de modo a deixá-lo
mais à vontade, afinal ele viajava sozinho, sem acompanhante, e chamava a
atenção de todos ao passar com a sua delicadeza, gentileza e felicidade
genuína. «Mas diga-me, senhor Caeiro» falava o modesto António, um
dos companheiros do voo, enquanto carregava a mala do passageiro – que se
apresentara como Alberto Caeiro, mas pedindo para ser tratado apenas como
Caeiro, nome que ele dizia admirar – para o estacionamento do campo de aviação
«Porque voltar à Lisboa?». O vento batia contra o seu rosto
enrugado, o que fez Caeiro abrir uma gargalhada e suspirar intensamente antes
de responder à pergunta que, para ele, era retórica. «Só com o tempo
aprendemos a valorizar as pequenas coisas dessa cidade espetacular, António; o
ar, a pureza, o ambiente que nos rodeia... Até mesmo as pessoas boas, tal como
estás a ser para mim... Essa é a Lisboa de que me lembro e de que sentia
falta», concluiu, voltando a sorrir enquanto analisava a passagem do
tempo, tic tac,
agora em silêncio até a chegada do seu táxi previamente pedido.
Mesmo
que o passageiro não fosse de falar muito, o motorista fazia perguntas de modo
a quebrar o silêncio constrangedor que, para ele, era inquietante. Ao contrário, para Caeiro, a quietude
era uma das formas mais fáceis de se admirar o mundo à nossa volta, tendo ele
memorizado cada pedaço de estrada que fora percorrido até à fachada principal
do singelo hotel em que pedira para ficar: hotelaria Royal,
próximo ao parque Eduardo VII. Ruas escuras, apenas com a
iluminação dos postes, clareavam a sua mente, fazendo-o sentir paz e liberdade
mais uma vez. Como estivera anos na China, país extremamente
regrado, já sentia falta do ambiente acolhedor e simpático que era
Portugal. Em poucos minutos – ou, pelo menos, foi o que pareceu a
Caeiro –, o motorista olhava para ele à espera de que lhe dissesse o que
pretendia fazer (se sairia ou não do carro, portanto). «Logo» disse
finalmente Caeiro «Logo saio. Preciso de admirar o local. Sabe como é...». Os tempos seriam outros, pensou ele
antes de abrir a porta do carro finalmente preparado para se despedir.
Laura C. (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Álvaro de Campos
Londres havia sido, em tempos, o destino do jovem alto e
elegante, de cabelo preto e liso, com risca ao lado, ou, como diria Pessoa ele
próprio, o destino daquele com um «tipo vagamente de judeu português». Agora, a situação no Reino Unido está
complicada e Álvaro de Campos, já com os pés assentes no aeroporto de Lisboa,
cuja coroa assenta aos deuses e a um decerto alinhamento dos astros por os voos
Londres-Lisboa não terem sido cancelados com a declaração do estado de
emergência em Portugal, despede-se das engrenagens frenéticas e das luzes da
fábrica, que tanta febre lhe causavam (oxalá não tivesse coronavírus na altura,
sabendo nós da sua viagem ao Oriente). Unívoca
é, contudo, a decisão entre a sua vontade e a evolução do vírus de, desta vez,
assentar definitivamente em Lisboa.Rancoroso
por quase não existirem táxis no aeroporto, dizimados pela concorrência, o
criador de versos avança para o Uber mais próximo. «Aonde o devo levar?» foram as primeiras palavras do condutor, às
quais o homem do monóculo respondeu educadamente, «Ao hotel Príncipe, por favor,
se este ainda aceitar hóspedes em tão má altura.»
Sabia o caminho na palma da sua mão, de todas as vezes que
voltava esporadicamente a Lisboa, sempre para o mesmo hotel (principalmente
pelo preço que, agora desempregado, importava mais que nunca), mas, o que se
apresentava do outro lado do vidro da janela em nada se assemelhava às suas
memórias. Avançavam por entre a
Avenida da República, mais especificamente, passavam o Externato Infante D.
Pedro, de onde, certamente, se ouviriam as gargalhadas despreocupadas da
infância, se outros tempos fossem, e, sem conseguir conter a nostalgia, o poeta
recordava os seus tempos do liceu, que fizera em Lisboa. Na rua, não se avistava vivalma. Teriam, de momento, já passado a Farmácia das Avenidas, que montava
um cenário tenebroso, com os clientes no exterior, protegidos com máscaras e
afastados uns dos outros, por segurança. O
percurso havia continuado e o olhar abatido do poeta tentava agora escrutinar o
que julgava ser, até então, impossível: a pastelaria Versailles encerrada, o
que, bem pensando, seria um infortúnio que o privaria de umas gulodices durante
a sua estadia. Sentia já saudades da
típica exaltação da vida moderna, que sabia tão bem cantar.
Centrado no banco corrido de trás, Álvaro de Campos sabia que
estavam quase. As tecnologias na
parte da frente do automóvel marcavam “Avenida Duque de Ávila”, a rua onde
ficava o destino. Devia ser por dele
se aproximarem que o chauffeur fez baixar os
valores do velocímetro; quereria de tão fiel passageiro arrancar mais uns
troquinhos? «E, meu senhor, chegámos
ao hotel Príncipe.» foi a indireta que obrigou o poeta a despegar-se de seis
euros. Ter sido modernizado o hotel
desde a sua última estadia era evidente aos olhos de Campos, já fora do
veículo. Esperava apenas, ao entrar
na receção, que estivesse vago um dos quartos com vista para a ponte 25 de
abril.
Leonor (12.º 5.ª)
O Ano da Morte
de Álvaro de Campos
Lisboa
apareceu-lhe, de repente, ao longe, por detrás da ponte. Estava já a
ficar cansado da viagem, ou melhor, mais cansado do que habitualmente se
sentia, pois nessa fase da vida andava sempre cansado com “um supremíssimo
cansaço/ íssimo, íssimo, íssimo/Cansaço (…)”. Oh! Que bela visão, a
desta cidade, cada vez mais bela e cosmopolita! Na verdade, não tinha
grande esperança de, em Lisboa, se sentir melhor, de recuperar do pessimismo,
que, ultimamente o atormentava e que o levara a deixar Tavira, a sua cidade
natal, mas, mesmo assim, tinha tomado a resolução de mudar de ares e regressar
à agitação da capital. “Ora bem,
senhor engenheiro, estamos quase a chegar!” disse-lhe, de repente, o motorista
do táxi, que, poucas palavras pronunciara, ao longo da viagem. Raramente
tinha sentido o alívio de chegar a um lugar, como o que estava a viver, naquele
momento: voltava novamente para junto do progresso e das máquinas, que tanto o
fascinavam!
Vagamente, à
passagem do táxi pelas ruas, foi notando que a cidade não estava como o normal,
não era habitual as ruas estarem tão desertas... não se via ninguém. Aquela
não era a sua Lisboa, a que ele conhecia e que esperava encontrar.
Lentamente, apercebeu-se do que se estava a passar e recordou-se de que tinha
sido declarado estado de emergência, por conta do surto do novo vírus, o
Coronavírus. Estranho não deixava de ser aquele ambiente que se vivia
naquele momento: apenas passara por duas ou três pessoas em duas ou três ruas
e, é claro, que sentia aquela ansiedade que, pressentia, todos sentiam também.
Olhar para esta
cidade vazia de movimento, pessoas, alegria, descobertas, conflitos era-lhe
muito doloroso, pois via-a sempre como símbolo do futuro, onde as fábricas e as
suas máquinas existiriam para sempre. Longe, e para trás, ficava já o
rio, onde, apercebia-se disso naquele momento, não tinha visto o constante
vaivém habitual dos barcos. Inimaginável aquela situação e aquele
isolamento. “Valeria a pena viver só, sem o apoio da família e dos
amigos?” eram as dúvidas de Álvaro de Campos. Em sofrimento, pensou nos
seus amigos, em especial Alberto Caeiro, que tanta falta lhe faria nos próximos
tempos de medo e revolta. Ir rapidamente para o seu quarto de hotel
pareceu-lhe a melhor solução. Repor a movimentação, a vida que Lisboa
tinha anteriormente pareceu-lhe impossível! “A fúria minuciosa e dos
átomos/ A fúria de todas as chamas, a raiva de todos os ventos/ A espuma
furiosa de todos os rios que se precipitam”, eram os versos que melhor
mostravam como se sentia, quando o táxi parou em frente do Hotel Bragança.
Mafalda (12.º 3.ª)
O
Ano da Morte de Álvaro de Campos
«Mais rápido, por favor»,
pensou ele, quando o Uber seguia em frente à estação do Cais do Sodré. Sabia
que, por aquele andar, perderia o sol. Antes
de chegar ao destino, ficou fascinado com a maravilha que o circundava: aquele
azul da água, aquela ponte tão alta, que só os pássaros conseguiam tocar — mas
e aquelas ruas sem ninguém? Faltavam-lhe
as razões pelas quais as ruas estariam vazias - seria do frio ou do calor? Assim que saiu do carro, viu que estava
tudo fechado, não estava ninguém na rua e isso tirava um pouco o encanto
daquele lugar. Lentamente, desceu
até à Ribeira das Naus, onde parou durante uns longos cinco minutos, refletindo
sobre toda a força, energia, movimento e, até mesmo, o ruído que caracterizava
aquele rio. Destemida, a água nunca
parava, independentemente do que surgisse; como os turistas, que costumavam
andar por estas ruas, aqueles que fazem esta cidade brilhar ainda mais. Ao olhar para o relógio, conclui que
era melhor deixar esta reflexão para depois porque ainda queria chegar a casa
antes do pôr do sol.
Balançando-se
ao sabor do vento, Álvaro seguiu até à Praça do Comércio, onde, finalmente,
percebeu a razão pela qual Lisboa estava a ser recheada por aquele vazio. O cartaz, num dos lados do muro da
estátua que centra aquela praça, explicava a situação — «Um vírus que conseguiu
dominar as excentricidades de tanta gente» — leu em voz alta. Num simples pensamento entendeu tudo o
que se passava: assistia ao momento em que os lisbonenses iriam dar valor às
coisas que realmente merecem. «Antes
deste vírus, ocupavam-se com coisas que não valiam a pena» — pensava enquanto
subia a Rua Augusta — «Agora sentem falta dos amigos, das suas antigas
rotinas». Contava os passos como se
quisesse provar algo, como se gritasse dentro de si uma vontade de sentir tudo,
de todas as maneiras possíveis. Hoje
é o dia da mudança para Álvaro de Campos e ele sabia, pois chegara ao sítio que
o faria escrever mais. Optou por não
pensar muito nisso para não criar expectativas de como seria o resto da sua
vida na cidade que tanto lhe dizia.
Assim que subiu
a Rua Augusta, deparou-se com a beleza da Praça Dom Pedro IV e conseguiu
imaginar como seria se estivesse cheia de pessoas, de gente de todo o tipo,
forma, caráter. «Não trocava estes
prédios, as ruas, os carros, toda esta dinâmica citadina por nada deste mundo!»
— gritou bem alto com a esperança de que algo superior o estivesse a ouvir. Ainda pasmado com o encanto de Lisboa,
obrigou-se a atravessar a praça até ao Teatro D. Maria II onde fechou os olhos.
Imaginou a onda de solidariedade que
iria atravessar cada um de nós depois desta pandemia, de como o mundo iria
mudar. Abriu a porta do seu prédio
com a certeza de que aquela cidade o iria inspirar a crescer e a escrever mais
e melhor, a respirar e a verdadeiramente viver.
Mafalda (12.º 4.ª)
O Ano da Morte
de Álvaro de Campos
Momentaneamente, o ambiente está silencioso, algo invulgar, mas que o
horário facilmente justifica: são um quarto para as três da manhã. A atenção
dos presentes está nas malas que andam sobre o tapete rolante. Felizes e
entusiasmados com a chegada a um lugar novo aguardam uns enquanto noutros se
consegue ver a tristeza ou a expectativa do conforto de chegar a casa. As
expressões e os gestos da multidão funcionam como peças, encaixadas para
construir histórias na imaginação do homem alto e elegante que parece ser o
único que observa. Lisboa é a cidade que os aguarda, é a cidade da saudosa
juventude deste homem e o motivo de este ser o mais difícil de decifrar, se,
para além dele, alguém nisso estivesse interessado. De facto, com saudades do
país natal, não sabe o que esperar do regresso: as suas emoções misturam-se
como tintas numa cor indefinida. A mala castanha por que esperava é prontamente
içada quando se aproxima, seguindo com ela o observador para a porta de desembarque.
«Só um segundo, por favor,» é a resposta que dá à pergunta óbvia do
taxista enquanto desdobra um pequeno papel. «Avenida 5 de outubro, nº 345» lê.
Não parece ao motorista que o cliente não soubesse a morada, mas agradece a
confirmação que evita voltas desnecessárias. Tendo na lembrança mais imagens da
cidade do que nomes, pouco dizem ao passageiro os que vê quando desvia o olhar
das ruas para o GPS e só se sabe perto do destino quando vê a imponente estátua
que foi construída em honra dos heróis da guerra peninsular, algo que não sabe,
apesar de dela se lembrar. Observa a cidade escurecida, que o fascina com as
mudanças que poderá esconder nas sombras. Sente a vida dentro das janelas
iluminadas, são pessoas ainda ou já acordadas, por trabalharem por turnos
talvez, ou por serem escritores com hábitos noturnos, quem sabe.
«Chegámos» informa o motorista, hábito que certamente ganhara nas
viagens noturnas, não fosse o passageiro sonolento não dar conta de que o carro
estacionara. O caso não é esse, o passageiro já observa com interesse o prédio
cor-de-rosa. Retira o dinheiro da carteira e paga ao taxista que se permite
sorrir quando a porta do carro é fechada: simpática a quantia paga. Toca à
campainha do terceiro direito com um certo nervosismo devido à hora, mas a
porta abre-se após alguns segundos. «Entre, entre, Sr. Campos, que já é tarde»
diz a voz simpática e preocupada que imediatamente o acolhe. Resolvera-se por
este apartamento essencialmente pela proprietária, que lhe fizera sentir que
iria encontrar o mais próximo possível de um lar. «Eu peço-lhe imensa desculpa,
o voo atrasou» é a primeira coisa que diz à sorridente senhora de idade que o
espera de porta aberta. «Assim, ainda dei uns últimos retoques, espero que a
escrivaninha, em especial, esteja do seu agrado» (descobrira que o hóspede é
poeta e está encantada). Lembra-lhe a infância o conforto que sente quando
entra.
Margarida
P. (12.º 9.ª)
O
Ano da Morte de Alberto Caeiro
Muito tempo passou Alberto Caeiro enfiado num comboio, estava cansado. A
única alegria que tinha era ter já um quarto preparado à sua espera.
Rapidamente se deslocou até ao metro de Santa Apolónia para seguir até à
Baixa-Chiado. Genuíno e tão simples, o viajante acabado de chegar vai observando
as pessoas que passam por ele. Acha estranho o elevado número de indivíduos com
uma máscara médica a cobrir a boca, nariz e olhos, mas não se questiona muito
mais sobre o assunto. Rapazes e raparigas deixam um espaço de cerca de dois
metros entre uns e outros enquanto esperam pela chegada do metro, que, pelo
placar pendurado no teto, não demorará muito. Imagina como estará o quarto que
a D. Fernanda lhe guardou, carinhosamente, para ele passar as próximas
temporadas. Deu por si a lembrar-se dos raros fins de semana em que vinha
visitar a capital e o quanto se divertia com aquela velhinha simpática que
cozinhava bolos de canela que cheiravam a céu. Após três minutos, parou uma
carruagem mesmo à sua frente, entrou e sentou-se (ninguém mostrou interesse em
aproximar-se daquele estranho sem proteção higiénica).
Muito barulho preenche aquele transporte, que traz consigo um intenso
cheiro a álcool e a desinfetante; muito sérias as caras que rodeiam Alberto
Caeiro; muita escuridão neste túnel sem fim. Entretanto, para no Terreiro do
Paço, onde entra uma multidão de trabalhadores, claramente cansados, suados e a
adormecer contra as paredes de vidro do metro. Louco por poder, também ele,
esticar as pernas, fica contente por chegar à sua paragem de destino. Orgulhoso
por se lembrar das ruas que deve seguir, sai do metro e depara-se com uma
cidade vazia, em que apenas se vê Fernando Pessoa, sentado em frente a uma
Brasileira fechada, triste por já não ser alvo turístico de selfies.
Passa o Largo
de Camões e segue sempre em frente até chegar à Rua da Rosa, mas pelo caminho
vai olhando para as montras de inúmeras lojas vazias (só a Padaria Portuguesa
está em funcionamento e o cheirinho a pão quente aquece-lhe a alma). Entra na rua
do apartamento que o espera, o número da porta é o oitenta e um pelo que ainda
lhe restam alguns passos. Restringido sempre ao campo, seria de esperar que
Alberto Caeiro fosse homem de pouca bagagem e, fiel à sua descrição, carrega
apenas uma mala grande e uma pequena mochila que consegue, facilmente,
transportar sozinho. Encontra o oitenta e um e toca à porta, ao que responde
uma doce voz feminina, que reconhece imediatamente. Insistente, o cheiro a
álcool continua a ser foco de atenção de Caeiro e, quando lhe abrem a porta de
casa, a D. Fernanda também usa uma máscara daquelas dos médicos. Repreende-o
assim que o vê por não usar qualquer tipo de proteção contra a pandemia que
anda a dar cabo da vida das populações. Absorve toda a informação dada pela
velhinha e, com facilidade, apercebe-se de que a situação é grave e lavar as
mãos torna-se na sua principal preocupação imediata.
Margarida
V. (12.º 9.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
Mergulhado no
seu entusiamo, o homem de cabelo grisalho (que, pelo tom claro, deduzimos ter
sido outrora loiro) salta da camioneta depois de uma viagem de cinco horas. A
t-shirt branca, com um qualquer logotipo de uma qualquer marca, contribui para
o ar jovem deste homem que, afinal, tem sessenta e cinco anos. Rápido e ágil,
açambarca com um só braço a pesada mala azul escura. Grande sorte a sua foi ter
avistado um táxi ao longe e, com um vigor singular para a sua idade, correu a
tempo de o apanhar. Assim que se sentou, apercebeu-se de que não sabia para
onde queria ir. Riu-se para dentro da sua situação insólita. Ir do Douro a
Lisboa, sujeitando-se a uma viagem longa como aquela, sem saber o que viria
fazer em concreto à capital, não era incomum para este homem, mas decerto o
seria para outro qualquer. Desde sempre que não se preocupava com o dia de
amanhã. Amanhã conformar-se-ia com o que acontecesse, hoje desejava, num
impulso repentino, ir “Até Belém, se faz favor”.
Lentamente, uma
brisa que entrava pela ínfima brecha da janela clareava os pensamentos de
Alberto Caeiro. Em êxtase, saboreava a arquitetura verde do Parque Eduardo VII,
que, graças ao trânsito das horas mais concorridas da cidade, podia analisar
com mais calma. Marejados de uma alegria serena, os olhos claros deste homem
saudoso dos imensos vales do Douro, iluminavam-se com os pequenos perímetros
verdejantes que a cidade de Lisboa permitia. Onde iria dormir não o sabia, onde
jantaria também não, nem da razão de se encontrar ali tinha conhecimento, mas
tinha a certeza da pureza daquele momento, em que, embalado pelo balançar do
carro, revia, quase como que pela primeira vez, a cidade onde nascera, e onde,
por ironia da vida, viria a morrer. Suspirou preguiçosamente agora que se
aproximava do seu destino, “Saio no jardim botânico, se não for incómodo”, “Não
é incómodo nenhum, é já depois desta rua”, respondeu o taxista envelhecido.
Vacilaram,
diante de um banco do jardim, as pernas cansadas de deambular pela natureza
tropical que encontrou em plena cidade europeia: o cheiro a verde, o ar denso e
inebriante, as árvores altas e corpulentas que protegem aquele lugar emocionavam
o velho poeta. Imaginou-se estendido nas ervas, apenas a respirar, a ouvir o
canto das aves e o correr do rio, sem nenhum pensamento obsoleto, sem nenhuma
preocupação, como a questão da sua estadia. Lembrou-se, subitamente, que a sua
neta o ensinara a reservar um airbnb
na internet e, por sorte, como quase tudo o que lhe sucedia, encontrou um apartamento
disponível em Belém. Amparado pela imagem da cama confortável que o esperava
após este longo dia de viagem, navegou serenamente pela calçada de Belém, que
escurecia agora que o sol se deitava. Numa questão de minutos, cumprimentou o
dono do airbnb, pousou as suas coisas
na cama, tomou banho, descansou um pouco no sofá, sentou-se à mesa de jantar, e
escreveu.
Marta (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Álvaro de Campos
Monocromático, o céu que nessa
manhã entristece Lisboa, torna-lhe vagarosa a saída do aeroporto, em que uma
multidão exaltada se confunde com o r-r-r-r-r-r dos veículos que deixam de si
apenas um relance rápido. Agonia-o os corpos deambulantes, o cheiro vivo da
névoa escura que deixam os que se afastam a grande velocidade. “Rua dos
Soeiros, por favor” indica o homem alto e elegante ao rapaz franzino, que, com um desses aparelhos luminosos a
entreter-lhe a visão, o encara, demorando-se com descaramento no monóculo que
usa o passageiro. Tira do bolso um cigarro, e, acendendo-o, contempla uma
Lisboa que passa fugaz diante de si. “Ai ai”, exaltado, o condutor pede-lhe que
não fume na viatura.
Demora-se um pouco
mais, o cheiro venoso entranhando-se no cabelo bem penteado, de risco ao lado,
chegando-lhe os ruídos
das buzinas nas vias entupidas por outros, que, como ele, se cingem a uma
janela pequena que tão pouco de Lisboa os deixa observar. “Oh, que maçada”,
suspira ao apagar o cigarro e olha o ecrã intermitente em que o tempo vai
passando e com ele cresce o cansaço. Muda de estação, o rapaz franzino, as
canções inglesas trazendo-lhe uma lembrança instantânea da frieza das ruas
londrinas. Inspira profundamente na tentativa de regressar ao presente. Não
sabe ainda para onde vai, espera uma rua agitada de calçada irregular, uma tabacaria
do lado oposto ao quarto em que irá dormir. Grandes cartazes decoram fechadas
de prédios, palavras que lhe ficam gravadas na cabeça e lhe dão vontade de mais
tarde se debruçar sobre elas. Uber Eats, uma imagem de uma refeição de cores
vivas que lhe faz sentir apetite, lembrando-se de que há muito que o corpo reclamava
alimento. Esquecera-se que trazia no bolso um chocolate que lhe havia deixado a
jovem elegante, de farda engomada e cara pintada, que o acompanhara no avião.
“Senhor, estamos quase a chegar”.
Corre-lhe no sangue um
frenesim intenso de voltar a sentir na face a aragem lisboeta, a tontura das lâmpadas que distorcem as
noites. Ali, numa rua sempre a subir, vê beijos obscenos e demorados, não há
sinal de criadas, há pessoas que passam e não dão por nada. Reduz-se a
velocidade que o fazia encostar-se ao assento. Respeita o valor que surge no
ecrã luminoso e deixa-lhe na palma da mão uma nota amarrotada. Imagina qual das
janelas será a sua futura casa, tira do bolso o papel onde escrevera o número
da porta. Lá fora, vê a estranha ousadia do vestuário, as esplanadas vazias,
sem quem escreva na névoa do fumo. Hora de subir à casa em que morava a sua
tia, já falecida, de lembrar como aquela e outras enchiam a mesa posta no seu
dia de aniversário. “Obrigado”, leva a pouca bagagem em direção à porta
principal, sentindo-se extremamente cansado, pensando que nesta Lisboa
revisitada serão muitas mais as noites que passa acordado.
Pedro (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Álvaro de Campos
Prostrado diante da via férrea da Estação Ferroviária de
Benfica, Álvaro de Campos admirava a complexidade do engenho mecânico, portento
de força e aceleração, máquina de movimentos pujantes, calibrados na perfeição.
Enquanto caminhava em direção ao
táxi, estranhou o débil fluxo de viajantes, tão distinto da convergência
desmedida que a memória ressuscitara. «Destino?»,
a entoação seca, impaciente, imposta em tão breve palavra, quebrou abruptamente
a rede de recordações do tripulante alto e magro, transportado para os tempos
de infância em que brincava com o grupo de amigos na estrada, livre de
entraves. Respondeu com hesitação,
não por ignorar o que dizer, mas porque o invadira uma náusea intensa, daquelas
que corrompem o espírito e subtraem a vontade. O veículo avançava energicamente pela Estrada de Benfica, remédio
para a indisposição do poeta, que abrira a janela e apreciava a brisa
inebriante, cabelos negros espalhados no ar, tal como lhe acontecia quando
corria com desvario pelas praias de Tavira, engasgando-se no próprio riso.
Prédios e montras remetiam-no para as ruas de Glasgow, que,
por momentos, sobrepuseram-se à imagem da freguesia lisboeta, criando um
cenário em que duas realidades se fundiam subtilmente numa variedade de
perfumes, tons e movimentos. Interrompido
por um solavanco, despertou do sonho para colidir com o deserto urbano, de novo
a carência populacional, a tristeza e solidão reinando na decadência. «Não se vê vivalma», comentou, e o
motorista afirmou que era consequência da pandemia que assolara o mundo, as pessoas
escondiam-se em casa, receosas, duvidavam de que o tormento cessara em
definitivo. Tateou o bolso do
casaco, à procura de um lenço para limpar a lente do monóculo, e analisou a
paisagem: nas pastelarias não se viam os velhos sorridentes, entretidos a
conversar, de chávena ou carta de jogo na mão; nas lojas não se encontravam as
mulheres curiosas, admirando os vestidos que desejariam comprar; nos parques
não corriam as crianças de joelhos manchados, incansáveis, perseguindo uma
bola. O carro parou, em consonância
com a dinâmica citadina, e o passageiro saiu, profundamente revoltado,
inconformado com a irreversibilidade do tempo, ou com a sua recusa em
prosseguir.
A tentativa de se abstrair de todos os pensamentos e imergir
nas sensações envolventes foi sabotada pela depressão e angústia que lhe
provocavam, uma entidade devastadora havia aproveitado a sua intangibilidade
para fragmentar uma nação, engoli-la no esquecimento da felicidade prática e
infantil. Levantou o pulso e olhou
para o relógio, dezoito horas em ponto, o tempo não estagnara, mas o sino da
igreja de Benfica não soava, a engrenagem desistira. A distância até à
residência do colega que o iria acolher não era grande, mas o trajeto foi
penoso, Campos estava cansado. Antes
de atravessar a porta, ouviu um ruído elevado, imponente, reconheceu-o, um Airbus a caminho de terras britânicas, e
sorriu ironicamente. O quarto exíguo
não lhe agradava, mas deitou-se na cama com alívio, furioso, refletindo no
adormecimento da vida, no caos silencioso em que a humanidade caíra e na sua
insignificância no meio de tudo aquilo.
Rodrigo (12.º 4.ª)
O Ano da Morte de Álvaro de Campos
Já procurava por um táxi há mais de dez minutos
quando vislumbrou o pequeno veículo amarelo no centro da Rua da Prata,
brilhando na noite escura e levando esperança ao coração dos viajantes. O
motorista abriu-lhe as portas, um convite a um mundo de estofos escuros e
macios impregnados com o cheiro bafiento da humidade, que se viu
impossibilitado a recusar, à medida que o vento frio lhe castigava e roupa e
lhe arrefecia os ossos cansados. Álvaro de Campos observou as suas malas
a serem enfiadas abruptamente na pequena bagageira, curvando-se para conseguir
entrar e sentar-se no banco, tossindo com força quase de imediato. O
cheiro era mais forte do que pensara, invadindo-lhe as narinas e embaciando-lhe
a mente, agredindo-o com uma ligeira tontura que o deixou desconfortável, quase
arrependido da decisão de apanhar um táxi.
Respirou fundo, contemplando pela janela a rua que
se estendia para o infinito nas duas direções, impressionantemente
gigantesca. O motorista perguntou-lhe para onde queria ir, e abriu
a boca para falar, pensando na melhor forma de explicar o que queria. Disse-lhe,
por fim, que o levasse até à Igreja de São Roque, e o táxi arrancou poucos
segundos depois. Reparou no tremor do carro, sentiu o choque das
engrenagens e o poder da mecânica do motor, sendo incapaz de conter um sorriso
perante o engenho humano a que o mundo se habituara. Ia já percorrendo a
Rua da Alfândega, vendo a multidão que enchia a Praça do Comércio, gritando e
chocando entre si num alvoroço ofuscado pela escuridão do céu. Gostou de
ver a mistura de pessoas e de escutar o barulho das vozes sobrepostas,
sentindo-se subitamente seguro e confortável no isolamento que o táxi lhe
proporcionava. O centro de Lisboa passava rápido, imparável, acelerando
o coração do poeta.
Fechou os olhos por algum tempo, não soube quanto,
e, quando os abriu, reparou que já tinham feito a Rua do Arsenal e estavam a
meio da Rua do Alecrim. Espantado, indagou acerca da duração do seu
breve descanso, surpreendido pela aparente velocidade do tráfego rodoviário. Recordou
as últimas viagens que fizera a Lisboa, uma Lisboa tão diferente daquela que se
lhe desenrolava à frente, quase desconhecida. Reviu mentalmente o
percurso, apercebendo-se de que já estavam na Rua da Misericórdia, seguindo-se
a Rua de São Pedro de Alcântara, onde o táxi começou a abrandar. Estacionou
junto à igreja, virando-se o motorista para trás de mão estendida, esperando o
merecido pagamento. Inevitavelmente, após entregar ao condutor uma nota,
Álvaro de Campos enfrentou uma vez mais o frio noturno. Reteve o olhar
no táxi que se afastava, vendo-o dar a curva em direção ao Bairro Alto,
dirigindo-se finalmente para a casa que alugara dias antes em frente ao
edifício que lhe servira de sinalização ao taxista. Após três lanços
íngremes de escadas, chegou ao apartamento, atirando as malas ao chão e
estendendo-se na cama, esperando ser levado pelo sono.
Sofia (12.º 3.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
Seguia com firmeza o seu instinto apesar de nunca ter pisado
estas ruas, ia por onde a luz lhe era mais agradável à vista e o som mais
melodioso aos ouvidos, onde os navios deixavam de se ver e os elétricos de se
ouvir. Ouvidos de tísico faziam-no
ouvir demasiado o ruído da cidade, para além de não estar habituado a estes
sons e pretender estimar a sua audição, conseguia prever de longe quais as ruas
mais agitadas. Ficara sempre pela
quinta no Ribatejo, mas, agora que estava em Lisboa, pretendia desfrutar dos
cheiros das ruas, das cores dos edifícios ricos do ponto de vista arquitetónico
que agora inundavam a cidade e da brisa que subia do Tejo até à Ajuda. Ia em paços largos, desfrutando as
novas sensações que descobria e que o invadiam agora como outrora o invadira o
ar do campo. As suas poupanças
permitiam-lhe apenas ficar no Lisboa Camping & Bungalows, mas não seria
algo que o incomodasse muito.
Subia até ao Alto da Ajuda enchendo bem os seus frágeis
pulmões que não escaparam da tuberculose no século XX e que agora também
estavam em perigo pela exposição ao novo vírus do século XXI, COVID-19. O seu olhar saltitava ora para gatos,
que trepavam os muros de casas abandonadas, ora para dóceis senhoras, que,
empoleiradas à janela, olhavam as ruas vazias com a alma ainda mais vazia e
amedrontada. Usufruía destas
imagens, não para refletir sobre elas, mas para apreciar a sua verdadeira
essência, a de serem e estarem ali diante dele. Soube desde logo que não seria um vírus moderno que o iria impedir
de conhecer a capital e continuava a subir em direção ao Parque Florestal de
Monsanto, onde ficaria hospedado. Atravessava
o Jardim Botânico da Ajuda com o olhar desconcentrado de quem olha para algo
tão familiar que já não lhe oferece qualquer estímulo.
As avenidas eram agora únicas e com vistas deslumbrantes para
o rio. Lisboa, vista dos miradouros
por onde passava, Montes Carlos e Moinho do Penedo, era ainda mais bonita do
que Caeiro imaginara enquanto ouvia a sua tia-avó queixar-se dos campos do
Ribatejo. Via já o parque de
campismo e ficou feliz por ouvir suavemente os pássaros cantarem e saber que
acordaria assim todas as manhãs nos dias seguintes. Entrou finalmente na receção e de imediato apareceu um homem
equipado com luvas e máscara e um ar preocupado. “Senhor, desculpe mas não pode estar aqui, estamos fechados por medida
de prevenção”.
Teresa (12.º 3.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
Mal saiu para o exterior da estação de comboios do Oriente, o
sol encandeou-lhe os olhos. Alberto
Caeiro era um homem do campo, muito habituado ao ar livre, mas sempre tivera
esta sensibilidade ao brilho extremo que o cegava momentaneamente. Reparou que, apesar da luz, as ruas da
cidade eram ainda mais cinzentas e mais tristes do que imaginara. Ir para o Restelo seria um desafio. Andar de carro estava fora de questão
(tinha uma aversão a esses veículos barulhentos, suscitadores de claustrofobia
e desprovidos de alma que as pessoas teimavam em usar mesmo quando não
precisavam), a pé demoraria demasiado tempo, e preferia não ter de andar mais
de comboio, pelo que a única solução seria apanhar o autocarro que, apesar de
tudo, sempre tinha mais pessoas, mais espaço e mais ar para respirar.
Tentou perguntar a alguém qual seria o melhor autocarro a
apanhar, mas, apesar de a rua estar cheia de pessoas que passavam para todos os
lados, vindas não se sabe de onde, todas pareciam estar demasiado ocupadas, ou
apressadas, para poderem dispensar um momento para ajudar um pobre viajante
perdido. Era a primeira vez de
Caeiro numa grande cidade e a experiência, até ao momento, não estava a ser
nada positiva. Riu-se com a
perspetiva de ficar de pé, parado, durante dias, até chegar a altura de
regressar a casa, apenas porque ninguém era capaz de lhe dar umas simples
indicações. Entrou no primeiro
autocarro que viu, sem sequer olhar para o número que ostentava na fronte, e
confirmou com o motorista que sim, passava no Restelo e sim, podia sentar-se
onde quisesse, exceto nos lugares prioritários que estavam devidamente
assinalados. Sentou-se, e sentiu de
imediato um forte odor a tabaco, oriundo de um velhote de bigode branco sentado
à sua frente, e a senhora que se encontrava ao seu lado, de pé, emanava um
agradável e familiar aroma a flores silvestres. Atrás de si, duas jovens tagarelavam sobre uma nova epidemia que
parecia estar a assombrar uma cidade chinesa de que Alberto Caeiro nunca ouvira
falar.
Meio a dormir, encostou a cabeça na janela e foi vendo a
cidade pachorrenta a passar por si. As
pessoas mudavam progressivamente de aspeto: os executivos de fato e gravata
davam lugar a estrangeiros escaldados pelo sol e máquinas fotográficas ao
pescoço, que depois eram substituídos por mães que levavam os filhos pelas mãos
e velhinhas que carregavam sacos de compras. Rapidamente despertou do seu transe. Quando o autocarro abriu as portas numa paragem que dizia
“Restelo”, Alberto Caeiro percebeu que estava na altura sair e voltar para a
rua, movimentada e barulhenta. Um pouco
apreensivo, com medo de se perder, foi percorrendo as ruas, seguindo as
indicações que lhe tinham sido dadas. Entrou,
finalmente, na grande vivenda cor de laranja de janelas verdes que já tantas
vezes vira em fotografias. Saudou
entusiasticamente a velha tia com um abraço, enquanto da cozinha saía um
convidativo cheiro a bolachas acabadas de fazer.
Tita (12.º 3.ª)
O Ano da Morte de Alberto Caeiro
— Maldito
vírus. Andaram a cortar estradas para evitar a circulação em demasia, daí eu
estar a dar estas voltas maiores, perdoe-me se tiver pressa. – Resmungou o
taxista entredentes, num tom quase automático e impessoal. Garantia que “toda
esta história da pandemia” era um esquema do governo para destruir a economia
de algumas indústrias, mantendo a população sob controlo, à semelhança de uma
ditadura – perdia-se em teorias de conspiração enquanto Alberto, no assento ao
lado, ouvia pouco atentamente. Admirava as ruas estreitas, os prédios pouco
modernos, os pequenos negócios que preenchiam aquela zona que já parecia ser
próxima do seu destino final, Benfica. Reconhecia pouco — afinal, vivera em
Lisboa meia dúzia de anos durante a sua infância, antes de se ter mudado para
casa da tia. Iluminados pela luz ténue dos candeeiros de rua, os becos inundados
de pó acumulado pareciam-lhe familiares, embora demasiado desertos (até mesmo
para o que é de esperar daquela zona fronteiriça da capital). Tal era o
silêncio que invadia as ruas, que parecia entrar pela janela do carro,
roubando-lhe o oxigénio e esmagando-lhe a pele contra os ossos. A conversa
disparatada do motorista estava-lhe já distante e parecia incongruente com o
vazio que preenchia a cidade.
Pouco depois,
chegavam à Avenida Gomes Pereira. Sem proferir uma única palavra, o taxista
encostou o carro à berma e saiu, tratando de tirar a pequena mala do porta-bagagens
enquanto o passageiro contava, lentamente, as moedas que encontrara no bolso.
Honesto como era, entregou a quantia certa, acompanhada de um atrapalhado pedido
de desculpas pela falta de gorjeta. Esticou as pernas para fora do veículo,
parando um pouco antes de sair para se espreguiçar – tinha sido uma viagem
bastante demorada da estação de comboios de Sete Rios até ali. Não que tivesse
sido entediante, muito pelo contrário. Ignorando os indícios deprimentes do
surto, ocupara-se a observar os prédios por que passaram e as estradas a que
não estava habituado. Caeiro saiu do carro, pegou na mala (que o taxista, entretanto,
lhe estendeu, respeitando as precauções indicadas pela DGS ao manter a
distância recomendada) e procurou com o olhar a porta do prédio onde ficaria
hospedado. Hotéis estavam fora do seu alcance financeiro, por isso, e não tendo
uma residência própria onde ficar nos meses em que estaria em Lisboa, escolhera
alugar um quarto humilde em casa de uma senhora de idade, que lho
disponibilizara em troca de ajuda nas compras de supermercado. Não demorou a
encontrar – o número 7 era bem visível por cima da porta de entrada. A rua
parecia-lhe tranquila. Instantaneamente, sentiu-se em casa. Ainda nem tinha
entrado no prédio e sentia já os músculos a relaxar.
Tocou à
campainha. Imponente, séria, a anfitriã abriu a porta. Tremendo ligeiramente a
mão, gesticulou, para que entrasse, com a autoridade sólida de uma pessoa que
já conhece o mundo. Alberto sorriu e apressou-se a entrar.
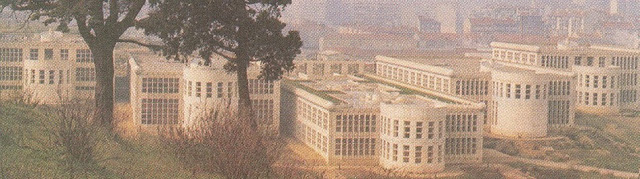 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
<< Home