Manuel João Ramos
Manuel João
Ramos escreve textos de antropologia, crónicas antropológicas e de viagem,
crónicas sobre assuntos variados (sobre universidade, segurança rodoviária).
Tem também algumas obras em co-autoria com Rui Zink (em geral, enquanto desenhador).
Manuel João Ramos escreveu este
belo texto sobre o seu pai, o ator Jacinto Ramos, publicado na revista Única (suplemento do Expresso), a 27 de março de 2010:
Breve elogio a um homem zangado
PARECE-ME QUE tudo
começou no tempo em que Carlos Avilez era director do Teatro Nacional D. Maria II. O meu pai queria dirigir e interpretar uma peça de Thomas Bernhardt (O Fazedor de Teatro). O então director do
TNDM, provavelmente suspeitando que os lapsos de memória eram indícios de uma arteriosclerose,
escondeu-lhe que não tinha qualquer intenção de programar a peça, deixando-o a
preparar, solitário, uma peça que nunca iria subir ao palco. Durante anos, o
meu pai atarefou-se a montar uma peça e a decorar um monólogo exigente,
aguardando em vão a sua inclusão na programação do teatro. Quando finalmente
percebeu o logro, perdeu o respeito pela Humanidade.
O meu pai era um fazedor
de teatro, assim como o teatro acabou por se tornar o fazedor do meu pai.
Excluído involuntariamente do contacto diário com o público e com o seu mundo,
impedido de pisar as tábuas do palco, tornou-se progressivamente mais ácido,
mais distante e, paradoxalmente, mais lúcido. E, quando o diagnóstico de doença
finalmente chegou, já lhe tinha sido negado pelos Carlos Avilezes deste mundo o
melhor meio, senão de cura, pelo menos de paliação: a possibilidade de
reconhecimento social do seu património de trabalho em prol do teatro
português.
A arteriosclerose é uma
condição ingrata para quem dela sofre e para quem a acompanha. As perdas neuronais
que causa implicam um desnudamento do carácter de uma pessoa e uma aplanação
intelectual, emotiva e comportamental progressivas. O sistema nervoso cria
estratégias defensivas — como que um sistema de baluartes concêntricos — para
proteger um núcleo de funcionalidade intelectual, frequentes vezes sacrificando
as exigências de sociabilidade.
No caso do meu pai, e
até ao cair do pano final, o jogo da representação e do entrelaçamento entre o
actor e as suas máscaras, que ele praticou profissionalmente durante mais de
meio século, foram o seu meio de defesa contra a doença e, de certa forma,
contra um mundo exterior que o agredia e desconsiderava.
O fazedor de teatro
tomou conta do meu pai. E as personagens que tinha representado ao longo dos
anos — Poprichtchine no Diário de Um
Louco, George no Quem Tem Medo de
Virginia Wolf, Bernard Shaw no Adorável
Mentiroso, Weller no Gin Game...
— ressuscitaram então em defesa da sua alma revoltada face à pequenez e
ingratidão de um país que, na sua visão, estava muito mais esclerosado e
desmemoriado que ele. A sua morte foi um acto final de rebelião e irreverência.
A expressão patética de uma revolta contra o ostracismo a que foi votado por
quase todos e em particular por uma classe profissional mesquinha e agachada na
feira de vaidades da política e por um público que debandou das plateias para o
sofá das telenovelas.
Morreu sem se vergar a ninguém,
protegido por um génio irascível e sentenciador. Sem o consciencializar
necessariamente, não perdeu nunca controlo do bastião de integridade que muitos
dos seus colegas — hoje certamente mais lembrados que ele — deram de barato ao
poder e ao "povo imbecilizado e resignado" de que Guerra Junqueiro
falava em 1896.
Jacinto Ramos morreu a 4
de Novembro de 2004, com 87 anos.
De Traços de viagem
(Lisboa, Bertrand, 2009, pp. 67-68), o início do capítulo (crónica) sobre
«Londres. Union Café»:
Da pequena cidade de Plymouth
à grande aldeia de Londres o salto é rápido, se o comboio não descarrilar. São
trezentos quilómetros que valem uma viagem no tempo. De um momento para o
outro, desaparecem os quotidianos dolentes vividos na manta de retalhos das
tradições da velha Inglaterra, e esquecem-se as gaivotas que saboreiam a brisa
atlântica nos estaleiros do porto. De um momento para o outro, perdemo-nos no
epicentro do mundo, pusilânimes porque procuramos cá dentro as regras que
julgámos deixar lá fora.
Há vinte e alguns anos, Madeleine
deixou Plymouth e o pai bretão, e entrou de sorriso aberto no Goldsmiths'
College of Arts. Tornou-se fotógrafa punk, ocupou um quarto de uma casa de squaters em Brixton, e começou a fazer
estranhos lustres reutilizando utensílios de cozinha e copos de cristal velhos.
Trocou o sotaque da província pelo Saf Lond'n
eccent (South
London accent),
rejeitou os confortos burgueses da família, a alimentação carnívora e dedicou-se
à doce arte da reciclagem.
Duas décadas depois,
continua a viver numa casa ocupada, a fabricar chandeliers e a reciclar restos de moda punk e de práticas iogis. Mas os candeeiros são agora electrificados
de acordo com as normas da EU, as armações são encomendadas por medida e os
copos e chávenas são comprados novos. Vende a sua produção para os armazéns
Harrods e para os decoradores chiques de Sloane Square.
Madeleine, vegetariana,
holista, ecologista, feminista e punk, recebe hoje encomendas de todo o mundo
anglo-saxónico, desde que foi descoberta pela americana Harper's Magazine. Mas não perdeu o prazer de rir de tudo:
— I'm discovering the pleasures of capitalism. And I'm recycling its
evils.
O início de Histórias Etíopes. Diário de viagem (Lisboa, Assírio & Alvim,
200, p. 32):
Lisboa,
9 de Junho de 1999
«Então, conte-nos a sua
viagem à Etiópia. Encontrou lá o Preste João?»
À volta de uma mesa de
restaurante, uma pequena plateia espera ouvir um relato que eu não sei fazer.
Haverá alguém, de entre os que me olham, que deseje saber algo sobre Oromos,
Gurages ou Amharas, que se interesse por ícones ortodoxos ou que sonhe com longínquos
planaltos ondulantes? Suspeito que a sua curiosidade não é antropológica ou geográfica.
É, mais provavelmente, a curiosidade que provém de um imaginário histórico
onde pontificam feitos heróicos de portugueses na Abissínia, rotas comerciais e
geo-políticas no oceano indiano e no mar vermelho, e heranças monumentais,
culturais e linguísticas lusas.
Os meus interlocutores
assumem, implicitamente, que a Etiópia de onde acabo de regressar é ainda a
mesma Etiópia-a-Alta relatada pelos missionários jesuítas do século XVII. Nas
suas perguntas, pressinto a força das convicções que modelam o espírito
comemorativo do quinticentenário dos «Descobrimentos» e da «Expansão»
portuguesa. A sombra do imperador cristão «a quem nós chamamos Preste João»,
assim como o espírito mártir de Cristóvão da Gama, parecem projectar-se ainda
no imaginário português sobre aquele remoto país.
Gostava de poder dizer
que encontrei o Preste João na Etiópia, mas hoje como antigamente os etíopes
não fazem qualquer ideia de quem possa ser tal personagem. Será que eu e as
pessoas com quem falo o sabemos?
Um parêntese para lhes lembrar a tarefa
de escrita de crónica de viagem:
Escreve crónica de viagem para Fugas (suplemento do Público, aos sábados) — Depois
de ver alguns exemplos da coluna «Fugas dos leitores» (http://gavetadenuvens.blogspot.pt/2017/08/as-fugas-dos-leitores.html;
ou no site do jornal, em baixo; sobre ‘relato de viagem’, pode ser útil a p.
303 do manual), e percebendo que se trata de dar conta de viagem, saída,
verdadeira mas que também é possível assumir como ‘viagem’, metaforicamente,
por exemplo, até a leitura de um livro, escrever texto que me será enviado, ou
dado em folha impressa, e que eu reverei (lançando depois vocês essas emendas
no vosso ficheiro, enviando-me de novo). Se se achar que vale a pena, a crónica
será enviada para o suplemento do Público Fugas (https://www.publico.pt/fugasdosleitores).
Os textos, acompanhados preferencialmente por uma foto, devem ter cerca de 2500 caracteres; ser-me-ão enviados entre 25 de abril e 1 de maio.
Cfr. secções sobre Autores ex-alunos do AeB; Adília Lopes; Rui Zink; Luís Soares
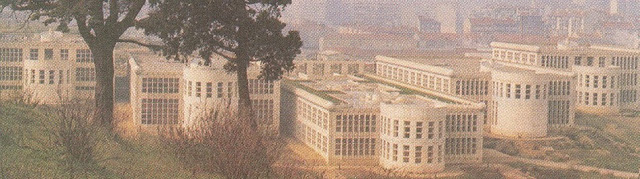 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)






0 Comments:
<< Home