Leituras no 10.º ano
Obras
para leitura no 10.º ano nas listas «oficiais»
Esta
lista é a sugerida nos programas entretanto ultrapassados, mas que, para efeitos do chamado Projeto de leitura, pode ainda ser aproveitada. Podemos juntar-lhe sugestões nas pp. 16-17 do manual (algumas coincidem aliás) e de muitos outros livros que não estão nas listas oficiais. (No site do PNL, pelo que se diz no nosso manual, haverá ainda mais conselhos. Eu próprio ainda tenho de as ir ver.)
Segundo
o programa antigo, cada aluno teria de ler pelo menos uma destas obras. Porém, espero
que, ao longo do ano, se leia até mais do que um livro, destas listas ou não.
Para
poderem escolher, copiei a capa (da edição que tenho à mão, que pode não ser das mais atuais; não julguem, portanto, que cada livro tem de
ter a capa que lhes surgirá aqui). Reproduzi também as primeiras linhas do
livro e fiz um breve comentário. Ainda antes de tudo, na tabela que se segue, dei uma nota
(escala de 1-5) segundo: 1) probabilidade de os alunos não considerarem o livro
«secante» (as obras mais pontuadas serão as menos secantes; mas serei otimista
— muitos achá-las-iam quase todas secantíssimas); 2) apreciação minha da
qualidade do livro, utilidade que a sua leitura pode ter, etc.
Descartei,
para já, as obras do modo dramático (teatro) ou do modo lírico (poesia não
narrativa), porque gostava de as integrar de outra maneira, posteriormente.
Lista
das obras (a seguir); no final, comentário meu, obra a obra. Sem algarismo à
frente, as que são de poesia não narrativa e as de teatro — para já, não devem
optar por essas. Quando à numeração das colunas, codifica o serem livros
legíveis ou não (os talvez menos aborrecidos levam a melhor nota) e o serem importantes
em termos literários (os mais importantes levam a melhor nota). Por exemplo, Capitães da Areia é obra que não é das
mais difíceis de ler (por isso, 4), mas tem talvez a desvantagem de não ser um livro dos mais marcantes em termos da história da literatura (por isso, um
3). Talvez devam olhar sobretudo para a primeira coluna (a da esquerda).
AA.VV., Antologia do Cancioneiro Geral (poemas escolhidos)
|
||
Alves, Adalberto, O Meu Coração é Árabe (poemas escolhidos)
|
||
Amado, Jorge, Capitães da Areia
|
4
|
3
|
Anónimo, Lazarilho de Tormes
|
3
|
4
|
Andresen, Sophia de Mello Breyner, Navegações
|
||
Brandão, Raul, As Ilhas Desconhecidas
|
2
|
4
|
Calvino, Italo, As Cidades Invisíveis
|
2
|
4
|
Carey, Peter, O Japão é um Lugar Estranho
|
4
|
4
|
Castro, Ferreira de, A Selva
|
3
|
4
|
Cervantes, Miguel, D. Quixote de la Mancha (excertos escolhidos)
|
3
|
5
|
Chatwin, Bruce, Na Patagónia
|
3-4
|
4
|
Dante Alighieri, A Divina Comédia (excertos escolhidos)
|
1
|
5
|
Defoe, Daniel, Robinson Crusoé
|
4
|
5
|
Dinis, Júlio, Serões da Província
|
3
|
4
|
Eco, Umberto, O Nome da Rosa
|
4
|
3
|
Énard, Mathias, Fala-lhes de Batalhas, de Reis e de Elefantes
|
4
|
4
|
Faria, Almeida, O Murmúrio do Mundo: A Índia Revisitada
|
4
|
3
|
Ferreira, António, Castro
|
||
Gedeão, António, Poesia Completa (poemas escolhidos)
|
||
Homero, Odisseia (excertos escolhidos)
|
2-4
|
5
|
Lispector, Clarice, Contos
|
3-4
|
4
|
Lopes, Baltazar, Chiquinho
|
4
|
4
|
Maalouf, Amin, As Cruzadas Vistas pelos Árabes
|
?
|
4
|
Magris, Claudio, Danúbio
|
2
|
4
|
Marco Polo, Viagens (excertos escolhidos)
|
4-3
|
3
|
Meireles, Cecília, Antologia Poética (poemas escolhidos)
|
||
Moraes, Vinicius de, Antologia Poética (poemas escolhidos)
|
||
Nemésio, Vitorino, Vida e Obra do Infante D. Henrique
|
4
|
4
|
Ondjaki, Os da Minha Rua
|
4
|
4
|
Pepetela, Parábola do Cágado Velho
|
3
|
4
|
Pérez-Reverte, Arturo, A Tábua de Flandres
|
4
|
3
|
Petrarca, Rimas (poemas escolhidos)
|
||
Poe, Edgar Allan, Contos Fantásticos
|
4
|
5
|
Rui, Manuel, Quem Me Dera Ser Onda
|
4
|
3
|
Scott, Walter, Ivanhoe
|
3
|
4
|
Shakespeare, William, A Tempestade
|
||
Swift, Jonathan, As Viagens de Gulliver
|
3
|
4
|
Telles, Lygia Fagundes, Ciranda de Pedra
|
4
|
4
|
Virgílio, Eneida (excertos escolhidos)
|
2-3
|
5
|
Zimler, Richard, O Último Cabalista de Lisboa
|
4
|
3
|
A
seguir, o comentário obra a obra. Muitos terão alguns destes livros em casa (ou
em casa dos avós). Na biblioteca da escola também há exemplares de um ou outro
(pesquisem por aqui). Em último caso, não me
importo de ceder o meu exemplar, se o tratarem bem e não se esquecerem de mo
devolver.
Advertência
importante: muitas destas obras foram adaptadas ao cinema, à BD, a versões
juvenis, mas não convém julgar que ter visto o filme substitui a leitura.
Quanto
ao que pedirei para controlo da leitura havida, especificá-lo-ei depois. Preferia que,
primeiro, lessem apenas, sem demasiadas preocupações quanto ao resultado a apresentar a
seguir. Ler por ler, portanto.
[Narrativas angolanas]
Os da minha rua —
estórias
é um conjunto de duas dezenas de histórias pequenas (de três a meia duzia de páginas),
escritas por Ondjaki, escritor angolano relativamente jovem. As pequenas
histórias envolvem crianças, passando-se em Luanda. Leem-se bem, creio, embora
se centrem mais nos caracteres (sociais, psicológicos) do que no enredo (que
tem de ser curto, porque os contos são curtíssimos). Início da primeira
historieta, «O voo de Jika»:
O Jika era o mais novo da minha rua. Assim: o
Tibas era o mais velho, depois havia o Bruno Ferraz, eu e o Jika. Nós até às
vezes lhe protegíamos doutros mais-velhos que vinham fazer confusão na nossa
rua.
O almoço na minha casa era perto do meio-dia. Às
vezes quase à uma. Ao meio-dia e quinze, o Jika tocava à campainha.
— O Ndalu tá? — perguntava à minha irmã ou ao
camarada António.
— Sim, tá.
— Chama só, faz favor.
Eu interrompia o que estivesse a fazer, descia.
— Mô Jika, comé?
— Ndalu, vinha te perguntar uma coisa.
— Diz.
— Hoje num queres me convidar pra almoçar na tua
casa?
Quem me dera ser onda, de Manuel Rui, não é
um livro extenso. É um conto grande ou, se se preferir, uma pequena novela. O
autor é angolano, o contexto da narrativa também, sendo essa, porventura, a
única dificuldade a vencer, já que, por outro lado (tornando a curta obra
acessível), se trata de texto quase todo em diálogo. Início:
Faustino só tirava o dedo do botão quando o
elevador aparecia.
— Como é? Porco no elevador?
— Porco não. Leitão, camarada Faustino.
— Dá no mesmo em matéria de interpretação de
leis.
— Quais leis?
— O problema é o que a gente combinou na
assembleia de moradores e o camarada estava presente. Votação por unanimidade.
Aqui no elevador só pessoas. E coisas só no monta-cargas.
— Mas leitão é coisa?
— Nada disso. Bichos ficou combinado cão, gato
ou passarinho. Agora se for galinha morta depenada, leitão ou cabrito já morto,
limpo e embrulhado, passa como carne, também está previsto. Leitão assim vivo
é que não tem direito, camarada Diogo, cai na alçada da lei.
Pepetela
também é angolano. Parábola do Cágado
Velho ler-se-á bem, embora ponha a dificuldade de implicar referências e,
aqui e ali, linguagem, que poderão estranhar, porque o contexto é o de Angola
(há um glossário de duas páginas no final do livro). Ainda não li este livro,
mas lembro-me de ter lido de Pepetela O
Cão e os Caluandas e ter gostado. Início de Parábola do Cágado Velho:
Ulume, o homem, olha o seu mundo.
Por vezes a terra lhe parece estranha. Fica num
planalto sem fim, embora se saiba que tudo acaba no mar. Chanas e cursos de
água por toda a parte. Junto dos rios tem florestas, nalguns pontos apenas muxitos, aquelas
matitas em baixas húmidas. As elevações são pequenas, excepto a Munda que corta
a terra no sentido norte-sul. Nunca se vê o cume da Munda, sempre encoberto por
espessos nevoeiros. O seu kimbo fica colado ao pé da Munda, outra forma de
dizer montanha, na base de um morro encimado por grandes rochedos cinzentos,
por vezes azuis. De cima do morro sai um regato que acaba por se acoitar, muito
à frente, num rio largo, o Kuanza de todas forças e maravilhas, quase fora do
seu mundo. Desse regato tiram a água para as nakas, onde verdejam os legumes e
o milho de bandeiras brancas. Nele também bebe o gado. Mesmo no tempo das
piores secas a água do regato nunca falhou. [...]
[Narrativa caboverdiana]
Chiquinho, de Baltazar Lopes — que foi estudante
de Letras em Lisboa e, depois, professor liceal em Cabo Verde, de que era
natural —, é um relato homodiegético, em Cabo Verde, da infância até à entrada
na vida profissional, enquanto professor, em que há decerto muito de
autobiográfico. Leia-se o início:
Como
quem ouve uma melodia muito triste, recordo a casinha em que nasci, no
Caleijão. O destino fez-me conhecer casas bem
maiores, casas onde parece que habita constantemente o tumulto, mas nenhuma eu
trocaria pela nossa morada coberta de telha francesa e emboçada de cal por
fora, que meu avô construiu com dinheiro ganho de-riba da água do mar.
Mamãe-Velha lembrava sempre com orgulho a origem honrada da nossa casa. Pena
que o meu avô tivesse morrido tão novo, sem gozar direitamente o produto do seu
trabalho.
E
lá toda a minha gente se fixou. Ela povoou-se das imagens que enchiam
o nosso mundo. O nascimento dos meninos. O balanço da criação. O trabalho das
hortas e a fadiga de mandar a comida para os trabalhadores. A partida de Papai
para a América. A ansiedade quando chegavam cartas. Os
melhoramentos a pouco e pouco introduzidos com os dólares que recebíamos. Mamãe
deslisava como uma sombra silenciosa no trafêgo da casa. Mamãe-Velha não parava
[...]
[Narrativas brasileiras]
Clarice
Lispector era brasileira, mas de origem ucraniana. A sua escrita é muito
interessante, talvez difícil para alguns. Não seria preciso ler muitos contos (enfim:
uns três, pelo menos). A edição cuja capa copio (Contos) não sei se se encontrará ainda. Uma mais recente, Todos os contos, é mastodôntica (isto é,
enorme). Mas há mais livros com contos de Lispector (Laços de Família, também publicada pela Relógio d’Água, estará
ainda à venda, embora já com outra capa). O passo que copio é o início do
primeiro conto «Os desastres de Sofia»:
Qualquer que tivesse sido o seu trabalho
anterior, ele o abandonara, mudara de profissão, e passara pesadamente a
ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele.
O professor era gordo, grande e silencioso, de
ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó
curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e
romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e
pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu
adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os
colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho:
— Cale-se ou expulso a senhora da
sala.
Capitães da Areia, de Jorge Amado, autor
brasileiro, é um livro narrativo (romance de aventuras, podemos dizer, embora
com mensagem social e política). Transcrevo da contracapa: «Nesta história crua
e comovente, Jorge Amado descreve [...] a vida de um grupo de meninos da Bahia,
na década de 1930. Divididas entre a inocência da infância e a crueza do universo
adulto, as crianças têm de lidar com um quotidiano ao mesmo tempo livre e
vulnerável». Início (depois título do capítulo, «Crianças ladronas»:
Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem
dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido
notícias sobre a atividade criminosa dos «Capitães
da Areia», nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões
que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa
carreira do crime não têm moradia certa ou pelo menos a sua moradia ainda não
foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem o
produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata
providência do Juiz de Menores e do dr. Chefe de Polícia.
Ciranda de Pedra, de Lygia Fagundes
Telles, escritora brasileira, é um romance «de formação», isto é, acerca da aprendizagem da entrada na
vida adulta.
Nunca li este livro e, embora saiba que o tenho por aí, não estou a encontrá-lo.
Por isso, a capa e o início copio-os de um PDF (obrigado, Companhia das Letras).
Algures faz-se esta sinopse da narrativa: «Quando um casal de classe média se separa, a
caçula [a mais jovem], Virgínia, é a única das três filhas que vai morar com a
mãe. É do ponto de vista dessa menina deslocada e solitária que se narram os
dramas ocultos sob a superfície polida da família». Início:
Virgínia subiu precipitadamente a escada e
trancou-se no quarto.
— Abre, menina — ordenou Luciana do lado de
fora.
Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer
as unhas, seguindo com o olhar uma formiguinha que subia pelo batente da porta.
“Se entrar aí nessa fresta, você morre!”, sussurrou soprando-a para o chão. “Eu
te salvo, bobinha, não tenha medo”, disse em voz alta. E afastou-a com o
indicador. Nesse instante fixou o olhar na unha roída até a carne. Pensou nas
unhas de Otávia. E esmagou a formiga.
— Virgínia, eu não estou brincando, menina.
Abre logo, anda!
— Agora não posso.
— Não pode por quê?
[Narrativas portuguesas]
A Selva, de Ferreira de Castro,
foi publicada ainda no primeiro terço do século XX (1930). É um romance,
mas quase podemos dizer que não deixa de ser igualmente um «livro de viagem»,
na medida em que o autor confessou o desejo de nos dar o exotismo do cenário em
que viviam os trabalhadores (emigrados de Portugal, sobretudo) nos seringais,
no sertão amazónico. O protagonista é um jovem, que saiu de Portugal também por
razões políticas. Início:
Fato branco, engomado, luzidio, do melhor H. J.
que teciam as fábricas inglesas, o senhor Balbino, com um chapéu de palha a envolver-lhe em
sombra metade do corpo alto e sieco, entrou na «Flor da Amazónia» mais rabioso
do que nunca.
Ter andado de Herodes para Pilatos, batendo todo
o sertão do Ceará no recrutamento dos tabaréus receosos das febres amazonenses
e tranquilos sobre o presente, porque há anos não havia secas, e afinal, depois
de tanto trabalho, de tantas palavras e canseiras, fugirem-lhe
nada menos
de três! Que diria Juca Tristão, que o tinha por esperto e exemplar, quando ele
lhe aparecesse oom três homens a menos no rebanho que vinha pastoreando desde
Fortaleza? E o Caetano, que ambicionara aquele passeio por conta do seringal e
assistira, roído de inveja, à sua partida? Rir-se-iam dele... Quase dois contos
atirados por água-abaixo!
Serões da Província, de Júlio Dinis, são
contos-novelas no ambiente do norte português do século XIX. No tempo da minha
mãe, Júlio Dinis era o grande autor, escolar, para os adolescentes (ou, mais,
para as adolescentes). O primeiro volume dos Serões reúne obras anteriores ainda aos maiores êxitos de Júlio Dinis (As Pupilas do Senhor Reitor, A Morgadinha dos Canaviais, Uma Família Inglesa). Se tivermos
paciência com algumas introduções à ação, o resto lê-se bem (muitas vezes há diálogos,
embora mais elaborados do que hoje os ouvimos). Bastaria ler um ou dois dos contos-novelas.
Início de «As apreensões de uma mãe»:
Não me consta que tenha existido mãe tão extremosa,
e talvez tão excessivamente indulgente, como o era a Sr.a D.
Margarida de Entre-Arroios na época em que, voltando eu de uma pequena
digressão pela província do Minho, tive a fortuna de ser recebido como hóspede
em casa desta senhora, a meio caminho do Porto a Braga, um quarto de légua
afastada da estrada principal.
Era uma época de crise para a fidalga, como por
lá lhe chamavam todos os vizinhos, esta a que me refiro. Dias antes haviam as cortes decidido — e qual é a
casa rica de província que não tem o seu pequeno parlamento? — que o menino
Tomás, o qual então contava já quinze anos feitos, seguisse estudos em Coimbra.
Discutia-se,
porém,
ainda acaloradamente a escolha de faculdade.
[Entre policial e histórico]
Os
Contos, de Edgar Allan Poe, nascido
em Boston no início do século XIX, podem ser policiais, de mistério, de terror,
fantásticos, góticos. São também muitas as coletâneas com estas histórias de
Poe, por isso é preciso ver bem qual lhes será mais útil. A edição cuja capa
uso é demasiado grande, há outras bem mais adequadas, até porque lhes bastará
ler alguns dos (muitos) contos de Poe. Lembro-me de, mais ou menos com a vossa
idade, ter gostado de «O escaravelho de ouro», «Os crimes da Rua Morgue», «O
mistério de Marie Rogêt», «A queda da casa de Usher», «O barril de Amontillado», tudo na área policial (e,
talvez, do horror). Início de «O escaravelho de ouro»:
Há muitos anos, estabeleci intimidade com um tal
Sr. William Legrand. Pertencia ele a uma antiga família huguenote e em tempos
fora rico, mas uma série de infortúnios redu- zira-o à miséria. A fim de evitar
a humilhação decorrente dos seus desaires, deixara Nova Orleães, a cidade dos
seus antepassados, e fixara residência na ilha de Sullivan, perto de
Charleston, na Carolina do Sul.
A ilha é muito
singular. Constituída por pouco mais que a areia do mar, tem cerca de três
milhas de comprimento. A sua largura não ultrapassa em ponto algum um quarto de
milha. Está separada do continente por um regato quase impercetível, que corre
pelo meio de uma selva de juncos e lodo, poiso favorito da galinha-d'água.
A Tábua de Flandres, de Arturo Pérez-Reverte, espanhol, autor de best sellers, é um enigma policial com
alusões históricas. Cito da contracapa: «No final do século XV, um velho mestre flamengo introduz num
dos seus quadros um enigma que pode mudar a história da Europa. No quadro, o
duque de Ostenburgo e o seu cavaleiro estão embrenhados numa partida de xadrez
enquanto são observados por uma misteriosa dama vestida de negro. Todavia, à
época em que o quadro foi pintado, um dos jogadores já havia sido assassinado.
// Cinco séculos depois, uma restauradora de arte encontra a inscrição oculta: vis necavit equitem? (Quem matou o
cavaleiro?)». Creio que, para muitos,
será dos livros mais legíveis. O início é assim (sob o título «Os segredos
mestre Van Huys»):
Um envelope fechado é um enigma que contém
outros enigmas no seu interior. Aquele era grande, grosso, de papel manila, com
o timbre do laboratório impresso no ângulo inferior esquerdo. E antes de o
abrir, enquanto o segurava na mão e procurava ao mesmo tempo uma espátula entre
os pincéis e frascos de tinta e de verniz, Julia estava muito longe de imaginar
até que ponto esse gesto ia transformar a sua vida.
Richard
Zimler, americano, naturalizado português, há muito a viver no Porto, escreveu
O último cabalista de Lisboa, em
torno dos judeus portugueses no século XVI. Também aqui o cenário histórico é
pretexto para um romance de mistério. Copio o começo de uma sinopse (do site da
FNAC): «Em abril de 1506, durante as celebrações da Páscoa, cerca de dois mil
cristãos-novos foram mortos num pogrom
em Lisboa e os seus corpos queimados no Rossio. Reinava então D. Manuel, o
Venturoso, e os frades incitavam o povo à matança, acusando os cristãos-novos
de serem a causa da fome e da peste que flagelavam a cidade». Início do
«Prólogo»:
Uma mágoa contida recobria o aparo da pena com que
escrevia quando iniciei a narração da nossa história. Estávamos no ano hebraico
de 5267, 1507 da era cristã.
Egoisticamente, abandonei o manuscrito, por Deus não
me ter recompensado com a tranquilidade da alma. Hoje, passados que são vinte e
três anos desta magra tentativa de registar a minha busca de vingança, voltei a
afagar as páginas abertas do pergaminho.
O que me terá levado a romper a jura de silêncio?
O Nome da Rosa, de Umberto Eco, é um
romance entre policial e histórico (talvez de um género que Eco, sobretudo um
professor, um investigador, criou — em que o gosto de seguir uma narraticva se
soma à satisfação de a sentirmos inspirada por conhecimentos eruditos). A ação
situa-se na Idade Média, o espaço é o de uma abadia.O início tem a forma de
paratexto (uma explicação sob o título «Naturalmente, um manuscrito»):
No dia 16 de Agosto de 1968 foi-me
parar às mãos um livro que se deve à pena de um certo abade Vallet, Le Manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après
l'édition de Dom J. Mabillon (Aux Presses de l'Abbaye de la Source, Paris, 1842).
O livro,
acompanhado de indicações históricas na verdade bastante pobres, afirmava
reproduzir fielmente um manuscrito do século xiv, por sua vez encontrado no
mosteiro de Melk pelo grande erudito seiscentista, a quem tanto se deve
pela história da ordem beneditina. A douta trouvaille (minha,
portanto a terceira no tempo) alegrava-me enquanto me achava em Praga à espera
de uma pessoa querida. Seis dias depois, as tropas soviéticas invadiam a desventurada cidade.
Consegui afortunadamente alcançar a fronteira austríaca em Linz; dali
dirigi-me para Viena, onde me reuni à pessoa esperada, e
juntos subimos o curso do Danúbio.
Num clima mental de grande excitação,
eu lia,
fascinado, a terrível história de Adso de Melk, e tanto me deixei absorver que
quase de um jacto redigi a sua tradução, nuns grandes cadernos da
Papéterie Joseph Gibert, em que é tão agradável escrever se a caneta for
macia. E assim fazendo chegámos às proximidades de Melk, onde se ergue ainda, a
pique sobre um meandro do rio, o belíssimo Stift,
muitas
vezes restaurado através dos séculos. Como o leitor terá imaginado, na
biblioteca do mosteiro não encontrei vestígios do manuscrito de Adso.
Fala-lhes de Batalhas,
de Reis e de Elefantes, de Mathias Énard, é um romance histórico. O pretexto da
narrativa é a viagem de Miguel Ângelo a Istambul (Turquia), onde projetaria uma
ponte, no chamado Corno de Ouro (o estuário que divide o lado europeu de
Istambul). A tradução é de Pedro Tamen, outra vantagem. Eis o início
(socorro-me de uma transcrição a partir do site da Leya, já que não estou a
encontrar o livro que sei ter):
Ao desembarcar em Constantinopla a 13 de maio de
1506, Miguel Ângelo sabe que enfrenta o poderio e a cólera de Júlio II, papa
guerreiro e mau pagador, para quem deixou preparada a edificação de um túmulo
em Roma. Mas como não havia de responder ao convite do sultão Bayazid, que,
depois de ter recusado os planos de Leonardo da Vinci, lhe propõe a conceção
de uma ponte sobre o Corno de Ouro?
Na agradável região inglesa banhada pelo rio
Don, estendia-se, desde há muito, uma grande floresta cobrindo a
maior parte das colinas e vales situados entre Sheffield e a prazenteira cidade
de Doncaster. Ainda se pode observar os vestígios desta vasta mata nas nobres
localidades de Wentworth, Warncliffe Park e nos arredores de Rotherham. Aqui
assombrou, em tempos, o dragão de Wentley; aqui foram travadas muitas das
desesperantes batalhas da Guerra Civil das Rosas; e aqui também floresceram os
bandos de destemidos fora-da-lei, cujas façanhas se
popularizaram no folclore inglês.
[Viagens]
Na Patagónia, de Bruce Chatwin, é um
livro de viagem, muito entrecortado com as histórias daqueles que o narrador vai
encontrando. Segundo a lenda, Chatwin, jornalista no Sunday Times, teria abandonado o jornal, dando a conhecer a sua decisão através de um telegrama («Fui para a Patagónia por quatro meses»). Mas um seu biógrafo, Nicholas Shakespeare, esclarece dever tratar-se de uma carta enviada já de Lima (Peru): «Fiz o que tinha ameaçado. De repente, fiquei farto de Nova Iorque e fugi para a América do Sul. Estou há uma semana em casa de um primo em Lima e esta noite vou para Buenos Aires. Tenciono passar o Natal na Patagónia. Estou a investigar, para mim, uma história passada lá, uma coisa que sempre quis escrever». Neste caso, prefiro dar-lhes o mapa que vem no
verso da página de rosto e o início do cap. II:
A história de Buenos Aires encontra-se escrita
na lista telefónica. Pompey Romanov, Emilio Rommel, Crespina D. Z. de Rose,
Ladislao Raziwill e Elizabeta Marta Callman de Roths- child — cinco nomes
tirados ao calhas na letra R — contam uma história de exílio, desilusão e
ansiedade por detrás de cortinas rendadas.
Fazia um maravilhoso tempo estival na semana que
lá passei. As lojas arvoravam decorações de Natal. O mausoléu a Perón, em
Olivos, acabava de ser inaugurado; Evita estava em forma após a sua excursão
punitiva aos cofres dos bancos europeus. Certos católicos tinham dito uma
missa de requiem pela alma de Hitler e aguardava-se um
golpe militar.
O Múrmúrio do Mundo. A
Índia revisitada,
de Almeida Faria, resulta de viagem à Índia, há uns dez anos, pelo seu autor,
um escritor e professor universitário português. É bastante magro o livro, o
que o torna acessível, mas há bastantes referências culturais, o que implica
que se vá lendo parando aqui e ali. (É de uma coleção com muitos livros de
viagens, dirigida por Carlos Vaz Marques, da editora Tinta da China. O mesmo se
diga do livro que porei a seguir, relativo ao Japão). Início (que insere uma citação, note-se, para depois prosseguir com um texto paralelo):
Despachadas
as cousas todas, o Governador se embarcou e se fez à vela meado março, indo ele
embarcado na nau São Thomé. Em a qual frota, além de gente ordenada para a
navegação das naus, iriam até mil e quinhentos homens de armas, todos gente
limpa, em que entravam muitos fidalgos e moradores da casa de el-rei, os quais iam ordenados para ficar na índia, e por regimento
que el-rei
então fez eram obrigados a servir lá três anos
contínuos.
Despachada
a bagagem dita de porão,
embarcámos aos trinta dias de novembro num avião sem nome de
santo mas dotado do dom de trespassar os céus a altas velocidades. Além da
tripulação e dos outros passageiros, éramos cerca de três dezenas de gente limpa
em que entravam alguns antigos e atuais moradores da casa da governação do
Estado, e não nos esperavam meses e meses sem fim no mar até à índia, nem lá
ficaríamos três anos
contínuos.
O
escritor australiano Peter Carey escreveu O
Japão é um lugar estranho. O subtítulo — Viagem de um pai com o seu filho ao país da manga e do anime —
indicia-nos suficientemente de que trata este livro de crónicas de viagem. O
prefaciador, Carlos Vaz Marques, lembra-nos que «há uma nova geração de
adolescentes ocidentais a crescer [...] sob a influência direta da cultura
popular japonesa» (e eu admito que esse seja o nicho de leitores deste livro,
que aliás todos leremos facilmente). Início:
Estava com o meu filho de
doze anos no clube de vídeo, quando ele alugou
O Verão de Kikujiro, um filme japonês com um tipo duro e um miúdo, onde a
encantadora personagem do rufia cheio de tiques é representada pelo actor Beat
Takeshi. Como poderia eu saber naquela altura aonde aquilo nos iria levar?
Nas semanas seguintes, Charley alugou
O Verão de Kikujiro várias vezes e, embora estivesse com ele quando isso
acontecia, eu não fazia a mais pequena ideia do modo como ele viria a ser
profundamente afectado pelo filme até ao dia em que ele me disse, calmamente,
en passant:
«Quando for grande vou viver para Tóquio.»
As ilhas desconhecidas, de Raul Brandão, é o diário
da viagem (de barco) feita por Brandão (escritor português que viveu no último
terço do século XIX e no primeiro do XX) aos Açores (e breve passagem também pela Madeira), «notas de viagem quase sem
retoques». Raul Brandão é um paisagista, pelo que talvez achem que há descrição
a mais; mas há também «quadros humanos», com cenário nas ilhas, em 1924. Só
aconselho a quem não se importe que falte um ritmo mais rápido, que não haja
mais ação. Início:
DE LISBOA AO CORVO
8
de junho, 1924
A bordo do S. Miguel
Enquanto a gente vê terra, não tira os olhos —
não pode — dum resto de areal, dum ponto violeta que desmaia e acaba por
desaparecer na crista duma vaga. Um ponto e acabou o mundo. O nosso mundo agora
é outro. Durante um momento calamo-nos todos a bordo. A abóbada esbranquiçada
fecha-se e encerra o disco azul onde espumas afloram nos redemoinhos que nos
cercam: só uma gaivota teima em nos acompanhar descrevendo círculos por cima
do navio. O ruído da hélice e a vasta desolação monótona...
Italo
Calvino, embora nascido em Cuba, era italiano. As Cidades Invisíveis é constituído por muitos pequenos capítulos
(de umas três páginas cada, que aludem, cripticamente, às viagens de Marco
Polo). Estes textos são paralelos mas não vão construindo um enredo claro, que
prenda quem está demasiado habituado a peripécias sequenciais e lógicas. São
textos mais descritivos e simbólicos do que estritamente narrativos. Início (de
«As cidades e a memória. 1.»):
Partindo-se dali e andando três dias para
levante, o homem encontra-se em Diomira, cidade com sessenta
cúpulas de prata, estátuas de bronze de todos os deuses, ruas pavimentadas a estanho, um
teatro de cristal e um galo de ouro que canta no alto de uma torre todas as
manhãs.Todas estas belezas o viajante já as conhece por tê-las visto também
noutras cidades. Mas a propriedade desta é que quem lá chegar numa noite de
setembro, quando os dias já diminuem e as lâmpadas multicores
se acendem
todas ao mesmo tempo por cima das portas das lojas de peixe frito, e de um
terraço uma voz de mulher grita: uh!, lhe apetece
invejar os
que agora pensam que já viveram uma noite igual a esta e que então foram
felizes.
Para
ilustrar o que são as Viagens, de
Marco Polo, sirvo-me do início do prefácio (de António Osório) à tradução cuja
capa copio: «Estas Viagens nasceram da colaboração
de dois homens, Marco Polo, pertencente a uma família de mercadores venezianos,
espírito prático, atento às realidades da vida, mas também destemido e
aventureiro; e Rustichello da Pisa, autor de romances de cavalaria, cortesão,
amante do fantástico, e que escrevia em francês, a língua mais corrente no
mundo nobiliário e dos mercadores europeus. Um foi o viajante, outro, o
cronista, no seu tempo, fim do século XIII, da mais espantosa viagem até então
efectuada. // Nascido em 1254, Marco Polo partiu com 17 anos, acompanhado pelo
pai Niccolò e pelo tio Matteo, para chegar ao Oriente, que era, para a
imaginação ocidental, o grande fascínio, a terra do mistério, do maravilhoso e
de riqueza nunca vista. A viagem de ida e volta Veneza / Pequim e a estada
duraram 24 anos. Tinha 41 quando regressou». Reproduzo o primeiro parágrafo do
cap. 1:
Senhores
imperadores, reis e duques e todas as outras gentes que desejais conhecer as
diferentes raças de povos e a diversidade das regiões do mundo, lede este livro
onde encontrareis todas as enormes maravilhas e grandes variedades das gentes
da Arménia, da Pérsia e da Tartária, da índia e de muitas outras províncias. E
isto vos contará o livro precisamente como o senhor Marco Polo, sábio e nobre
cidadão de Veneza, o narra neste livro e ele próprio o viu. Mas ainda há
aquelas coisas que ele não viu, mas ouviu de pessoas dignas de fé, e assim as
coisas vistas dirá como vistas e as ouvidas como ouvidas, de maneira que o
nosso livro seja verdadeiro e sem nenhuma mentira.
Danúbio, do
italiano Claudio Magris, mais ensaísta, professor, cronista do que escritor de
ficção, é de um género indistinto (livro de viagens, ensaio de literatura,
autobiografia, romance). Não me parece livro fácil, embora goste de ler Magris, mas mais como
se lê um texto de investigação ou cronístico. Há muitas referências culturais —
podem talvez ler-se algumas páginas seguidas, como reflexão em torno de
literatura, história, geografia. O início é assim (sob o título «1. Uma tabuleta»):
«—
Caro amigo!
«O
vereador da Câmara Municipal de Veneza, Sr. Maurizio Cecconi, na base do
projecto exposto, apresentou a proposta de organizar uma exposição sobre o tema
"A Arquitectura da Viagem: História e Utopia dos Hotéis". Veneza é a
sede prevista. Para o financiamento associar-se-ão diversas instituições e
organizações. Se se mostrar interessado em colaborar...»
O
caloroso convite, reiterado há alguns dias, não se dirige a um destinatário
preciso, não nomeia a pessoa ou pessoas que arrebatadamente interpela; o
afectuoso ímpeto patrocinado pelo Ente Público transcende as individualidades
particulares e abrange a generalidade, a humanidade ou pelo menos uma ampla e
fluida comunidade de pessoas cultas e inteligentes. [...]
[Clássicos épicos]
A
Eneida, de Vergílio, é a epopeia
romana (e, aliás, de todos os poemas épicos clássicos, o que mais influenciou Os Lusíadas). Neste caso, não lerão o
poema latino, nem uma tradução em verso, mas trechos apresentados em prosa,
segundo tradução de professores da Faculdade de Letras de Lisboa (um dos tradutores, Luís M. Cerqueira, foi há anos professor da ESJGF). Para quem
goste da cultura universal (com as referências da mitologia, também da história
antiga), pode ser uma leitura útil (até por o livro ter servido de modelo a
Camões). Não seria necessário lerem-se todos os cantos («livros»), bastariam
talvez os primeiros quatro. Início (a proposição que reconhecemos de imediato
ter sido o modelo da de Os Lusíadas):
Canto as armas e o varão que nos primórdios veio
das costas de Tróia para Itália e para as praias de Lavínio, fugitivo por força
do destino, e muito padeceu na terra e no mar por violência dos deuses
supernos, devido ao ressentimento da cruel Juno; muito sofreu também na guerra,
até fundar uma cidade e introduzir os deuses no Lácio; daqui provêm a raça
latina, os antepassados albanos e as muralhas da grandiosa Roma.
A
Odisseia, de Homero, é — com a Ilíada — a grande epopeia grega. Embora
haja traduções completas — a capa é de uma delas —, julgo que o que se deve aconselhar
é a leitura de uma adaptação para jovens, como é o caso da feita por Frederico
Lourenço. (Já me parece demasiado infantil, demasiado leve, a versão por João
de Barros, da Sá da Costa.) Pergunto-me é se alguns não leram já esta adaptação
em anos anteriores (nesse caso, não aceitaria que escolhessem a mesma obra). Outra
hipótese é ler apenas alguns dos cantos da versão completa. Início da adaptação
de Frederico Lourenço, para a editorial Cotovia:
Mil e
duzentos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, vivia na ilha grega de
Itaca um jovem príncipe chamado Telémaco. Seu pai tinha partido para a guerra quando
ele era ainda bebé. Agora Telémaco era crescido, quase
adulto — mas o pai ainda não tinha voltado. Já se sabia, em
Itaca, que a guerra acabara; todos sabiam que Troia, a
cidade inimiga, havia sido conquistada e destruída. Dando
embora o desconto para as dificuldades de navegarão e
para os perigos do mar, parecia estranho lá na ilha que Ulisses,
o pai de Telémaco, não tivesse regressado a casa.
Início
da tradução propriamente dita (do mesmo Frederico Lourenço):
Fala-me, Musa, do homem astuto que tanto
vagueou, / depois que de Tróia destruiu a cidadela sagrada./ Muitos foram os povos cujas cidades observou, / cujos espíritos conheceu; e foram muitos no mar / os sofrimentos por que passou para salvar a
vida, / para conseguir o retorno dos companheiros a suas
casas. / Mas a eles, embora o quisesse, não logrou
salvar. / Não, pereceram devido à sua loucura, / insensatos, que devoraram o gado sagrado de
Hiperíon, / o Sol — e assim lhes negou o
deus o dia do retorno. / Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de
Zeus.
A Divina Comédia, de Dante, figura, por
vezes, ao lado das grandes epopeias (Ilíada,
Odisseia, Eneida, Orlando Furioso, Jerusalém Libertada, Os Lusíadas),
embora não se possa considerar um poema épico (talvez épico-teológico). Conta a
viagem de uma alma, por Inferno, Purgatório, Paraíso. Parece-me difícil que
consigam seguir, sem muito esforço, o texto de Dante Alighieri (traduzido por
Vasco Graça Moura). Início do Canto I «[Na selva escura. O monte e as três
feras. Encontro de Virgílio. Profecia do Lebréu. Princípio da viagem]»:
No meio do caminho em
nossa vida,
eu me encontrei por uma
selva escura
porque a direita via era
perdida.
Ah, só dizer o que era é
cousa dura
esta selva selvagem,
aspra e forte,
que de temor renova à
mente a agrura!
Tão amarga é, que pouco
mais é morte;
mas, por tratar do bem
que eu nela achei,
direi mais cousas vistas
de tal sorte.
Nem saberei dizer como é
que entrei,
tão grande era o meu
sono no momento
em que a via veraz
abandonei.
Mas indo ao pé de um
monte com assento
lá onde terminava aquele
vai'
que o coração me enchera
de tormento,
alto lhe vi nos ombros o
cendal
vestido já dos raios do
planeta
que leva à recta via
cada qual.
[Clássicos
de aventuras ou satíricos e paródicos]
As Viagens de
Gulliver, de Jonathan Swift, irlandês,
serão muito conhecidas por todos mas provavelmente mais através de versões em
desenhos animados ou de filmes. Tratar-se-ia agora de ler a tradução da narrativa
completa — mais filosófica, mais didática, mais de subtil crítica social, do
que a imagem que muitos terão. É um longo relato de viagens, fictícias, com a
minúcia dos relatos do século XVIII. São quatro viagens, embora a primeira, ao
país de Lilliput, é que tenha ficado mais na tradição cultural. Para capa e
para reprodução do início do capítulo 1 da parte I, uso uma coleção do Público (haverá muitos livros desta
coleção em vossas casas ou, pelo menos, na biblioteca da escola):
O
meu pai tinha uma pequena propriedade em Nottinghamshire. Dos seus cinco
filhos, eu fui o terceiro, a quem ele mandou para o colégio Emanuel, em
Cambridge, com catorze anos de idade e onde residi durante três anos,
aplicando-me diligentemente aos estudos; como, apesar de dispor de uma pequena
pensão, as despesas do meu sustento eram demasiado elevadas para a sua magra
fortuna, colou-me como aprendiz do Sr. James Bates, iminente
cirurgião de Londres, com quem fiquei durante quatro anos. As pequenas somas
que o meu pai me enviava ocasionalmente apliquei-as
no estudo
da navegação e noutras áreas da matemática, de utilidade para quem pretende
viajar, tal como sempre imaginei que seria, mais cedo ou mais tarde, o meu
destino. Quando deixei o Sr. Bates, regressei a casa do meu pai, onde, com a
sua ajuda, e do meu tio John e outros parentes, consegui reunir quarenta libras
e obter a promessa de trinta libras anuais para a minha subsistência em Leyden.
Aí estudei medicina durante dois anos e sete meses, sabendo que tais
conhecimentos me seriam úteis nas longas viagens.
As Aventuras de Robinson
Crusoé,
de Daniel Defoe, também já foram objeto de muitas adaptações, alusões diversas,
motivo de intetextualidade em outras obras literárias ou fílmicas. Ler o texto original
completo, em tradução portuguesa, é o que se pretende agora. Começa por ser uma
autobiografia dos tempos de formação, depois é relato de viagens e naufrágio; finalmente,
o das aventuras de sobrevivência numa ilha. A capa que ponho é a da edição por
onde li, com a vossa idade, em 1975. Início:
Nasci na cidade de Iorque no ano de 1632,
originário de uma boa família, mas estrangeira no país. O meu pai, natural de
Brema, dedicou-se ao comércio em Hull, onde adquiriu uma fortuna
muito confortável. Mais tarde, retirou-se dos negócios e foi viver
para Iorque, onde casou com minha mãe, que pertencia à família Robinson, uma
das melhores do condado. Daí deriva o meu nome de Robinson Kreutznaer, a seguir
transfomado por uma corrupção muito corrente em Inglaterra, no de Crusoé, com o
qual hoje se chama e se assina a minha família e eu próprio também. Os meus
companheiros nunca me chamaram de outro modo.
O
Lazarilho de Tormes, de autor
anónimo, é uma novela picaresca, publicada em 1554 (já exercia o poder Filipe
II de Espanha, o mesmo que seria depois Filipe I de Portugal). O herói é um
anti-herói, um jovem pobre, que age com esperteza, cujo relato autobiográfico
vamos acompanhando (do nascimento à idade adulta) e serve de documento de uma parte
da sociedade de então. Não é um texto longo, mas tem a dificuldade de, embora brincalhão,
ter origem quinhentista (apesar de a tradução já mitigar estes problemas). Início
(do «relato primeiro»):
Antes de tudo o mais, saiba pois Vossa Mercê que
me chamam Lázaro de Tormes, filho de Tomé González e de Antona Pérez, naturais
de Tejares, aldeia de Salamanca. Nasci dentro do rio Tormes, e por isso fiquei
com este sobrenome; e foi assim que aconteceu: o meu pai, que Deus lhe perdoe,
estava encarregado de abastecer a moenda de uma azenha que existe à beira
daquele rio, e nela foi moleiro mais de quinze anos. E uma noite, estando a minha
mãe na azenha pejada de mim, chegou-lhe a hora do parto e ali me
pariu. Posso deste modo dizer com verdade que nasci no rio.
Ora, sendo eu menino de oito anos acusaram o meu
pai de certas sangrias ignobilmente feitas nos sacos dos que iam ali moer; por
isso foi preso; e como confessou e não negou, sofreu perseguição da Justiça.
Espero em Deus que na glória se encontre, porque o Evangelho lhes chama bem-aventurados.
D. Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes
(para Espanha, o equivalente a Camões para Portugal; e, curiosamente, falecido quase no mesmo dia em que morreu Shakespeare), é uma paródia dos romances
de cavalaria (e, de caminho, faz o retrato de alguns tipos sociais da Espanha de quinhentos, mais do que da de seiscentos — a primeira parte é publicada em 1605; a segunda parte, em 1615). Poderiam ler apenas alguns (enfim, bastantes) capítulos, que
aliás não são muito grandes. Início (uma vez saltado algum paratexto) do
capítulo I («Que trata da condição e exercício do famoso e valente fidalgo Dom
Quixote de la Mancha»):
Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, não
há muito tempo vivia um fidalgo desses de lança no cabide, adarga antiga, rocim
magro e galgo corredor. Um cozido com mais vaca que carneiro, salpicão as mais
das noites, lutos e quebrantos'1' aos sábados, lentilhas às sextas-feiras, algum
borracho acrescentado aos domingos, consumiam três partes de sua fazenda. O
resto completavam-no um saio de pano preto, calças de veludo para as
festas com suas pantufas do mesmo tecido, enquanto nos dias de semana se
honrava com sua malha de lã da mais fina. Tinha em sua casa uma ama que passava
dos quarenta e uma sobrinha que não chegava aos vinte, e um moço para toda a
obra que tanto selava o rocim como pegava na podoa. A idade de nosso fidalgo
rasava os cinquenta anos. Era de compleição rija, seco de carnes, enxuto de
rosto, grande madrugador e amigo da caça. Pretende-se
que tinha o
sobrenome de Quijada, ou Quesada, que há nisto alguma diferença entre os
autores que sobre este caso escrevem, ainda que por conjecturas verosímeis se
deixe entender que se chamava Quijana. Mas tal pouco importa a nosso conto:
basta que na narração dele não nos afastemos um ponto da verdade.
[Biografia e reflexão histórica]
Vida e obra do Infante
D. Henrique
é uma biografia escrita por Vitorino Nemésio — decerto um dos portugueses que,
durante o século XX, escreveram melhor. Transcrevo do manual Entre Nós e as Palavras, 10 (de Alexandre Dias Pinto e Patrícia Nunes): «Além de ser uma breve biografia de D. Henrique, a narrativa é também um relato do papel do Infante na preparação e no lançamento dos Descobrimentos Marítimos portugueses». Início do capítulo I («Os primeiros anos do Infante»):
Que
sabemos da meninice do Infante D. Henrique àparte dos irmãos? O regozijo
tripeiro por ocasião do batismo, os nomes do padrinho e da ama. Mais nada.
Assim, as fases da sua baixa idade só as podemos sondar pelo ambiente que
Fernão Lopes esparsamente desenha na
Crónica de D. João I ao fio dos primeiros anos de bem-casado do Rei. D. Duarte, o irmão mais
velho do Infante, entreteve-se a compartimentar essas «hidades» da vida humana, que depois dos oitenta lhe
parecia só «trabalho e door»: «ifancia ataa VII anos, puerícia ataa XIIII, ataa XXI adollacencia, mancebia ataa cinquoenta, velhice ataa LXX, senyum» (senectude) «ataa LXXX. E dalli ata a fim da vida decrepidõoe». Mas
preferia «outra repartiçam», de
sete em sete anos, de que fixaremos apenas as fases biográficas galgadas pelos
três infantes mais velhos da «ínclita
geração» até
à tomada de Ceuta: «Na primeira, aos sete, se
mudam os dentes. Segunda, de XIIII, som em hidade pera poderem casar. Terceira, de XXI,
que acabam de crecer.»
As Cruzadas Vistas pelos
Árabes,
de Amin Maalouf. Como não me quero demorar mais, limito-me a transcrever o que encontro sobre esta obra num caderno de apoio a um manual (Novo Plural 10): «É a autobiografia do embaixador árabe Hasan al-Wazzan, capturado e entregue ao papa Leão X, quando ia para Meca em peregrinação. Combinando História e Literatura, o livro revela, numa perspetiva árabe, contrária àquela a que nos habituámos no Ocidente, episódios e personagens famosos ligados às Cruzadas, desde o século XI, mostrando os cruzados cristãos como bárbaros cruéis, sanguinários, fanáticos e
culturamente atrasados». Início (do «Prólogo»):
Bagdad,
agosto
de 1099
Sem
turbante, cabeça rapada em sinal de luto, o venerável cádi Abu-Saad al-Harawi
entra aos gritos no vasto divã do califa al-Mustazhir-billah. Na sua esteira,
uma multidão de companheiros, jovens e velhos. Estes aprovam ruidosamente cada
uma das suas palavras e oferecem, como ele, o espectáculo provocante de uma
barba abundante sob um crânio nu. Alguns dignitários da corte tentam acalmá-lo,
mas, afastando-os de um gesto desdenhoso, ele avança resolutamente para o meio
da sala, depois, com a eloquência veemente de um pregador do alto do púlpito,
admoesta todos os presentes, sem atender à sua categoria:
—
Ousais dormitar à sombra de uma venturosa segurança, numa vida frívola como a
flor do jardim, quando os vossos irmãos da Síria já não têm outra morada senão
as selas dos camelos ou as entranhas dos abutres? Quanto sangue derramado!
Quantas belas donzelas tiveram, por vergonha, de esconder o seu doce rosto nas
suas mãos! Então os valorosos Árabes sujeitam-se à ofensa e os bravos
Persas aceitam a desonra?
«Era
um discurso de fazer chorar os olhos e comover os corações», dirão os cronistas
árabes. Toda a assistência é sacudida pelos gemidos e lamentações. Mas
al-Harawi não quer os seus soluços.
#
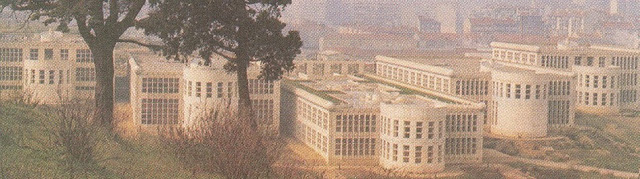 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)


































<< Home