Aula 21 da Quarentena (= 147)
Aula 147 [21 da Quarentena] (21/mai [3,ª, 4.ª, 5.ª, 9.ª]) Começo
por corrigir um lapso (só no turno 2 do 12.º 9.ª, porque depois, graças a F.,
ainda pude advertir essa gralha de uma das tabelas). Como é óbvio, o cap. XVI
de O Ano da Morte de Ricardo Reis decorre em junho de 1936 (em finais de 35 chega Reis, pouco
depois de morrer Pessoa; a partir do cap. IV, entramos em 1936, que é, muito
maioritariamente, o ano da morte de Ricardo Reis).
Estive
a corrigir nos últimos dias o trabalho de criação de versos ao estilo dos vários
Pessoas. Problema primeiro: noção de verso (houve quem fizesse estrofes, ou parágrafos,
ou títulos, ou simples expressões nominais). Problema segundo: alguns não conhecem bem o estilo de cada
heterónimo.
No
caso de Campos estava indicado «futurista-sensacionista», ou seja, o das odes
vertiginosas (por exemplo: «Ode Marítima», «Ode Triunfal» , «Saudação a Walt Whitman»,
facílimas de imitar, «pastichar»). Uns imitaram aqui o Campos do tédio e nostalgia,
mas mesmo esse, o de «Aniversário» ou de «Tabacaria», é menos bem comportado do que se depreende de alguns versos vossos. E, claro,
falar de futuro não chega para se ser futurista-sensacionista (e, já agora, como sempre lembro, não é «*sensacionalista»).
No
caso de Caeiro, esqueceram a simplicidade da sua sintaxe (feita de muito verbo
«ser», léxico mais que acessível, frases só justapostas), sofisticando demasiado
os seus versos.
Poucos
captaram o estilo messiânico, profético, sebastianista de Mensagem (que
tem o seu lado de épico mas não o embevecimento pelos heróis portugueses à Lusíadas).
Ricardo
Reis surgiu por vezes demasiado desejoso, feliz ou alegre, quando a reserva, a moderação, o controlo emocional, são características da sua
escolha estoica e epicurista.
No
caso do ortónimo refugiaram-se na menção da saudade, da nostalgia da infância,
só que esquecendo que se trata de uma saudade do que logo se diz não
ter acontecido ou, pelo menos, do que não poderia ter sido captado, já que só
agora se pensa e, quando se podia sentir, não se pensava. Mas para o ortónimo
havia mais saídas (sonho versus realidade; a fragmentação do eu; a constante
busca do autorretrato psíquico; o fingimento artístico).
Agradeço
à colega de cujos versos me sirvo a
seguir (haveria outros bons exemplos possíveis):
Alberto
Caeiro – Olho a tarte e gosto dela mas não me ponho a pensar se ela sente.
Álvaro
de Campos – Eia! Eia tarte de maçã, és o passado a cumprir a promessa de Lloyd
no presente!
Ricardo
Reis – Toma! Que saboreies a tarte, seguindo depois o teu destino.
Fernando
Pessoa ortónimo – Oh! És o sabor, nesta grande dor, da minha feliz infância!
Fernando
Pessoa de Mensagem – Valeu a pena? A tarte vale a pena se a alma de
Darren não é pequena!
[Inês
S., 12.º 3.ª]
Copio
a seguir um texto que é do nosso manual, que dá também boa ideia das diferentes
perspetivas de cada Pessoa:
Diálogo argumentativo, a que refere a p. 91 do Plural 12
Na Casa da
Poesia estão sentados cinco homens. Têm sensivelmente a mesma idade, vinte e
poucos anos, e apesar das diferenças que, claramente, os distinguem — não
apenas físicas, é claro, mas também de porte, de estilo, de maneira de estar —
parece uni-los uma invisível cumplicidade, ou um conhecimento anterior ao
tempo, talvez.
ÁLVARO DE CAMPOS — Uma mesa cheia de copos,
uma garrafa e um jarro de água. O que é que esta realidade vos diz?
ALBERTO CAEIRO — Que sobre esta mesa está um jarro de água, uma
garrafa de vinho e dez copos. A realidade existe e eu vejo-a,
nada mais me
diz e eu nada mais preciso de saber.
RICARDO REIS — Diz-nos
que enchamos
os copos e brindemos a esta hora tranquila e irrepetível.
PESSOA ORTÓNIMO — Brindemos! E ao pegar no
meu copo para fazer o brinde, pensarei na casa antiga, sonhando- -me na sala em
dias de visitas dos tios e dos primos, a mesa cheia de copos para os brindes ou
só para matar a sede.
BERNARDO SOARES — Eu olho os copos, mas
aquilo que mais vejo é a fábrica de vidro, cheia de operários tristes a transpirar
de calor, cansados da sua realidade, que começa a viver e a crescer na minha
imaginação.
ÁLVARO DE CAMPOS — Compreendo. Nesta
realidade de copos em cima da mesa, está a memória de outros copos e de outras
mesas, porventura mais felizes e festivas. Está também a imaginação de copos
distantes, alguns à espera no futuro, quem sabe. Mas brindemos e saboreemos
este vinho do norte que há de transportar-nos para bem longe daqui. Brindemos e
sonhemos!
ALBERTO CAEIRO — Não! Brindemos à
realidade, porque só a realidade é verdadeira, tudo o mais não existe. Se eu
vejo estes objetos sobre a mesa, é a sua visão que me desperta: uns
copos tingidos de vermelho do vinho, a água transparente no jarro atravessado
pela luz, um cheiro um pouco ácido a desprender-se da garrafa que está perto
do meu nariz. E esta a realidade presente, concreta, sem mistério, verdadeira.
Para que hei de pensar no passado, que já não existe, ou no futuro, que não
posso ver? Pensar é estar doente dos
olhos.
Se eu olhar a luz desta garrafa a pensar em instantes passados ou a sonhar com
um futuro imprevisível, por isso inútil, não vejo a maravilhosa luz que agora
encanta os meus olhos, nem saboreio a frescura da água ou o perfume do vinho
que neste instante partilhamos com alegria. Para quê pensar, se temos sentidos?
Pensar é não compreender.
ÁLVARO DE CAMPOS — Ora, brindemos, pois
claro! Por mim, podemos brindar e voltar a brindar e também eu vejo a mesma
realidade e estou com ela. Vamos lá pegar neste copo, o vinho é para saborear
intensamente e ele há de levar- -me para bem longe daqui. O passado? Talvez,
Fernando, também me lembro da casa antiga e da mesa cheia de copos e tenho
saudades, oh! Se tenho saudades! Do passado e do futuro, tenho saudades do
futuro: onde estarei amanhã? Onde poderia estar, se aqui não estivesse? Tenha
paciência, Mestre, mas o que seria a vida sem o sonho? A realidade desta mesa é
igual à das outras mesas à volta, nesta rua, igual a todas as ruas que daqui
avistamos. Eu quero sentir a realidade, mas também quero sonhar. Sonhar! E,
tenho de o dizer, Mestre: a minh'alma está com o
que vejo menos.
BERNARDO SOARES — Estou consigo, amigo
Campos, o sonho é mais real do que a realidade e eu nunca fiz senão sonhar. Tem sido esse, e esse apenas, o
sentido da minha vida. Nunca tive outra preocupação verdadeira senão a minha
vida interior.
A realidade nada me interessa, porque ela é monótona e pobre. A vida interior,
Ah! A vida interior não tem limites e eu sonho-me
tudo aquilo
que o meu desejo me sugerir. É falsa a vida, assim? E conhecem alguma verdade
mais verdadeira do que o sonho? Sonhar abre todas as possibilidades de vida. Tenho um mundo de amigos dentro de mim, com vidas próprias, reais,
definidas e imperfeitas. O que me dizem estes copos? Já disse: fazem-me imaginar
as fábricas vidreiras.
FERNANDO
PESSOA — Tem sorte, Bernardo Soares, viver a sonhar e
dizê-lo com essa resignação e até satisfação é invejável. Mas eu, onde vivo eu?
Na realidade ou no sonho? A realidade existe, estou dentro dela e eu queria
senti-la, como o Mestre Caeiro. Não procuro fugir para o passado, nem para o
sonho e, no entanto, estou sempre lá, o pensamento não para, arrasta-me, faz-me sonhar com aquilo que está para além da estreita realidade. Contemplo o
que não vejo — eis a minha verdade. Sempre entre a realidade e o
sonho. Digo-o sem alegria, mas não poderia viver de outra
maneira.
RICARDO
REIS — Não nos cansemos, meus amigos. Vivamos a
realidade. Bebamos ao momento que passa. Sonhar? Não me interessam os sonhos,
porque nos obrigam a ir para o futuro e no fim do futuro está o quê? A morte!
Ah! Pois é... Vá, o prazer está aqui, ao alcance das nossas mãos e das nossas
bocas. Brindemos à realidade desta tarde de Primavera. Carpe
Diem! Fernando, Colhe o dia,
porque és ele!
Agora
a aula de hoje propriamente dita. Ainda antes do capítulo que estudámos esta
semana na primeira aula desconfinada (tudo isto é tão ridículo, não é?),
Ricardo Reis foi a Fátima, na esperança de encontrar Marcenda. O capítulo, o
XIV, é um pretexto para Saramago (aqui podemos dizer mesmo Saramago e não
apenas narrador) se deter no fenómeno ‘Fátima’.
Copio
a seguir as páginas relativas à viagem de Reis. Relê-as. Depois veremos outras perspetivas
acerca de Fátima: a de um Guia de Portugal, de 1927; a do próprio Fernando
Pessoa, que, talvez em 1935, escreveu uma linhas em prosa sobre Fátima; a de um
sketch que já vimos.
Comecemos
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, cap. XIV. Marquei a amarelo os passos em
que o narrador faz referência a um rapazinho que teria descido na estação de
Mato de Miranda (precisamente a que servia Azinhaga, a aldeia de José Saramago;
e o miúdo de uns doze, treze anos, era, é claro, o próprio autor que estudava
então em Lisboa e regressava à aldeia periodicamente). Nada disto é explicitado
com nomes mas percebe-se. Os dados da vida real corroboram-no: Saramago nasceu
em finais de 1922, em 36 seria um adolescente de treze anos). É um efeito
interessante este, porque não se trata em rigor de um texto memorialístico; o autor faz
que a criança que foi seja observada por uma personagem de ficção (há certos
realizadores que gostam de surgir nos seus filmes a desempenharem pequenos
papéis, quase incógnitos — é quase isso que acontece aqui).
A azul assinalei um sonho (que inclui Marcenda) e, mais perto do fim do capítulo, outros dois trechos.
Queria que comentasses estes passos (porei a pergunta mais à frente).
Com lilás ficam os passos que descrevem o
que dirás mais à frente.
A verde, um passo que me parece interessante por associar
Reis a um tema efetivamente de Reis.
A cinzento, uma parte em torno de publicidade,
através do lançamento de prospeto por avião ao fortificante Bovril. Este
lançamento só se justificaria por estar muita gente em romagem (não seria
decerto processo muito comum à época). O Bovril, pelos vistos, ainda existe.
No
dia seguinte, tão cedo que achou prudente fazer-se
acordar pelo
despertador, Ricardo Reis partiu para Fátima. O comboio saía do Rossio às cinco
horas e cinquenta e cinco minutos, e meia hora antes de a composição entrar na
linha já o cais estava apinhado de gente, pessoas de todas as idades carregando
cestos, sacos, mantas, garrafões, e falavam alto, chamavam uns pelos outros.
Ricardo Reis acautelara-se com bilhete de primeira classe, lugar marcado,
revisor cumprimentando de boné na mão, bagagem pouca, uma simples maleta,
descrera do aviso de Lídia, Aquilo por lá tem de se dormir ao relento, em
chegando logo veria, decerto será possível encontrar cómodos para viajantes e
peregrinos, se forem estes de qualidade. Sentado à janela, no assento
confortável, Ricardo Reis olha a paisagem, o grande Tejo, as lezírias ainda
alagadas aqui e além, gado bravo pastando, sobre a toalha brilhante do rio as
fragatas de água-acima, em dezasseis anos de ausência esquecera-se
de que era
assim, e agora as novas imagens colavam-se, coincidentes, às imagens
que a memória ia ressuscitando, como se ainda ontem tivesse passado aqui. Nas
estações e apeadeiros entra mais gente, este comboio é trama, lugares na
terceira classe não deve haver nem um desde o Rossio, ficam os passageiros nas
coxias atravancadas, provavelmente a invasão da segunda classe também já
começou, em pouco começarão a romper por aí, não serve de nada protestar, quem
quer sossego e roda livre vai de automóvel. Depois de Santarém, na longa subida
que leva a Vale de Figueira, o comboio resfolga, lança jorros rápidos de vapor,
arqueja, é muita a carga, e vai tão devagar que daria tempo para sair dele,
apanhar umas flores nesses valados e em três passadas tornar a subir ao
estribo. Ricardo Reis sabe
que dos passageiros que vão neste compartimento só dois não descerão em Fátima.
Os romeiros falam de promessas, disputam sobre quem leva primazia no número de
peregrinações, há quem declare, talvez falando verdade, que nos últimos cinco
anos não falhou uma, há quem sobreponha, acaso mentindo, que com esta são oito,
por enquanto ninguém se gabou de conhecer a irmã Lúcia, a Ricardo Reis lembram
estes diálogos as conversas de sala de espera, as tenebrosas confidências sobre
as bocas do corpo, onde todo o bem se experimenta e todo o mal acontece. Na estação de Mato de Miranda,
apesar de aqui ninguém ter entrado, houve demora, o respirar da máquina ouvia-se longe, lá na curva, sobre os olivais pairava uma grande
paz. Ricardo Reis baixou a vidraça, olhou para fora. Uma mulher idosa,
descalça, vestida de escuro, abraçava um rapazinho magro, de uns treze anos,
dizia, Meu rico filho, estavam os dois à espera de que o comboio recomeçasse a
andar para poderem atravessar a linha, estes não iam a Fátima, a velha viera
esperar o neto que vive em Lisboa, ter-lhe chamado
filho foi apenas sinal de amor, que, dizem os entendidos em afetos, não há
nenhum acima deste.
Ouviu-se a corneta do chefe da estação, a locomotiva
apitou, fez pf, pf, pf, espaçadamente, aos poucos e poucos acelerou, agora o caminho
é a direito, parece que vamos de comboio rápido. Picou-se
o apetite com
o ar da manhã, abrem-se os primeiros farnéis, mesmo
vindo ainda tão longe a hora de almoçar. Ricardo Reis está de olhos fechados,
dormita ao embalo da carruagem, como num berço, sonha intensamente, mas quando
acorda não consegue recordar-se do que sonhou, lembra-se
de que não
teve oportunidade de avisar Fernando Pessoa de que viria a Fátima, que irá ele
pensar se aparece lá em casa e não me encontra, cuidará que voltei para o
Brasil, sem uma palavra de despedida, a última. Depois constrói na imaginação uma cena, um lance de que
Marcenda é principal figura, vê-a ajoelhada, de mãos postas,
os dedos da mão direita entrelaçados nos da esquerda, assim a sustentando no
ar, erguendo o morto peso do braço, passou a imagem da Virgem Nossa Senhora e
não se deu o milagre, nem admira, mulher de pouca fé, então Ricardo Reis aproxima-se, Marcenda levantara-se,
resignada, é então que ele lhe toca no seio com os
dedos médio e indicador, juntos, do lado do coração, não foi preciso mais,
Milagre, milagre, gritam os peregrinos, esquecidos dos seus próprios males, basta-lhes o milagre alheio, agora afluem, trazidos de roldão ou vindos por seu
difícil pé, os aleijados, os paralíticos, os tísicos, os chagados, os frenéticos,
os cegos, é toda a multidão que rodeia Ricardo Reis, a implorar uma nova
misericórdia, e Marcenda, por trás da floresta de cabeças uivantes, acena com
os dois braços levantados e desaparece, criatura ingrata, achou-se servida e foi-se
embora. Ricardo Reis abriu os olhos, desconfiado de que
adormecera, perguntou ao passageiro do lado, Quanto tempo ainda falta, Estamos
quase a chegar, afinal dormira, e muito.
Na
estação de Fátima o comboio despejou-se. Houve empurrões de peregrinos
a quem já dera no rosto o perfume do sagrado, clamores de famílias subitamente
divididas, o largo fronteiro parecia um arraial militar em preparativos de
combate. A maior parte destas pessoas farão a pé a caminhada de vinte
quilómetros até à Cova da Iria, outras correm para as bichas das camionetas da
carreira, são as de perna trôpega e fôlego curto, que neste esforço acabam de
estafar-se. O céu está limpo, o sol forte e quente. Ricardo Reis foi à procura
de um lugar onde pudesse almoçar. Não faltavam ambulantes a vender regueifas, queijadas, cavacas das
Caldas, figos secos, bilhas de água, frutas da época, e colares de pinhões, e
amendoins e pevides, e tremoços, mas de restaurantes nem um que
merecesse tal nome, casas de pasto poucas e a deitar por fora, tabernas onde
nem entrar se pode, precisará de muita paciência antes que alcance garfo, faca
e prato cheio. Porém, veio a tirar benefício do fortíssimo influxo espiritual
que distingue estas paragens, foi caso que, por o verem assim bem-posto, vestido
à cidade, houve fregueses que lhe deram, rusticamente, a vez, e por esta urbanidade pôde
Ricardo Reis comer, mais depressa do que esperava, uns carapaus fritos com
batatas cozidas, de azeite e vinagre, depois uns ovos mexidos por amor de Deus,
que para o comum não havia tempo nem paciência para tais requintes. Bebeu vinho
que podia ser de missa, comeu o bom pão do campo, húmido e pesado, e, tendo
agradecido aos compadres, saiu a procurar transporte. O terreiro mostrava-se um
pouco mais desafogado, à espera doutro comboio, do sul ou do norte, mas, vindos
de além, a pé, não paravam de passar peregrinos. Uma camioneta da carreira
buzinava roucamente a chamar para os últimos lugares, Ricardo Reis deu uma
corrida, conseguiu atingir o assento, alçando a perna por cima dos cestos e dos
atados de esteiras e mantas, excessivo esforço para quem está em processo de
digestão e afracado do calor. Sacolejando muito, a camioneta arrancou,
levantando nuvens de poeira da castigada estrada de macadame. Os vidros, sujos,
mal deixavam ver a paisagem ondulosa, árida, em alguns lugares bravia, como de
mato virgem. O motorista buzinava sem descanso para afastar os grupos de peregrinos
para as bermas, fazia molinetes com o volante para evitar as covas da estrada,
e de três em três minutos cuspia fragorosamente pela janela aberta. O caminho
era um formigueiro de gente, uma longa coluna de pedestres, mas também carroças
e carros de bois, cada um com seu andamento, algumas vezes passava roncando um
automóvel de luxo com chauffeur fardado, senhoras de idade vestidas de preto,
ou cinzento-pardo, ou azul-noturno, e cavalheiros corpulentos, de fato escuro,
o ar circunspecto de quem acabou de contar o dinheiro e o achou acrescido.
Estes
interiores podiam ser vistos quando o veloz veículo tinha de deter a marcha por
estar atravancada a estrada de um numeroso grupo de romeiros levando à frente,
como guia espiritual e material, o seu pároco, a quem se deve louvar por
partilhar de modo equitativo os sacrifícios das suas ovelhas, a pé como elas,
com os cascos na poeira e na brita solta. A maior parte desta gente vai descalça,
alguns levam guarda-chuvas abertos para se defenderem do sol, são pessoas
delicadas da cabeça, que também as há no povo, sujeitas a esvaimentos e
delíquios. Ouvem-se cânticos desalmados, as vozes agudas das mulheres
soam como uma infinita lamúria, um choro ainda sem lágrimas, e os homens, que
quase nunca sabem as palavras, acentuam as sílabas toantes só a acompanhar,
espécie de baixo-contínuo, a eles não se lhes pede mais, apenas que finjam. De
vez em quando aparece gente sentada por esses valados baixos, à sombra das
árvores, estão a repousar um migalho, a ganhar forças para o último troço da
jornada, aproveitam para petiscar um naco de pão com chouriço, um bolo de
bacalhau, uma sardinha frita há três dias lá na aldeia distante. Depois tornam
à estrada, retemperados, as mulheres transportam à cabeça os cestos da comida,
uma que outra dá de mamar ao filho enquanto vai caminhando,
e sobre toda esta gente a poeira cai em nuvens à passagem da camioneta, mas
ninguém sente, ninguém liga importância, é o que faz o hábito, ao monge e ao
peregrino, o suor desce pela testa, abre sulcos no pó, levam-se
as costas da
mão à cara para limpar, pior ainda, isto já não é sujo, é encardido. Com o
calor, os rostos ficam negros, mas as mulheres não tiram os lenços da cabeça,
nem os homens despem as jaquetas, os casacões de pano grosso, não se
desafogam as blusas, não se desapertam os colarinhos, este povo ainda tem na
memória inconsciente os costumes do deserto, continua a acreditar que o que
defende do frio defende do calor, por isso se cobre todo, como se se
escondesse. Numa volta da
estrada está um ajuntamento debaixo duma árvore, ouvem-se gritos, mulheres que
se arrepelam, vê-se um homem deitado no chão. A camioneta
abranda para que os passageiros possam apreciar o espetáculo, mas Ricardo Reis
diz, grita para o motorista, Pare aí, deixe ver o que é aquilo, eu sou médico. Ouvem-se alguns murmúrios de protesto, estes passageiros vão com pressa de chegar
às terras do milagre, mas por vergonha de se mostrarem desumanos logo se calam.
Ricardo Reis desceu, abriu caminho, ajoelhou-se no pó, ao lado
do homem, procurou-lhe a artéria, estava morto, Está morto, disse, só para dizer isto não valia
a pena ter-se interrompido a viagem. Serviu para redobrarem os choros, que a família
era numerosa, só a viúva, uma velha ainda mais velha que o morto, agora sem
idade, olhava com os olhos secos, apenas lhe tremiam os beiços, as mãos
retorciam os cadilhos do xale. Dois dos homens foram na camioneta para irem
participar à autoridade, em Fátima, ela providenciará para que o morto seja
retirado dali e enterrado no cemitério mais perto.
Ricardo Reis vai sentado no seu lugar,
agora alvo de olhares e atenções, um senhor doutor nesta camioneta, é grande
conforto uma companhia assim, mesmo não tendo, desta vez, servido de muito, só
para verificar o óbito. Os homens informavam em redor, Ele já vinha muito
doente, devia era ter ficado em casa, mas ateimou, disse que se enforcava na
trave da cozinha se o deixássemos, assim veio a morrer longe, ninguém foge ao
seu destino. Ricardo Reis assentiu com a cabeça, nem deu pelo movimento, sim
senhor o destino,
confiemos que debaixo daquela árvore alguém espete uma cruz para edificação de
futuros viajantes, um padre-nosso por alma de quem morreu sem confissão nem
santos óleos, mas já a caminho do céu desde que saiu de casa, E se este velho
se chamasse Lázaro, e se aparecesse Jesus Cristo na curva da estrada, ia de
passagem para a Cova da Iria a ver os milagres, e percebeu logo tudo, é o que
faz a muita experiência, abriu caminho pelo meio dos basbaques, a um que
resistiu perguntou, Você sabe com quem está a falar, e aproximando-se
da velha que
não é capaz de chorar disse-lhe, Deixa que eu trato disto,
dá dois passos em frente, faz o sinal da cruz, singular premonição a sua,
sabendo nós, uma vez que está aqui, que ainda não foi crucificado, e clama, Lázaro,
levanta-te e caminha, e Lázaro levantou-se
do chão, foi
mais um, dá um abraço à mulher, que enfim já pode chorar, e tudo volta ao que
foi antes, quando daqui a pouco chegar a carroça com os maqueiros e a
autoridade para levantarem o corpo não faltará quem lhes pergunte, Por que
buscais o vivente entre os mortos, e dirão mais, Não está aqui, mas
ressuscitou. Na Cova da Iria, apesar de muito se esmerarem, nunca fizeram nada
que se parecesse.
Este
é o lugar. A camioneta para, o escape dá os últimos estoiros, ferve o radiador
como um caldeirão no inferno, enquanto os passageiros descem vai o motorista
desatarraxar a tampa, protegendo as mãos com desperdícios, sobem ao céu nuvens
de vapor, incenso de mecânica, defumadouro, com este sol violento não é para
admirar que a cabeça nos tresvarie um pouco. Ricardo Reis junta-se ao
fluxo dos peregrinos, põe-se a imaginar como será um
tal espetáculo visto do céu, os formigueiros de gente avançando de todos os
pontos cardeais e colaterais, como uma enorme estrela, este pensamento fê-lo
levantar os olhos, ou fora o barulho de um motor que o levara a pensar em
alturas e visões superiores. Lá
em cima, traçando um vasto círculo, um avião lançava prospetos, seriam orações
para entoar em coro, seriam recados de Deus Nosso Senhor, talvez desculpando-se
por não poder vir hoje, mandara o seu Divino Filho a fazer as vezes, que até já
cometera um milagre na curva da estrada, e dos bons, os papéis descem devagar
no ar parado, não corre uma brisa, e os peregrinos estão de nariz no ar, lançam
mãos ansiosas aos prospetos brancos, amarelos, verdes, azuis, talvez ali se
indique o itinerário para as portas do paraíso, muitos destes homens e mulheres
ficam com os prospetos na mão e não sabem o que fazer deles, são os
analfabetos, em grande maioria neste místico ajuntamento, um homem vestido de
surrobeco pergunta a Ricardo Reis, achou-lhe ar de quem sabe ler, Que é que diz aqui, ó senhor, e
Ricardo Reis responde, É um anúncio do Bovril, o perguntador olhou desconfiado,
hesitou se devia perguntar que bovil era esse, depois dobrou o papel em
quatro, meteu-o na algibeira da jaqueta, guarda o que não presta e
encontrarás o que é preciso, sempre se encontrará utilidade para uma folhinha
de papel de seda.
É
um mar de gente. Ao redor da grande esplanada côncava vêem-se
centenas de
toldos de lona, debaixo deles acampam milhares de pessoas, há panelas ao lume,
cães a guardar os haveres, crianças que choram, moscas que de tudo aproveitam.
Ricardo Reis circula por entre os toldos, fascinado por este pátio dos milagres
que no tamanho parece uma cidade, isto é um acampamento de ciganos, nem faltam
as carroças e as mulas, e os burros cobertos de mataduras para consolo dos
moscardos. Leva na mão a maleta, não sabe aonde dirigir-se,
não tem um
teto à sua espera, sequer um destes, precário, já percebeu que não há pensões
nas redondezas, hotéis muito menos, e se, não visível daqui, houver alguma
hospedaria de peregrinos, a esta hora não terá um catre disponível, reservados
sabe Deus com que antecedência. Seja o que o mesmo Deus quiser. O sol está
abrasador, a noite vem longe e não se prevê que refresque excessivamente, se Ricardo
Reis se transportou a Fátima não foi para se preocupar com comodidades, mas
para fazer-se encontrado com Marcenda. A maleta é leve, contém
apenas alguns objetos de toilette, a navalha de barba, o pó de sabão, o pincel,
uma muda de roupa interior, umas peúgas, uns sapatos grossos, reforçados na
sola, que é agora altura de calçar para evitar danos irreparáveis nestes de
polimento. Se veio Marcenda, não estará debaixo destes toldos, à filha de um
notário de Coimbra hão de esperá-la outros abrigos, porém, quais, onde. Ricardo
Reis foi à procura do hospital, era um princípio, abonando-se na sua qualidade
de médico pôde entrar, abrir caminho por entre a confusão, em toda a parte se
viam doentes estendidos no soalho, em enxergas, em macas, a esmo por salas e
corredores, ainda assim eram eles os mais calados, os parentes que os
acompanhavam é que produziam um contínuo zumbido de orações, cortado de vez em
quando por profundos ais, gemidos desgarradores, implorações à Virgem, num
minuto alargava-se o coro, subia, alto, ensurdecedor, para voltar ao
murmúrio que não duraria muito. Na enfermaria havia pouco mais de trinta camas,
e os doentes podiam ser bem uns trezentos, por cada um acomodado segundo a sua
condição, dez eram largados onde calhava, para passarem tinham as pessoas de
alçar a perna, o que vale é que ninguém está hoje a pensar em enguiços,
Enguiçou-me, agora desenguice-me, e então usa-se
repetir o
movimento ao contrário, assim ficou apagado o mal feito, prouvera que todos os
males pudessem apagar-se de tão simples maneira.
Marcenda não está aqui, nem seria de contar que estivesse, não é doente
acamada, anda por seu pé, o seu mal é no braço, se não tirar a mão do bolso nem
se nota. Cá fora o calor não é maior, e o sol, felizmente, não cheira mal.
A
multidão cresceu, se é possível, parece reproduzir-se
a si mesma,
por cissiparidade. É um enxame negro gigantesco que veio ao divino mel, zumbe,
murmura, crepita, move-se vagarosamente, entorpecido pela sua própria
massa. É impossível encontrar alguém neste caldeirão, que não é do Pêro
Botelho, mas queima, pensou Ricardo Reis, e sentiu que estava resignado,
encontrar ou não encontrar Marcenda parecia-lhe agora de mínima importância,
estas coisas o melhor é entregá-las ao destino, queira ele que não encontremos
e assim há de acontecer, ainda que andássemos a esconder-nos
um do outro,
e isto lhe pareceu estupidez tê-lo pensado por estas palavras, Marcenda, se
veio, não sabe que eu aqui estou, portanto não se esconderá, logo, maiores são
as probabilidades de a encontrar. O avião continua às voltas, os papéis coloridos
descem pairando, agora já ninguém liga, exceto os que vêm chegando e veem
aquela novidade, pena foi não terem posto no prospeto o desenho daquele anúncio
do jornal, muito mais convincente, com o doutor de barbicha e a dama doentinha,
em combinação, Se tivesse tomado Bovril não estava assim, ora aqui em Fátima
não faltam pessoas em pioríssimo estado, a elas, sim, seria providência o
frasco miraculoso. Ricardo Reis despiu o casaco, pôs-se
em mangas de
camisa, abana com o chapéu o rosto congestionado, de repente sentiu as pernas
pesadas de fadiga, foi à procura duma sombra, aí se deixou ficar, alguns dos
vizinhos dormiam a sesta, extenuados da jornada, de orações no caminho, a
cobrar forças para a saída da imagem da Virgem, para a procissão das velas,
para a longa vigília noturna, à luz das fogueiras e lamparinas. Dormitou
também um pouco, recostado no tronco da oliveira, a nuca apoiada no musgo
macio. Abriu os olhos, viu o céu azul por entre as ramagens, e lembrou-se do rapazinho magro naquela estação, a quem a avó, devia
ser avó, pela idade, dissera, Meu rico filho, que estará ele a fazer agora, com
certeza descalçou os sapatos, é a primeira coisa que faz quando chega à aldeia,
a segunda é descer ao rio, bem pode a avó dizer-lhe, Não vás ainda que está muito calor, mas ele não ouve nem
ela espera ser ouvida, rapazes desta idade querem-se livres, fora das saias das mulheres, atiram pedras às rãs
e não pensam no mal que fazem, um dia lhes virão os remorsos, tarde de mais,
que para estes e outros animaizinhos não há ressurreições. Tudo parece absurdo a
Ricardo Reis, este ter vindo de Lisboa a Fátima como quem veio atrás duma miragem
sabendo de antemão que é miragem e nada mais, este estar sentado à sombra duma
oliveira entre gente que não conhece e à espera de coisa nenhuma, este pensar num rapazinho visto
de relance numa sossegada estação de caminho-de-ferro, este desejo súbito de
ser como ele, de limpar o nariz ao braço direito, de chapinhar nas poças de
água, de colher as flores e gostar delas e esquecê-las, de roubar a fruta dos
pomares, de fugir a chorar e a gritar dos cães, de correr atrás das raparigas e
levantar-lhes as saias, porque elas não gostam, ou gostam, mas fingem o
contrário, e ele descobre que o faz por gosto seu inconfessado, Quando foi que
vivi, murmura Ricardo Reis, e o peregrino do lado julgou que era uma oração nova, uma
prece que ainda está à experiência.
O
sol vai descendo, mas o calor não abranda. No terreiro imenso parece não caber
um alfinete, e contudo, de toda a periferia, movem-se
contínuas
multidões, é um escoar ininterrupto, um desaguar, lento à distância, mas deste
lado há ainda quem procure alcançar os melhores lugares, o mesmo estarão
fazendo além. Ricardo
Reis levanta-se, vai dar uma volta pelas cercanias, e então, não pela
primeira vez, mas agora mais cruamente, apercebe-se duma outra peregrinação, a do comércio e mendicância. Aí
estão os pobres de pedir e os pedinchões, distinção que não é meramente formal,
que escrupulosamente devemos estabelecer, porque pobre de pedir é apenas um
pobre que pede, ao passo que pedinchão é o que faz do pedir modo de vida, não
sendo caso raro chegar a rico por esse caminho. Pela técnica não se distinguem,
aprendem da comum ciência, e tanto lamuria um como suplica outro, de mão
estendida, às vezes as duas, cúmulo teatral a que é muito difícil resistir,
Uma esmolinha por alma de quem lá tem, Deus Nosso Senhor lhe dará o pago,
Tenham dó do ceguinho, tenham dó do ceguinho, e outros mostram a perna
ulcerada, o braço mirrado, mas não o que procuramos, de súbito não sabemos
donde veio o horror, esta cantilena gemebunda, romperam-se os portões do inferno, que só do inferno podia ter
saído um fenómeno assim, e agora são os cauteleiros apregoando os números da
sorte, com tanta algazarra que não nos admiremos que as rezas suspendam o voo a
meio caminho do céu, há quem interrompa o padre-nosso para palpitar o três mil
seiscentos e noventa e quatro, e segurando o terço na mão distraída apalpa a
cautela como se lhe estivesse a calcular o peso e a promessa, desatou do lenço
os escudos requeridos, e torna à oração no ponto em que a interrompera, o pão
nosso de cada dia nos dai hoje, com mais esperança. Arremetem os vendedores de
mantas, de gravatas, de lenços, de cestos, e os desempregados, de braçadeira
posta, que vendem postais-ilustrados, não se trata precisamente duma venda,
recebem primeiro a esmola, entregam depois o postal, é uma maneira de salvar a
dignidade, este pobre não é pedinchão nem é de pedir, se pede é só porque está
desempregado, ora aqui temos uma ideia excelente, andarem os desempregados
todos de braçadeira, uma tira de pano preto onde se leia, com todas as letras,
brancas para darem mais nas vistas, Desempregado, facilitava a contagem e
evitava que deles nos esquecêssemos. Mas o pior de tudo, porque ofende a paz
das almas e perturba a quietude do lugar, são os vendilhões, pois são muitos e
muitas, livre-se Ricardo Reis de passar por ali, que num ápice lhe
meterão à cara, em insuportável gritaria, Olhe que é barato, olhe que foi
benzido, a imagem de Nossa Senhora em bandejas, em esculturas, e os rosários
são aos molhos, e os crucifixos às grosas, e as medalhinhas aos milheiros, os
corações de Jesus e os ardentes de maria, as últimas ceias, os nascimentos, as
verónicas, e, sempre que a cronologia o permite, os três pastorinhos de mãos
postas e joelhos pé-terra, um deles é rapaz, mas não consta do registo
hagiológico nem do processo de beatificação que alguma vez se tenha atrevido a
levantar as saias às raparigas. Toda a confiaria mercantil grita possessa, ai
do judas vendedor que, por artes blandiciosas, furte freguês a negociante
vizinho, aí se rasga o véu do templo, caem do céu da boca pragas e injúrias
sobre a cabeça do prevaricador e desleal, Ricardo Reis não se lembra de ter alguma vez
ouvido tão saborosa litania, nem antes nem no Brasil, é um ramo da oratória que
se tem desenvolvido muito. Esta preciosa joia da catolicidade resplandece por
muitos lumes, os do sofrimento a que não resta mais esperança do que vir aqui
todos os anos a contar que lhe chegue a vez, os da fé que neste lugar é sublime
e multiplicadora, os da caridade em geral, os da propaganda do Bovril, os da
indústria de bentinhos e similares, os da quinquilharia, os da estampagem e da
tecelagem, os dos comes e bebes, os dos perdidos e achados, próprios e
figurais, que nisto se resume tudo, procurar e encontrar, por isso é que Ricardo
Reis não para, procurar procura ele, falta saber se encontrará. Já foi ao
hospital, já percorreu os acampamentos, já cruzou a feira em todos os sentidos,
agora desceu à esplanada rumorosa, mergulha na profunda multidão, assiste aos
exercícios, aos trabalhos práticos da fé, as orações patéticas, as promessas
que se cumprem em arrasto de joelhos, com as rótulas a sangrar, amparada a
penitente pelos sovacos antes que desmaie de dor e insofreável arroubo, e vê
que os doentes foram trazidos do hospital, dispostos em alas, entre eles
passará a imagem da Virgem Nossa Senhora no seu andor coberto de flores
brancas, os olhos de Ricardo Reis vão de rosto em rosto, procuram e não
encontram, é como estar num sonho cujo único sentido fosse precisamente não o
ter, como sonhar com uma estrada que não principia, com uma sombra posta no
chão sem corpo que a tivesse produzido, com uma palavra que o ar pronunciou e
no mesmo ar se desarticula. Os cânticos são elementares, toscos, de sol e dó, é
um coro de vozes trémulas e agudas, constantemente interrompido e retomado, A
treze de maio, na Cova da Iria, de súbito faz-se
um grande
silêncio, está a sair a imagem da capelinha das aparições, arrepiam-se as
carnes e o cabelo da multidão, o sobrenatural veio e soprou sobre duzentas mil
cabeças, alguma coisa vai ter de acontecer. Tocados de um místico fervor, os
doentes estendem lenços, rosários, medalhas, com que os levitas tocam a imagem,
depois devolvem-nos ao suplicante, e dizem os míseros, Nossa Senhora
de Fátima dai-me vida, Senhora de Fátima permiti que eu ande,
Senhora de Fátima permiti que eu veja, Senhora de Fátima permiti que eu ouça,
Senhora de Fátima sarai-me, Senhora de Fátima,
Senhora de Fátima, Senhora de Fátima, os mudos não pedem, olham apenas, se ainda
têm olhos, por mais que Ricardo Reis apure a atenção não consegue ouvir,
Senhora de Fátima põe neste meu braço esquerdo a tua mirada e cura-me se
puderes, não tentarás o Senhor teu Deus nem a Senhora Sua Mãe, e, se bem
pensasses, não deverias pedir, mas aceitar, isto mandaria a humildade, só Deus
é que sabe o que nos convém.
Não houve milagres. A imagem saiu, deu a
volta e recolheu-se, os cegos ficaram cegos, os mudos sem voz, os paralíticos sem movimento,
aos amputados não cresceram os membros, aos tristes não diminuiu a
infelicidade, e todos em lágrimas se recriminam e acusam, Não foi bastante a
minha fé, minha culpa, minha máxima culpa. Saiu a Virgem da sua capela com tão
bom ânimo de fazer alguns feitos milagrosos, e achou os fiéis instáveis, em vez
de ardentes sarças trémulas lamparinas, assim não pode ser, voltem cá para o
ano. Começam
a tornar-se compridas as sombras da tarde, o crepúsculo aproxima-se devagar,
também ele em passo de procissão, aos poucos o céu perde o vivo azul do dia,
agora é cor de pérola, porém naquele lado de além, o sol, já escondido por trás
das copas das árvores, nas colinas distantes, explode em vermelho, laranja e
roxo, não é rodopio, mas vulcão, parece impossível que tudo aquilo aconteça em
silêncio no céu onde o sol está. Daqui a pouco será noite, vão-se acendendo as fogueiras,
calaram-se os vendilhões, os pedintes contam as moedas,
debaixo dessas árvores alimentam-se os corpos, abrem-se os
farnéis desbastados, morde-se o pão duro, leva-se o
pipo ou a borracha à boca sedenta, este é o comum de todos, as variantes de conduto
são conforme as posses. Ricardo Reis arranchou com um grupo debaixo de toldo,
sem confianças, apenas uma irmandade de ocasião, viram-no
ali com ar de
quem estava perdido, de maleta na mão, uma manta que comprou enrolada no braço,
reconheceu Ricardo Reis que ao menos um abrigo assim lhe conviria, não fosse
refrescar a noite, e disseram-lhe, O senhor, é servido, e ele começou por
dizer, Não, obrigado, mas eles insistiram, Olhe que é de boa vontade, e estava a
sê-lo, como se viu logo, era um grande rancho, dos lados
de Abrantes. Este murmúrio que se ouve em toda a Cova da Iria é tanto o da
mastigação como das preces ainda, enquanto uns satisfazem o apetite do
estômago, outros consolam as ânsias da alma, depois alternarão aqueles com
estes. Na escuridão, à fraca luz das fogueiras, Ricardo Reis não encontrará
Marcenda, também não a verá mais tarde, quando for a procissão das velas, não a
encontrará no sono, todo o seu corpo é cansaço, frustração, vontade de sumir-se. A
si mesmo se vê como um ser duplo, o Ricardo Reis limpo, barbeado, digno, de
todos os dias, e este outro, também Ricardo Reis, mas só de nome, porque não
pode ser a mesma pessoa o vagabundo de barba crescida, roupa amarrotada, camisa
como um trapo, chapéu manchado de suor, sapatos só poeira, um pedindo contas
ao outro da loucura que foi ter vindo a Fátima sem fé, só por causa duma
irracional esperança, E se você a visse, o que é que lhe dizia, já imaginou a
cara de tolo que faria se ela lhe aparecesse pela frente, ao lado do pai, ou,
pior ainda, sozinha, veja esse seu aspeto, acha que uma rapariga, mesmo
defeituosa, se apaixona por um médico insensato, não percebe que aquilo foram
sentimentos de ocasião, tenha mas é juízo, agradeça antes a Nossa Senhora de
Fátima não a ter encontrado aqui, se é que ela realmente veio, nunca imaginei
que você fosse capaz de cenas tão ridículas. Ricardo Reis aceita com humildade
as censuras, admite as recriminações, e, com a grande vergonha de se ver tão
sujo, imundo, puxa a manta por cima da cabeça e continua a dormir. Ali perto
há quem ressone sem cuidados, e detrás daquela oliveira grossa ouvem-se murmúrios
que não são de prece, risinhos que não soam como o coro dos anjos, ais que não
parecem de espiritual arrebatamento. A madrugada vem clareando, há madrugadores
que se espreguiçam e se levantam para espevitar o lume, é um dia novo que
começa, novos trabalhos para o ganho do céu.
A
meio da manhã, Ricardo Reis resolveu partir. Não ficou para o adeus à Virgem,
as suas despedidas estavam feitas. O avião passara por duas vezes e lançara mais prospetos do Bovril.
A camioneta levava poucos passageiros, não admira, logo é que será a grande
debandada. Na curva do caminho estava uma cruz de pau espetada no chão. Afinal não tinha havido milagre.
Completa:
[1.] A lilás estão passos que mostram uma característica de Fátima
que se pretende evidenciar pejorativamente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[2.] A verde ficou um passo que me parece interessante por associar
Ricardo Reis a um tema efetivamente recorrente no heterónimo Reis, o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , na medida em
que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
[3.] Relendo tudo que está assinalado a azul ao longo do longo texto reproduzido
(são três as zonas que marquei a azul, mas estão por vezes distantes), comenta a «polissemia» do último
período do capítulo: «Afinal não tinha havido
milagre».
Explica as interpretações sugeridas, fundamentando a tua análise com citações do texto. (Sugiro cerca de
cento e cinquenta palavras.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando
Pessoa, já no final da vida, talvez em 1935, ou seja, bastante perto do ano em
que o Ricardo Reis ficcionado viaja até Fátima (que é 1936), escreveu uma linhas
sobre Fátima. O texto, que não ficou concluído, foi estudado por José Barreto,
que encontrou pelo espólio de Pessoa mais trechos relacionados com Fátima. Desse
texto de, presumivelmente, 1935 reproduzo apenas umas partes mais ou menos
soltas (creio que fundadas em decifração de Barreto). Pode ser útil lembrar que Lourdes é o local de romagem em França que, de certo modo, terá inspirado Fátima.
Fátima é o nome de uma taberna de Lisboa onde às vezes... eu bebia aguardente.
Um
momento... Não é nada disso... fui levado pela emoção mais que pelo pensamento,
e é com o pensamento que desejo escrever.
Fátima
é o nome de um lugar da província, não sei onde ao certo, perto de um outro
lugar do qual tenho a mesma ignorância geográfica mas que se chama Cova de
qualquer santa. Nesse lugar em um ou no
outro — ou perto de qualquer deles, ou de — ambos, viram um dia umas crianças
aparecer Nossa Senhora, o que é, como toda a gente sabe, um dos privilégios
infinitos a que se não parte a corda.
[...]
e assim como passou a haver “liberdades” em vez de “liberdade”, assim também
passou a haver crenças em vez de crença, fés em vez de fé, e vários outros plurais
ainda mais singulares.
[...]
Seja como for, o facto é que há em Portugal um lugar que pode concorrer e
vantajosamente com Lourdes. Há curas maravilhosas, a preços muito em conta; há
peregrinações que dispensam o comboio (criação do estúpido etc!).
[...]
O negócio da religião a retalho, no que diz respeito à Loja de Fátima, tem
tomado grande incremento, com manifesto êxtase místico da parte dos hotéis,
estalagens e outro comércio desses jeitos — o que, aliás, está plenamente de
acordo com o Evangelho, cuidando-se de bens materiais, “Buscai-vos o Reino de
Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas”.
[4.] Uma crítica a Fátima implícita nesta prosa de Pessoa (crítica semelhante a outra que vimos no texto de Saramago) é a de que . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Também não é muito simpática a descrição de Fátima que temos no segundo volume do Guia de Portugal, de 1927. O Guia de Portugal procurava ser um roteiro
utilitário para o viajante, mas pretendia igualmente constituir uma coleção de
descrições literárias da responsabilidade de bons escritores. O passo de Fátima
(pp. 505-506) terá sido escrito pelo organizador da obra, Raul Proença, talvez apoiado em apontamentos de Jaime Cortesão.
[5.] Desta descrição do local (de apenas uma década após a aparição), ressalta sobretudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainda a propósito de Fátima não podia deixar de repetir (creio que é já a terceira vez) o passo do milagre em O Último a Sair:
Ainda a propósito de Fátima não podia deixar de repetir (creio que é já a terceira vez) o passo do milagre em O Último a Sair:
TPC — A partir de agora,
sentir-me-ei livre para testar a efetiva leitura de O Ano da Morte de
Ricardo Reis. Além do manual, procura levar também o livro de Saramago para
as aulas. Para a próxima aula presencial — isto é, a da semana de 26-29 de maio — leva, manuscrito, o conjunto de cinco respostas pedidas há
pouco. Os que estão, por razões
médicas ou familiares, dispensados institucionalmente das aulas presenciais — e só esses — devem pôr essas respostas no Classroom (os outros, por favor, não liguem à chamada que o Classroom vai fazer no sentido de resolverem esta tarefa e levem-me a folha na 3.ª, 4.ª, 5.ª ou 6.ª feira, respetivamente, 26, 27, 28, 29 de maio).
#
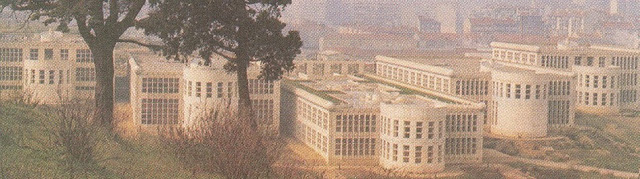 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)




<< Home