Jardins vazios de novembro (Luísa, 12.º 3.ª de 2013-2014)
Jardins vazios de novembro
“Cada baralho tem
cinquenta e duas cartas. Quatro naipes – espadas, copas, paus e ouros – com
treze cartas, três delas figuras”, explicava ele.
As cartas deslizavam entre
os dedos ossudos, em movimentos complexos que Fernando fazia parecer mais
simples do que eram. Procurava, constantemente, os olhos da sua mãe, garantindo
que ela o ouvia, e continuava a explicação sobre como jogar às cartas.
Não procurava palavras. Já
desistira das palavras desde a juventude e aceitara o silêncio de Teresa. Rendera-se
ao silêncio vago, permanente – embora mantivesse a esperança de que fosse
temporário – e doloroso. Já não procurava compreensão ou amor. Limitava-se a
preencher o tempo de inércia da mãe, que outrora o via realmente, com atividades
fúteis, dedicadas a colmatar (de uma forma egoísta) o vazio de Fernando.
Estar ali perturbava-o a um
ponto de, no final da visita de três horas, sair pela grande porta principal do
hospital psiquiátrico morto: sem respirar, sem sentir, sem pensar. Invadido por
memórias como peças de puzzle que vem sem a solução na caixa.
Teresa, com um gesto violento,
empurrou as cartas na mesa para o chão; levantou-se da cadeira de plástico e
dirigiu-se para o seu quarto. Ele suspirou (nunca de alívio, sempre de dor) e
apanhou as cartas. Faltava uma debaixo da cadeira antes ocupada, a que só
suportava agora um velho fantasma, que nunca iria desaparecer da mente de
Fernando. Um fantasma palpável – mesmo que mais ninguém o visse ou sentisse –
com extensão mensurável. Um fantasma real.
A carta era um jóquer.
Enfiou o baralho no bolso do casaco de poliéster e saiu para as ruas de Lisboa.
Morto, mais uma vez.
O céu nublado prenunciava
chuva para a tarde. Apressou-se a percorrer os jardins vazios de novembro,
parando logo a seguir para observar uma mulher, nos seus quase trinta anos,
feia mas com uma expressão marcadamente feliz, enquanto empurrava o carrinho do
bebé.
Hoje, é a ti que eu
escrevo, mãe. Ontem, foste tu quem me empurrou pelos jardins vazios de
novembro. És mais bonita, sim, e tão feliz quanto aquela mulher.
Os anos passam e eu
cresço. Talvez cada vez menos a teu lado, mas sempre a teu lado. A Laura nasce
logo a seguir e começa a surgir uma sombra no teu rosto. Mas de onde vem essa
sombra, mãe? Quem te faz chorar sozinha, na casa-de-banho, com a porta
trancada? As toalhas nunca foram o suficiente para abafar a tua angústia e eu
sempre te ouvi. Quando sais, eu corro até às toalhas, preparando uma caça às
respostas que só obtive anos mais tarde.
A sombra era uma nódoa
negra. A nódoa negra multiplicou-se por todo o teu corpo e, enquanto lá fora
sorrias, cá dentro receavas. Sei que vivemos numa casa apertada, suja, com
fissuras no teto e as paredes com falta de azulejos. Sei que, por mais que a
tentes limpar, arrumar, o teu marido nunca irá ficar satisfeito.
Então perdes-te em ti
mesma. Esqueces-te de nós e vagueias pelos caminhos do pensamento que só tu
conheces: uma estrada plana, sem curvas, porque tens medo do que possa irromper
dos cantos escondidos do teu pensamento e da nossa casa.
“Dá-me um beijo” e o teu
âmago contorce-se numa disputa entre o querer e o poder. A indiferença dele, a
sua mesquinhez e a necessidade de te pisar para se sentir melhor, tudo isso,
magoa-me a mim também.
Tento várias vezes que ele
leia o pedido, a súplica, para que tudo mude, nos meus olhos, porque ficar a
assistir era tudo o que eu e a Laura podíamos fazer: ambos respeitávamos as
fronteiras tácitas da nossa idade. Mas tu queres defender-te sozinha.
Eu já me encontro no 10º
ano, e tu, no trabalho em que te refugias há, pelo menos, doze anos. E hoje era
só mais um dia como os outros: há alturas em que a tensão se mascara de
sorrisos e as horas passam com apreensão e desassossego subjacentes.
Depois de ambos chegarmos
a casa, ele explode porque tudo está mal e tu estás mal e eu e a Laura estamos
mal e só ele é que está bem. Os estilhaços da sua cólera atingem-te e tu usas
os teus braços para te resguardar. Mas não foges, somente cedes à sua força e
rezas, no teu íntimo, para que desta vez seja rápido.
Desculpa mãe, mas hoje
tenho de quebrar as fronteiras que estabeleceras. Então ponho-me à tua frente e
tomo eu conta de ti, pela primeira vez em quinze anos, e, também pela primeira
vez, a fúria dele dirige-se a mim.
A partir dessa noite,
nunca mais falaste. Nem comigo, nem com ele, nem com a Laura. Agora fitas o
chão assim que ouves os murmúrios de dor que deixo escapar ao final do dia.
Diz-me, mãe, porque
escolhes deixar de viver? Porque escolhes o fingimento sem esperança, em vez da
realidade da luta? Porque desistes de nós?
Escolhes a demência e
esqueces tudo aquilo que aprendeste e eu escolho, três anos depois, sair de
casa e levar a Laura comigo. Ele, por sua vez, escolhe pôr-te num lugar, longe
do peso da tarefa de lidar com o teu silêncio ensurdecedor.
Lá, refugias-te no nada e
deixas os dias sumirem-se como fumo. Juntas-te a mais cem caras inexpressivas,
alienadas da verdade. Uma viagem de árvores amarelas, cavalos voadores, laços
nas paredes e um relógio parado, tudo no pequeno comprimido branco, às sete da
tarde e ninguém tem nome, porque tudo aquilo que é não o é.
Mãe, as árvores amarelas
são tuas, e aquelas além, que eu vejo neste jardim vazio de novembro, são
minhas. Decidiste o novo significado das coisas, perante a realidade em que te
encontravas.
Fernando desviou a atenção
da mãe com o carrinho e continuou a andar. Já perto de sua casa, as nuvens
descarregaram toda a sua saturação. Sentiu a força crescente dos pingos de
chuva no rosto e, numa ação simples, entregou-se à genuinidade do céu sobre si.
“Cada baralho tem pelo
menos cinquenta e duas cartas. Por vezes, o jóquer também entra em jogo,
mudando de valor consoante a combinação de cartas na mão do jogador.”
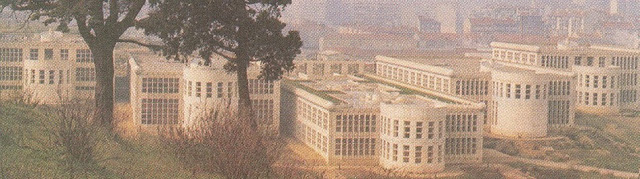 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
<< Home