Relógios Parados (por Ana Sofia, 12.º 3.ª de 2019-2020)
Relógios
parados
A leve cadência da carruagem sempre o
confortara. O movimento compassado do comboio,
acompanhado pelo seu murmúrio agradavelmente ritmado, transportava uma serenidade
inigualável: sentia-se maestro de uma sinfonia que, apesar de já tão bem
conhecida, era como se estivesse verdadeiramente nas suas mãos e ele, seguro da
rota a seguir, a harmonizasse com perícia. Só a passagem pelo túnel o
perturbava: durante aqueles instantes em que o tempo se alongava, ignorando a
sua habitual efemeridade, o murmúrio tornava-se ensurdecedor e as luzes
brancas, contrastando implacavelmente com a escuridão do outro lado do vidro, surgiam-lhe
agressivas.
Mas era sobretudo por esse momento, já iminente
mas sempre fugaz, que ansiava toda a viagem: por uns breves segundos a selva
urbana, majestosa fauna de betão, aparentemente imutável devido à pouca atenção
que lhe dispensava, cedia gentilmente o lugar a uma nesga do oceano refletida
nos seus olhos como uma explosão de azuis mesclados, odores sempre inventados e
banhistas sem cara mas decerto felizes, queimados por um sol, frequentemente,
imaginado. E depois, quando já fixara o olhar num desses pássaros que avistava
no horizonte deixando-se sobrevoar as águas revoltas e ser transportado para um
outro canto qualquer do planeta onde a nesga de azul profundo era eterna e
translúcida e o sol raiava sempre, cortavam-lhe as asas, a fauna de betão
ressurgia mais impenetrável que nunca.
Nesse final de tarde o cenário não foi
diferente: se é certo que, por ser já tão tarde, a diferença cromática, as
texturas e sombras daquele seu pequeno refúgio visual que tanto lhe agradavam
de manhã, de tão vivas e claras, se atenuavam, apenas uma mancha pálida ao sol
outonal a fazer de mar rodeada por uma areia acinzentada e deserta despontando
timidamente, a verdade é que a sua imaginação, que só saía do seu canto perdido
numa gaveta qualquer em casos que tais, fazia o resto. Pintava agora um
esplendoroso pôr do sol na sua tela improvisada: o mar, quase imóvel como numa
verdadeira pintura, tingia-se de dourados e de tons avermelhados que se iam
esbatendo e misturando com aquele cheiro a verão inconfundível que alguns dias
de maio já conheciam. No fio que costumava separar rigidamente o mar do céu,
mas que agora se tornara invisível, avistava-se uma ou outra embarcação,
impassíveis a esta condição de indefinição do horizonte onde navegavam.
A poucos metros deste quadro, todos os
cantos de um pequeno mas largamente desorganizado escritório no velho prédio de
tijolo amarelo da marginal (que destoava completamente dos seus modernos
vizinhos ainda que parecesse ostentar as marcas da decadência do passar dos
anos, nomeadamente a sua notória transformação num branco sujo, com um certo
orgulho) eram iluminados pelo que seria talvez a primeira vez nesse ano. O pó
acumulado, já entranhado em todos os orifícios possíveis e impossíveis, dançava
no ar, as plantas, evidentemente mortas, regozijavam com um sol desde sempre
desconhecido, mas que em tempos teria permitido a sua prosperidade. Sim, era
demasiado tarde, mas, movido por um qualquer ímpeto cuja origem não conseguia
precisar, atrevera-se a correr as cortinas, desbotadas pelos anos de um
cumprimento assíduo do seu dever em que, ignorantemente, bloqueavam uma vista para
muitos privilegiada. E, como se se tratasse de uma ação trivial, num movimento no
princípio incerto mas, depois, rápido e seguro, retirou a máquina de escrever
da sua prisão, disposto a dedicar-lhe, por fim, o seu coração, é certo que há
muito adormecido, mas pronto para um despertar, para uma nova vida que
bombearia as palavras ininterruptamente. Confrontado com aquele objeto canalizador
de uma vontade que tanto se esforçara por suprimir, apercebeu-se de todos os cheiros,
sons, memórias de sorrisos desvanecidos com o passar dos anos que se iam multiplicando
numa cacofonia para que nenhum corajoso impulso ou mais anos de um teimoso adiar
do inevitável o podiam preparar.
Recordava agora o que o havia sobressaltado;
não tinha sido o bater da porta nem, dias depois, a cama que continuava por
fazer, os pratos nauseabundos que se iam acumulando no lava-loiças, os ossos do
Pluto cada vez mais visíveis ou o som do piano que deixara de ecoar pelo
apartamento agora imundo, melancólica banda sonora de um tempo passado. Não,
foi outra coisa que gritava mais alto do que todas as outras, o suficiente para
o libertar, mesmo que momentaneamente, do seu aparente torpor, na realidade o
estado de êxtase angustiado de quem, não tendo palavras para tudo o que lhe
corre na alma, lhe faz um corte tão profundo quanto possível deixando jorrar os
pensamentos mais recônditos (mas havia sempre um, maldito, que se escapava!); a
escrita ininterrupta era a única forma de sobrevivência desta alma mutilada. Tinha
sido ao ver o relógio da cozinha que um eco, inicialmente indefinido, foi ganhando
forma, insurgindo-se – “Também eu não suporto o passar do tempo, aguento tudo,
sim, mas não preciso de mais uma lembrança do que poderia ser mas já passou.”.
Ela sempre odiara relógios parados, aversão
que não passava de uma manifestação curiosa da sua intolerância perante a
fugacidade de uma vida que lhe havia sido injusta e do consequente medo de se
perder na suspensão do tempo. A necessidade de garantir que nada escapava à sua
passagem inexorável, muito menos (note-se a ironia, que a eriçava) o seu
próprio marcador, o seu suposto controlador que continuamente a anunciaria a
todos, parecia-lhe lógica, assegurando assim que todos lhe eram subordinados,
embora estivesse consciente de que talvez lidasse com esta condição mais amargamente.
Portanto, o que não passava de uma falha mecânica despoletava em si uma fúria
bizarra, que a ele até lhe era querida. Não o expressava, claro (há quanto
tempo não expressava o que quer que fosse, não contando com os rios
intermináveis de papel datilografado sob um sol que insistia em bloquear?). Mas
não deixava de ser confortante a recordação de que havia ali um outro coração
errante, porventura tão perdido como o seu que agora estacava de olhar vazio perante
o relógio da cozinha, imóvel tal como os seus ponteiros, apercebendo-se de que
perdera o outro que lhe havia sido tão querido, e que, mesmo que na altura não
o soubesse, seria sempre mais seu, sempre antes daquele que carregava no peito.
Os dias que passou, então sim, mergulhado
num verdadeiro torpor, a casa emudecida findos os seus tic-tacs (o do
relógio e o outro, fiel acompanhante da transcrição dos seus pensamentos)
foram-se multiplicando indefinidamente. As horas passadas surgiam-lhe desfocadas,
certamente indiferentes tais como as presentes e as futuras, fundindo-se num emaranhado
que não lhe interessava desfazer. Mas sentia agora como as cortinas
invulgarmente corridas e uns tímidos raios de sol batendo levemente na máquina
de escrever adormecida, tinham um efeito disruptor.
Um passo de cada vez, pensou, pousando o
olhar no Pluto, agora menos escanzelado, não pela atenção do dono, mas
porque também ele se reerguera, aprendendo a alimentar-se sozinho, o que agora
o outro reconhecia com prazer. Hoje observo o mundo porque há ervas a crescerem
por entra as fendas do passeio, um veleiro destemido a brincar na
indeterminação do horizonte e um lagarto por baixo da janela a que está a crescer
uma nova cauda.
Deslumbrado, nem estranhou dirigir-se à
estação para andar de comboio pela primeira vez, imaginava apenas que, tal como
a árvore que agora habita uma casa abandonada qualquer, os seus ramos a
rasgarem o teto sem questionarem o xilema que lhes corre nos vasos, sentindo-o
apenas, vivendo o milagre em toda a sua simplicidade, a sua alma
regenerar-se-ia. E, algures numa casa que ela decorou ao seu gosto (as
almofadas combinam com as cortinas que não estão desbotadas), talvez nem todos
os relógios tenham corda.
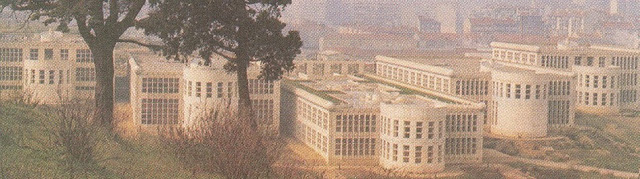 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
<< Home