Começo de A Ilustre Casa de Ramires
Desde
as quatro horas da tarde, no calor e silêncio do
domingo de junho, o Fidalgo da Torre, em chinelos, com uma quinzena de linho
envergada sobre a camisa de chita cor-de-rosa, trabalhava. Gonçalo Mendes
Ramires (que naquela sua velha aldeia de Santa Ireneia, e na vila vizinha, a asseada
e vistosa Vila Clara, e mesmo na cidade, em Oliveira, todos conheciam pelo
«Fidalgo da Torre») trabalhava numa novela histórica, A Torre de D. Ramires, destinada ao primeiro
número dos Anais de Literatura e de História, revista nova, fundada
por José Lúcio Castanheiro, seu antigo camarada de Coimbra, nos tempos do
Cenáculo Patriótico, em casa das Severinas.
A
livraria, clara e larga, escaiolada de azul, com pesadas estantes de pau-preto
onde repousavam, no pó e na gravidade das lombadas de carneira, grossos fólios
de convento e de foro, respirava para o pomar por duas janelas, uma de peitoril
e poiais de pedra almofadados de veludo, outra mais rasgada, de varanda,
frescamente perfumada pela madressilva, que se enroscava nas grades. Diante
dessa varanda, na claridade forte, pousava a mesa — mesa imensa de pés torneados,
coberta com uma colcha desbotada de damasco vermelho, e atravancada nessa tarde
pelos rijos volumes da História Genealógica, todo o
Vocabulário
de Bluteau, tomos soltos do Panorama, e ao canto, em pilha,
as obras de Walter Scott, sustentando um copo cheio de cravos amarelos. E daí,
da sua cadeira de couro, Gonçalo Mendes Ramires, pensativo diante das tiras de
papel almaço, roçando pela testa a rama da pena de pato, avistava sempre a
inspiradora da sua Novela — a Torre, a antiquíssima Torre, quadrada e negra
sobre os limoeiros do pomar que em redor crescera, com uma pouca de hera no
cunhal rachado, as fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradoira
bem cortadas no azul de junho, robusta sobrevivência do Paço acastelado, da
falada Honra de Santa Ireneia, solar dos Mendes Ramires desde os meados do
século X.
Gonçalo
Mendes Ramires (como confessava esse severo genealogista, o morgado de
Cidadelhe) era certamente o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Raras
famílias, mesmo coevas, poderiam traçar a sua ascendência, por linha varonil e
sempre pura, até aos vagos senhores que entre Douro e Minho mantinham castelo e
terra murada, quando os barões francos desceram, com pendão e caldeira, na
hoste do Borguinhão. E os Ramires entroncavam limpidamente a sua casa, por
linha pura e sempre varonil, no filho do conde Nuno Mendes, aquele agigantado
Ordonho Mendes, senhor de Treixedo e de Santa Ireneia, que casou em 967 com
Dona Elduara, condessa de Carrion, filha de Bermudo,
o Gotoso,
Rei de Leão.
Mais
antigo na Espanha que o Condado Portucalense, rijamente, como ele, crescera e
se afamara o Solar de Santa Ireneia — resistente como ele às fortunas e aos
tempos. E depois, em cada lance forte da História de Portugal, sempre um Mendes
Ramires avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade, pelos nobres
espíritos. Um dos mais esforçados da linhagem, Lourenço, por alcunha
o Cortador,
colaço de Afonso Henriques (com quem na mesma noite, para receber a pranchada
de cavaleiro, velara as armas na Sé de Zamora), aparece logo na batalha de
Ourique, onde também avista Jesus Cristo sobre finas nuvens de ouro, pregado
numa cruz de dez côvados. No cerco de Tavira, Martim Ramires, freire de
Santiago, arromba a golpes de acha um postigo da Couraça, rompe por entre as
cimitarras que lhe decepam as duas mãos, e surde na quadrela da torre albarrã,
com os dois pulsos a esguichar sangue, bradando alegremente ao Mestre: — «D.
Paio Peres, Tavira é nossa! Real, real por Portugal!» O velho Egas Ramires,
fechado na sua Torre, com a levadiça erguida, as barbacãs eriçadas de
frecheiros, nega acolhida a El-Rei D. Fernando e Leonor Teles que corriam o
Norte em folgares e caçadas — para que a presença da
adúltera
não macule a pureza extreme do seu solar! Em Aljubarrota, Diogo Ramires,
o Trovador,
desbarata um troço de besteiros, mata o adiantado-mor de Galiza, e por ele, não
por outro, cai derribado o pendão real de Castela, em que ao fim da lide seu
irmão de armas, D. Antão de Almada, se embrulhou para o levar, dançando e
cantando, ao Mestre de Avis. Sob os muros de Arzila combatem magnificamente
dois Ramires, o idoso Sueiro e seu neto Fernão, e diante do cadáver do velho, trespassado
por quatro virotes, estirado no pátio da alcáçova ao lado do corpo do conde de
Marialva — Afonso V arma juntamente cavaleiros o príncipe seu filho e Fernão
Ramires, murmurando entre lágrimas: «Deus vos queira tão bons como esses que aí
jazem!...» Mas eis que Portugal se faz aos mares! E raras são então as armadas
e os combates do Oriente em que se não esforce um Ramires — ficando na lenda
trágico-marítima aquele nobre capitão do golfo Pérsico, Baltasar Ramires, que,
no naufrágio da Santa Bárbara, reveste a sua pesada
armadura, e no castelo de proa, hirto, se afunda em silêncio com a nau que se
afunda, encostado à sua grande espada. Em Alcácer Quibir, onde dois Ramires
sempre ao lado de El-Rei encontram morte soberba, o mais novo, Paulo Ramires, pajem
do guião, nem leso nem ferido, mas não querendo mais vida pois que El-Rei não
vivia, colhe um ginete solto, apanha uma acha de armas, e gritando: — «Vai-te,
alma, que já tardas, servir a de teu senhor!» — entra na chusma mourisca e para
sempre desaparece. Sob os Filipes, os Ramires, amuados, bebem e caçam nas suas
terras. Reaparecendo com os Braganças, um Ramires, Vicente, governador das
armas de entre Douro e Minho por D. João IV, mete a Castela, destroça os
espanhóis do conde de Venavente, e toma Fuente Guinai, a cujo furioso saque
preside da varanda dum convento de franciscanos, em mangas de camisa, comendo
talhadas de melancia. Já, porém, como a nação, degenera a nobre raça... Álvaro
Ramires, valido de D. Pedro II, brigão façanhudo, atordoa Lisboa com arruaças,
furta a mulher dum vedor da Fazenda que mandara matar a pauladas por pretos,
incendeia em Sevilha, depois de perder cem dobrões, uma casa de tavolagem, e
termina por comandar uma urca de piratas na frota de Murad, o
Maltrapilho.
No reinado do Sr. D. João V, Nuno Ramires brilha na Corte, ferra as suas mulas
de prata, e arruina a casa celebrando sumptuosas festas de Igreja, em que canta
no coro vestido com o hábito de irmão terceiro de S. Francisco. Outro Ramires,
Cristóvão, presidente da Mesa de Consciência e Ordem, alcovita os amores de
El-Rei D. José I com a filha do prior de Sacavém. Pedro Ramires, provedor e feitor-mor
das Alfândegas, ganha fama em todo o Reino pela sua obesidade, a sua chalaça,
as suas proezas de glutão no Paço da Bemposta com o arcebispo de Tessalónica.
Inácio Ramires acompanha D. João VI ao Brasil como reposteiro-mor, negoceia em
negros, volta com um baú carregado de peças de ouro que lhe rouba um
administrador, antigo frade capuchinho, e morre no seu solar da cornada dum
boi. O avô de Gonçalo, Damião, doutor liberal dado às Musas, desembarca com D.
Pedro no Mindelo, compõe as empoladas proclamações do Partido, funda um jornal,
o Antifrade, e depois das Guerras Civis arrasta uma
existência reumática em Santa Ireneia, embrulhado no seu capotão de briche,
traduzindo para vernáculo, com um léxicon e um pacote de simonte, as obras de
Valerius Flaccus. O pai de Gonçalo, ora regenerador, ora histórico, vivia em
Lisboa no Hotel Universal, gastando as solas pelas escadarias do Banco Hipotecário
e pelo lajedo da Arcada, até que um ministro do Reino, cuja concubina, corista
de S. Carlos, ele fascinara, o nomeou (para o afastar da capital) governador
civil de Oliveira. Gonçalo, esse, era bacharel formado com um R no terceiro
ano.
E
nesse ano justamente se estreou nas Letras Gonçalo Mendes Ramires. Um seu
companheiro de casa, José Lúcio Castanheiro, algarvio muito magro, muito
macilento, de enormes óculos azuis, a quem Simão Craveiro chamava o
«Castanheiro Patriotinheiro», fundara um semanário, a
Pátria
— «com o alevantado intento (afirmava sonoramente o prospeto) de despertar, não
só na mocidade académica, mas em todo o país, do cabo Sileiro ao cabo de Santa
Maria, o amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal!»
Devorado por essa ideia, «a sua Ideia», sentindo nela uma carreira, quase uma missão,
Castanheiro incessantemente, com ardor teimoso de apóstolo, clamava pelos
botequins da Sofia, pelos claustros da Universidade, pelos quartos dos amigos
entre a fumaça dos cigarros, — «a necessidade, caramba, de reatar a tradição!
de desatulhar, caramba, Portugal da aluvião do estrangeirismo!» — Como o
semanário apareceu regularmente durante três domingos, e publicou realmente
estudos recheados de grifos e citações sobre as
Capelas da Batalha, a Tomada de Ormuz, a
Embaixada de Tristão da Cunha, começou logo a ser considerado uma aurora,
ainda pálida mas segura, de Renascimento Nacional. E alguns bons espíritos da
Academia, sobretudo os companheiros de casa do Castanheiro, os três que se
ocupavam das coisas do saber e da inteligência (porque dos três restantes um
era homem de cacete e forças, o outro guitarrista, e o outro «premiado»),
passaram, aquecidos por aquela chama patriótica, a esquadrinhar na Biblioteca,
nos grossos tomos nunca de antes visitados de Fernão Lopes, de Rui de Pina, de
Azurara, proezas e lendas — «só portuguesas, só nossas (como suplicava o
Castanheiro), que refizessem à nação abatida uma consciência da sua
heroicidade!» Assim crescia o Cenáculo Patriótico da casa das Severinas. E foi
então que Gonçalo Mendes Ramires, moço muito afável, esbelto e loiro, duma
brancura sã de porcelana, com uns finos e risonhos olhos que facilmente se
enterneciam, sempre elegante e apurado na batina e no verniz dos sapatos —
apresentou ao Castanheiro, num domingo depois do almoço, onze tiras de papel
intituladas D. Guiomar. Nelas se contava a
[...]
[reproduzido a partir de:
Eça de Queirós, A Ilustre Casa de Ramires,
coordenação e edição de texto de Carlos Reis, Lisboa, IN-CM, 2014, pp. 39-43]
Para continuação em versão facsimilada (da de 1900) digital:
aqui
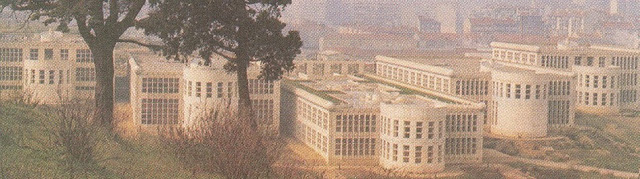 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
<< Home