Aulas (1 a 20)
Aula 1 (15/set [1.ª, 2.ª, 3.ª]) Muito poucas palavras de apresentação; blogue (cfr. Apresentação).
Esta folha trata de aspetos
ligados às aulas de Português da tua turma ou à nossa escola em geral. Vai
lendo as frases e preenchendo as palavras cruzadas.
Como é costume em palavras cruzadas, só ponho
informação para o que ocupa pelo menos duas quadrículas. Nas linhas em que há
mais do que uma palavra, as informações aparecem separadas por barras (||).
1.
Antes de adotar o nome de um escritor nascido em 1900, e falecido às 14 horas
do dia 8 de Fevereiro de 1985, a nossa escola chamava-se Escola Secundária de
______. || Em francês, para perguntarmos a idade a alguém, dizemos: «Quel ___
as-tu?».
2.
Nos Lusíadas, o poeta _____ os feitos gloriosos dos portugueses (verbo «exaltar»,
na 3.ª pessoa do singular do Presente do Indicativo). || Abreviatura de «Senhor»
(ao contrário).
3.
Em Português não haverá aqueles testes (marcados antecipadamente, feitos numa
aula inteira, etc.) que farás na maioria ___ outras disciplinas. «Então como é
que seremos avaliados?», perguntam. Serão avaliados por tudo o que forem
fazendo. || Um século antes de Jesus nascer, as moedas não tinham gravado «Séc.
I ___».
4.
Farei que as aulas terminem sempre à hora certa; mas, se der o ____ para a
saída (que aliás não há) e estivermos ainda a falar ou a terminar algum
trabalho, peço-lhes que não arrumem logo as coisas à pressa. || Abreviatura de
«Senhor», em inglês.
5.
A aula é uma ___ altura para mascar pastilha elástica. || Para Fernando Pessoa
(aliás, para o heterónimo Alberto Caeiro), «O Tejo é mais belo que o rio que
corre pela minha aldeia, / Mas o Tejo não é mais belo que o ___ que corre pela
minha aldeia». || A sala da ___ (sigla) da escola fica no bloco C; no mesmo
piso, ao fundo, tens a biblioteca (também é possível levar livros para casa,
por, salvo erro, períodos de cinco dias).
6. Aqui vai um exemplo de ____ ouvido na televisão: queixava-se Luís Filipe Vieira, quando ainda era presidente do Benfica, de que «os super-sumos já queriam arranjar novos jogadores» (a palavra correta é «suprassumo») — o atual treinador do Benfica tem um no nome. || Abreviatura de «televisão».
7.
A ele recorremos quando ignoramos o significado de uma palavra (em casa, tenta
ter um à mão).
8.
Interjeição que exprime medo ou dor, mas não é «ai».
9.
Há palavras variáveis e palavras invariáveis: «palavras», «variáveis» e «invariáveis»
são ______ variáveis (mas, por exemplo, «e» é uma palavra invariável). || A
partir de agora, devem trazer sempre o manual Letr__ em dia (cada um o
seu, não um por carteira!); e nada de chegar à sala e dizerem que ainda têm de
o ir buscar ao cacifo.
10.
Infinitivo do verbo «Asilar». || Nas aulas vão sobretudo fazer tarefas para
treino da leitura e da escrita, já que é ___ o principal objetivo da disciplina
de Português.
A.
Antónimo de «mal». || É importante que tragam sempre algumas folhas onde
escrevam o que eu lhes peça, e que essas folhas possam ficar no dossiê ou serem-___
entregues; queria também que trouxessem sempre caneta, lápis, borracha. ||
Interjeição que significa ‘para cima’.
B.
Nuno Markl, __-aluno da ESJGF, escreveu o argumento da série 1986, que
se passa, em boa parte, aqui na escola e cujo enredo se inspira na experiência de
Markl como aluno da então Secundária de Benfica. || Provavelmente, não te
deitas a horas ____.
C.
«O Epaminondas não tem jeito nenhum para o críquete: é um _____» (vegetal). || Aqui
fica uma homenagem à falecida Isabel II: li há tempos A leitora incomum,
de Alan Bennett, que cria uma ficção engraçada que trata do gosto de ler e da
rainha, com que ___ algumas vezes. || E outra homenagem a escritor falecido há dois anos, Javier Marías, talvez o mais importante autor espanhol da
atualidade: o seu primeiro livro que __ foi Vidas escritas, pequenas
biografias sobre escritores a partir de retratos de cada um.
D.
Na __UL (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) têm surgido ideias
interessantes acerca do que deve ser a universidade. || No sul de França,
antigamente, falava-‑se a «língua d’__». || Muitas palavras que herdámos da
presença dos árabes na península começam por esta sílaba.
E.
Pronome pessoal inglês. || O tipo de aulas que faremos permite que, ao mesmo tempo
que se treina a leitura e a escrita, eu ___ verificando o vosso aproveitamento.
F. Tudo o que fores fazendo em aula ficará guardado no teu dossiê (ou no teu ____), que escusas de trazer sempre. || Abreviatura de estação de rádio, instalada relativamente perto da área da nossa escola (são também as iniciais do heterónimo de Pessoa que Saramago fez herói de O ano da morte de Ricardo Reis).
G.
Episódio trágico (na sequência de naufrágio) narrado nos Lusíadas é o de
Manuel de Sousa Sepúlveda, cuja mulher, Leonor de Sá, preferiu enterrar-se no
solo a ser vista ___.
H.
A nossa _______ tem o nome de um poeta que foi também excelente prosador (as
suas crónicas, memórias, diários são bem agradáveis, embora seja mais referido
como autor das Aventuras de João Sem Medo).
|| Não faremos sumários, nem abriremos lições; porém, ___ quiseres consultar sumários,
aulas, apresentações usadas, etc., vê o blogue
Gaveta de Nuvens (o título é o de um livro de José Gomes Ferreira).
J.
Há muitas _______. Se já tens alguma em casa, aproveita-a, que virá a ser útil.
Se não tens, as sínteses no final do manual, bem como algumas reproduções de páginas
de gramática que estão em Gaveta de Nuvens, serão decerto suficientes.
L.
Quando ______ na aula de Língua Portuguesa, devo usar folhas com margens, porque
o excelso professor que as vai ler pode querer aí corrigir alguma coisa. || ___
já completaste as palavras cruzadas, repara no desenho de Bernardo Marques, em
que José Gomes Ferreira está no canto superior direito, a fumar.
TPC — Em Gaveta de Nuvens lê «Preceitos para o trabalho ao longo do ano».
Aula 2 (15
[1.ª], 19/fev [2.ª, 3.ª]) Assistência a trecho de episódio de Bruno Aleixo com
Busto a discorrer sobre modos literários (formas naturais da literatura).
Explicação acerca de modos, géneros, subgéneros.
Provavelmente, já conheces
a repartição dos textos literários em (A) lírico; (B) dramático; (C) narrativo.
Esta arrumação não fica muito longe da de Busto (Bruno Aleixo) — poesia; teatro; prosa —, que parece demasiado
centrada no contraste entre versos e prosa.
Em termos de Modos
literários, porém, devemos considerar: (A) lírico; (B) dramático;
(C) narrativo.
Classifica os seguintes excertos quanto ao
modo literário. (Relanceia a página em que estão, apenas para teres ideia dos
textos em que se inserem os fragmentos.) Não ligues, para já, à coluna mais à direita.
|
Trecho |
Autor |
Modo |
|
|
Fui eu, fremosa, fazer oraçom, / nom por mia
alma, mais que viss’eu i / o meu amigo, e, poilo nom vi, / vedes, amigas, se
Deus mi perdom, / [...] / [...] [p. 376] |
|
|
|
|
O Page do Meestre, que estava aa porta, como lhe
disserom que fosse pela vila segundo já era percebido, começou d’ir rijamente
a galope em cima do cavalo em que estava, dizendo altas vozes, braadando pela
rua: / — Matom o Meestre! Matom o Meestre nos Paaços da Rainha! Acorree ao
Meestre que matam! [p. 380] |
|
|
|
|
Inês — Dai-me vós cá essa chave, / e i buscar vossa vida. Moço — Oh, que triste despedida! Inês — Oh, que nova tão
suave! / Desatado é o nó! [p. 384] |
|
|
|
|
Este amor que vos tenho, limpo e puro / De
pensamento vil nunca tocado. / Em minha tenra idade começado / Tê-lo dentro
nesta alma só procuro. [p. 211] |
|
|
|
|
De longe a ilha viram, fresca e bela, / Que
Vénus pelas ondas lha levava / (Bem como o vento leva branca vela) / Pera
onde a forte armada se enxergava; [p. 392] |
|
|
|
|
Há quase duas décadas, um dos
meus tios começou a enviar-me postais das suas viagens. Lembro-me
especialmente de dois postais da Índia e de alguns relatos da América latina.
Para a minha imaginação infantil a ideia do meu tio, ou alguém que eu
conhecia intimamente , estar a caminho de Goa ou da Patagónia era o
equivalente à véspera de natal, era excitante, mal podia acreditar. [p. 364] |
|
|
|
Géneros
dentro de cada modo literário
[modo narrativo:]
epopeia, romance, novela,
conto, …
[modo dramático:]
tragédia, comédia, farsa,
...
[modo lírico:]
soneto, ode, canção, écloga,
…
Os três textos que criarás
podem ser fragmentos de um texto maior (como se só estivesse na página um
recorte do texto completo). O tema será o mesmo nos três fragmentos. [No
slide, explicarei o resto.]
Tema comum: _________.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
TPC — Em Gaveta de Nuvens, lê umas páginas que copiei de uma gramática sobre ‘Modos literários’ (o link ficará realçado a cor berrante).
Aula 3-4 (16 [1.ª], 16 [2.ª], 18/set [3.ª]) Os parágrafos que se seguem tratam do autor de que este ano mais falaremos, Fernando Pessoa. Deves assinalar a sua veracidade (V) ou falsidade (F). Estão escondidas subtis impossibilidades, anacronias, mas também é preciso ter em conta que Fernando Pessoa tinha efetivamente muitas idiossincrasias.
Fernando Pessoa chamava-se
António porque nasceu no dia de Santo António (em Lisboa, no Largo de São
Carlos, a 13 de junho de 1888).
Estudou em Durban (na
atual África do Sul, na região de Natal, então uma colónia inglesa), onde o
padrasto era cônsul. Aprendeu a dominar tão bem o inglês, que venceu prémios
literários e se distinguiu como o melhor aluno da região (o que aliás, em princípio,
lhe deveria ter dado acesso a Oxford — era o prémio oficial —, mas não
aconteceu).
Fernando Pessoa e o
Mahatma Gandhi viveram ambos na África do Sul pela mesma época (no início do
século XX).
Fazendo-se passar por
psiquiatra, com o nome de Faustino Antunes, por razões clínicas interessado em
informar-se sobre a saúde mental de um seu paciente — precisamente, o próprio
Pessoa —, já em Lisboa, em 1907, Fernando Pessoa escreveu a antigos professores
e condiscípulos da Durban High School, a pedir-lhes um retrato psicológico
daquele seu suposto doente. Houve respostas, cuidadosas e detalhadas.
Com vinte um anos, em
agosto de 1909, Pessoa viajou até Portalegre, para ir comprar maquinaria de
tipografia. É provável que nos vinte e seis anos que se seguiram, até à sua
morte, pouco mais tenha saído para lá dos arredores de Lisboa. Quanto à
tipografia que foi comprar (para a Empresa Íbis, Tipográfica e Editora), quase
nada nela se imprimiu.
Na Olisipo, editora que
criou, Pessoa publicou livros considerados escandalosos, como as Canções, de António Botto, poeta,
homossexual (e assumido frequentador dos urinóis de Lisboa), ou Sodoma divinizada, de Raul Leal, que
tinha «uma pulsão irresistível para o bizarro e o excessivo». Pessoa defendeu
sempre a liberdade de expressão, sem receio de afrontar as indignações e os
movimentos de censura.
O poema em inglês Antinous (1918), raro caso de livro de
Pessoa publicado em vida, hoje dir-se-ia ser de apologia da pedofilia e o
próprio poeta o considerava obsceno.
Os heterónimos são autores
fictícios, com biografias inventadas por Pessoa, cujos nomes subscrevem textos
concebidos pelo poeta nos estilos de cada um. Os mais importantes, os
verdadeiros heterónimos, serão Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis.
Costuma ser referido como semi-heterónimo Bernardo Soares. No entanto, se
quisermos considerar os vários autores fictícios criados por Pessoa,
contabilizaremos cento e trinta e seis.
Um dos heterónimos de
Pessoa — e que é autor de contos policiais em inglês — chama-se Cocó.
Nos primeiros trinta e
dois anos de vida, Pessoa mudou de residência mais de vinte vezes, tendo
chegado a morar na área do Agrupamento de escolas de Benfica.
«Amorzinho», «Terrível
Bebé», «Vespa vespíssima», «Bebé fera», «Bebezinho mau», «Ophelinha pequena»,
«Bombom», «Boquinha doce», «Minha bonequinha»,
«Meu Íbis chamado Ophélia», «Íbis do Íbis da Íbis do Íbis», «Bebé rabino»,
«Bebé do Nininho», «Anjinho bebé», «Anjinha bué lindinha» e «Nenuquinho
fofinho» são nomes carinhosos por que Fernando (Pessoa), nas suas cartas de
amor, trata Ofélia (Queirós), com quem namoriscou em 1920 e no final de 1929.
Há poemas de Pessoa
escritos em sessões de espiritismo e a meias com espíritos. A letra de Pessoa
surge-nos então com um desenho diferente.
O aforismo «Penso logo
existo» é da autoria de Pessoa.
O texto «Ultimatum», do
heterónimo Álvaro de Campos, publicado em 1917 no número único da Portugal Futurista, inclui, a letras
garrafais, a exclamação «Cocó!».
Pessoa teve intervenção
decisiva num episódio espetacular que envolveu o mágico internacional, e
espião, Aleister Crowley, que se teria suicidado (ou teria sido assassinado) na
Boca do Inferno.
O poema de Álvaro de
Campos cujo primeiro verso é «Ao volante do Chevrolet pela estrada de Cintra»,
de 1928, teve que ver com a promoção de um modelo daquela marca de automóveis
que acabava de ser comercializado em Portugal.
Fernando Pessoa deu-se
sempre bem com padrasto, com o irmão do padrasto e com o cunhado com que teve
de coabitar.
Ia aos escritórios em que
trabalhava também ao domingo.
Foi dispensado da
colaboração em O Jornal porque a
Associação dos Motoristas de Lisboa protestou, ofendida com uma referência que
Pessoa fizera numa das suas crónicas aos chauffeurs
(que, segundo ele, guiariam mal).
Já no último ano de vida,
em 1935, Pessoa não compareceu na sessão de entrega de prémios de concurso
literário do SPN (Secretariado de Propaganda Nacional), que vencera na
categoria ‘poema’, com o livro Mensagem,
no valor de cinco mil escudos (correspondente a mais do que um salário anual de
um professor).
Como causa da morte de
Fernando Pessoa, a 30 de novembro de 1935, tem-se indicado uma crise hepática
(teria o fígado demasiado deteriorado pelo muito que bebia). A última frase que
escreveu, já no Hospital de São Luís dos Franceses, para onde fora levado dois
dias antes, foi «I know not what tomorrow will bring».
Veremos o episódio de As minhas coisas favoritas (de Nuno Markl) de que trata «Letras Prévias», na p. 14 do manual, «Aqueles momentos imediatamente a seguir a acabar um livro incrível».
Não vale a pena, porém,
seguir muito o que se indica aí, a não ser talvez para decidir a resposta do
ponto 1.3:
1.3. Seleciona opção que
completa adequadamente a frase.
No final da rubrica
radiofónica, os locutores trocam impressões sobre
(A) autores preferidos.
(B) questões práticas de
leitura.
(C) aspetos gráficos dos
livros.
(D) experiências de
leitura da mesma obra.
Eis os títulos de outras crónicas de Nuno Markl sobre as minhas coisas favoritas (encontráveis aqui).
Arrancar um autocolante de
uma vez.
Escrever com um lápis bem
afiado.
A maneira como os cães nos
recebem.
Meter os pés na areia
molhada.
Cafuné.
Pizza.
Dar de comer a patos.
Quando o gelado sai com a
consistência perfeita.
Entrar numa casa de banho
pública vazia.
Quando chega uma
encomenda.
Partir um ovo de maneira
perfeita.
Conseguir tirar uma coisa
presa no dente.
Comer coisas extremamente
tostadas.
Acordar e perceber que é
sábado.
Frascos que a abrir fazem
«ploc».
A chuva.
Ver filmes de terror.
Tirar um soutien ao fim do
dia.
Uma alegria do
estacionamento.
Entrar numa cama lavada.
Chegar a casa.
Karaoke.
Dar a coisa certa aos
entes queridos.
Mexer em barrigas de cães
oferecidos.
Tomar duche depois de um
treino.
Buffet de pequeno-almoço
de hotel.
Segundos de amor numa
escada rolante.
Acompanhar sopa com
batatas fritas.
Encontrar objetos de
infância na casa dos pais.
Comer chantilly da lata.
Sestas.
Cantar no carro.
Ter conversas profundas
com os filhos.
O momento mágico em que
uma cãibra desaparece.
Esvaziar o recycle bin no
computador.
A semana entre o Natal e o
Ano Novo.
Ir a hortos.
Pôr um bebé a arrotar.
Encontrar dinheiro em
bolsos de casacos.
Encontrar lugar à porta.
Séries, podcasts e
documentários de crimes reais.
Ter o carro lavado.
Rebentar bolhas de
plástico de embalagens.
Coçar as costas.
Gomas.
Dar banho ao cão.
Sem repetires nenhum dos
itens em cima, escreve uma lista tua de «coisas favoritas», procurando
seguir o estilo adotado por Markl:
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Escreve, com um
desenvolvimento semelhante ao das crónicas que vimos, um texto sobre uma — só
uma — das tuas coisas favoritas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
TPC
— Não te esqueças que pedi que lessem «Preceitos para o trabalho ao longo do ano».
Aula 5 (18 [1.ª], 19/set [2.ª, 3.ª]) Correção de textos sobre «As minhas coisas favoritas» (cfr. Apresentação).
Um dos poucos assuntos de
gramática específicos do 12.º ano são os chamados «processos irregulares de formação
de palavras». As suas definições estão na p. 343 do manual. Por
vezes, esta mesma matéria vem sob a designação «processos não-morfológicos de formação de palavras» (lembrar-te-ás
que estudaste já os «processos morfológicos (ou regulares) de formação
de palavras», pelo que perceberás que se trata de contrastar os dois
processos).
Terás de lançar na coluna
à esquerda o nome dos processos e lançar na coluna à direita as palavras que te
dou a seguir, quase todas retiradas do sketch
«Curso de preparação para o casamento», da série Lopes da Silva (as que já
estão na tabela são exemplos mais comuns):
mousse | São (< Conceição) | gravar
[a eucaristia] (‘fixar sons ou imagens em disco ou fita magnética’ [<
‘esculpir com buril ou cinzel; estampar; imprimir’]) | abreijos (abraços + beijos) NCMDL
(< Núcleo de Conselheiros Matrimoniais da Diocese de Lisboa) | CAAAB (pronunciado [kαab]; < Cool
Até Abrir A Boca) | sofá | pumba! | chocolate
|
Processos |
Exemplos |
|
Extensão semântica |
navegar (na net), chumbo (‘reprovação’) |
|
|
scanear, pizza |
|
|
portunhol, motel |
|
|
CEE, ESJGF |
|
|
CRE, ovni |
|
Onomatopeia |
coaxar, tiquetaque |
|
|
zoo, nega (‘nota negativa’), otorrino |
Resolve
o item 3 de «Praticar», na p. 343 (dentro dos parênteses retos, o número de
palavras que deves inscrever; algumas delas, porém, entram em mais do que uma
categoria):
|
Extensão
semântica |
[3] |
|
Empréstimo |
[6] |
|
Amálgama |
[2] |
|
Sigla |
[2] |
|
Acrónimo |
[3] |
|
Truncação |
[4] |
|
Onomatopeia |
[2] |
Os exercícios seguintes —
ainda sobre processos irregulares de formação de palavras — são
tirados de Nova Gramática didática do
português:
1.
Os exemplos listados abaixo ilustram um processo irregular de formação de
palavras. Identifique-o. __________
leitor (‘aquele que lê’) > leitor
(‘professor universitário’)
salvar (‘livrar de perigo’) > salvar
(‘guardar’)
2. Distribua as palavras que
se seguem pelo quadro abaixo.
soirée | restaurante | menu | jeep | bife | lambreta | diesel
| airoso | flamenco | maestro | recuerdo | futebol | confetti | piloto |
dobermann | stock | alzheimer | tapa | tablier | muesli
|
Empréstimos |
|
|
Galicismos |
|
|
Anglicismos |
|
|
Italianismos |
|
|
Espanholismos |
|
|
Germanismos |
|
3.
Descubra, na sopa de letras, seis palavras formadas por amálgama.
Encontrá-las-á na horizontal e na vertical.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
4.
A lista de palavras apresentada é composta por acrónimos e siglas.
Classifique-as e especifique o seu significado. [Não especifiques por escrito;
pensa só.]
a) PALOP — _______ || b)
CD — _______ || c) PSP — ______ || d) BD —______ || e) OTAN — _______ || f) OMS
— _______ || g) ONU — _____ || h) TAP — _______ || i) UE — _______ || j) PME —
______
5.
Recorra ao processo de truncação para formar palavras.
a) motociclo > _____ | b)
fotografia > _____ | c) exposição > _____ d) zoológico > _____ | e)
quilograma > _____ | f) metropolitano > _____ g) hipermercado > ______
| h) discoteca > ______
6.
Proponha uma onomatopeia para cada caso apresentado.
a) avalancha — _______ | b)
mergulho — _______ | c) vidro partido — _______ | d) chuva — ______ | e) batida
na porta — ______ | f) vento — ______
TPC — Dá um relance à ficha
do Caderno de Atividades sobre ‘Processos irregulares de formação de
palavras’ (pp. 61-62), que reproduzo, já resolvida, em Gaveta de Nuvens.
Aula 6-7 (22 [1.ª], 23 [2.ª], 25/set [3.ª]) Correção de fragmentos sobre modos naturais de literatura. Debruça-te sobre o poema na p. 33 — «A ceifeira», de Fernando Pessoa. Completa as lacunas nas respostas que se seguem.
[Sobre as três primeiras estrofes (1-3), em que o
poeta se detém na ceifeira]
Como
caracteriza o poeta o canto da ceifeira?
O
canto da ceifeira brota de uma voz simultaneamente alegre e _______, é suave e
musical como um ______.
Que
recursos estilísticos melhor contribuem para essa caracterização?
A
expressão «a sua voz, cheia / de
alegre e anónima viuvez» (vv. 3-4) contém uma dupla ______ e um paradoxo
expressivos; igualmente significante é a metáfora «_____» (v. 5).
A
«pobre ceifeira» canta, «julgando-se feliz» (1-2). Explica o efeito semântico
da anteposição do adjetivo «pobre» ao nome «ceifeira».
O
adjetivo «pobre», anteposto
ao substantivo «ceifeira», expressa
a apreciação {escolhe}
subjetiva/objetiva que o sujeito poético faz da mulher — ‘pobre’, porque não
sabe. Se o mesmo adjetivo estivesse colocado depois do substantivo, indicaria a
condição social da ceifeira (e teria então o seu valor {escolhe} conotativo/denotativo).
O
que sente o poeta ao ouvir o canto?
Ao
ouvir o canto, o poeta sente-se, paradoxalmente, ____ e ____.
[Sobre as três estrofes finais (4-6), em que o poeta se analisa a si próprio]
«Ah,
canta, canta sem razão! / O que em mim sente ‘stá pensando» (vv. 13/14). Mostra
como estes versos exprimem a antítese ceifeira/poeta (sentir/pensar).
A
ceifeira canta «sem razão», isto é, sem pensar. Pelo contrário, o sujeito
poético, que sente tristeza e alegria ao ouvir o canto, pensa no que sente, não
consegue sentir sem ____. Nele, a sensação converte-se em ______,
intelectualiza-se.
Explicita
a ambição paradoxal que o poeta expressa no final do poema.
O
poeta gostaria de ser a ceifeira com a sua «alegre inconsciência», o que é o mesmo que dizer que
gostaria de sentir sem pensar, mas gostaria, simultaneamente, de ser ele mesmo,
de ter a consciência de ser ________. O que o poeta deseja, afinal, é unir o
sentir ao ______.
«A
ciência / pesa tanto e a vida é tão breve!» (vv. 20-21). Que sentimentos o
poeta exprime com esta afirmação?
É com tristeza e desolação que o poeta afirma a consciência que
tem do peso da ciência, do pensamento, que impede que a vida, que é tão breve,
seja vivida inconsciente e _____.
Identifica
o desejo que o poeta expressa no final do poema (vv. 19-24).
No
final do poema, o poeta exprime o desejo de se deixar invadir e conduzir pelas
sensações despertadas pela _______ — o céu, o campo — e pelo canto da ceifeira.
Este desejo de sentir equivale ao desejo de não _____.
Veremos um sketch
com ceifeiras (série Barbosa) que nos mostra um «mundo ao contrário» do de
Pessoa. A genuinidade das ceifeiras é aqui procurada por um jornalista que, se
não lhes inveja a inocência, pelo menos acredita na sua espontaneidade, que
pretende aproveitar numa reportagem «etnográfica». Esta presunção de
superioridade — o jornalista crê ser mais racional do que a boa gente do campo,
que julga submissa — vai ser beliscada pela progressiva revelação das alegadas
simples mulheres rústicas.
Passa ao poema, também do Pessoa ortónimo, «Gato que brincas
na rua» (na p. 32). Porei no quadro o que pretendo faças com ele:
Estabelece a relação entre os dois textos («Gato
que brincas na rua» e «A ceifeira»), no que diz respeito ao desejo impossível
expresso em ambos — compatibilizar o sentir e o pensar. Inclui duas ou três
citações de «Gato que brincas na rua». Cerca de cem palavras. A caneta.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
«Pensar Cansa» (Fricção Científica, por Isilda Sanches)
TPC
— Em Gaveta de Nuvens lê «Carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro sobre a génese dos heterónimos».
Aula 8-9 (23 [1.ª], 26/set [2.ª, 3.ª]) Correção do comentário sobre «A ceifeira»/«Gato que brincas na rua».
Quase anónima sorris
E o sol doura o teu
cabelo.
Porque é que, pr’a ser
feliz,
É preciso não sabê-lo?
Fernando Pessoa, Poesias Inéditas
(1930-1935), Lisboa, Ática, 1955
Nesta quadra de Fernando
Pessoa há uma falha de coesão frásica (justificada pela intenção de
fazer rima e pelo estatuto, entre o da imitação de quadra popular e o da
brincadeira assumida, que tem este quarteto). Reescreve o último verso já
corrigido:
v. 3
Porque é que, pr’a ser feliz,
v. 4 __________________
O que faz que o pronome
(«__») tenha de ficar anteposto ao verbo (o infinitivo «saber») é o facto de a
frase ser __________.
Vejamos algumas circunstâncias que obrigam
à alteração da ordem mais normal no português europeu (a da {escolhe} próclise / mesóclise /
ênclise): estar a frase na negativa,
ficar o pronome numa subordinada
completiva, tratar-se da variante
sul-americana do português, ter a frase certos advérbios. Completa a coluna da direita:
|
Stora, por favor, dê-mo. |
negativa > |
Stora, por favor, não ______. |
|
Comprei-o. |
subordinação
completiva
> |
Já te disse que ______. |
|
Froholdt revelou-se um craque. |
variante
brasileira
> |
Froholdt ______ um craque. |
|
Registo-o. |
presença de
certos advérbios > |
Talvez _____. |
Dístico
Ó meu menino que brincas
o dia todo na rua
e ainda pensas que a Vida
é só a vida que é tua,
fica lá no teu engano.
Não perguntes, não te
apresses.
Sobra tempo p’ra saberes
coisas que antes não
soubesses.
Sebastião da Gama, Itinerário Paralelo, Mem Martins, Arrábida, 2004
Estabelece analogias entre
«Dístico», de Sebastião da Gama, e «Gato que brincas na rua» (p. 32), de
Fernando Pessoa, completando a minha resposta:
O tema de «Dístico», de
Sebastião da Gama, é quase o mesmo do do poema de Pessoa «Gato que brincas na
rua» — também aqui o sujeito poético se dirige a . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —, mas a perspetiva
é diferente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Qual é o vocativo da
quintilha? Faltará alguma vírgula?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explica o título «Dístico»
(sabendo que não se trata de uma estrofe de dois versos, um dos significados da
palavra).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cria um título, também de
uma só palavra, para «Gato que brincas na rua» (não, não pode ser «Gato»; nem
«Brincadeira», nem «Rua», nem «Que»).
______________________
Exemplo de redação
possível do comentário em torno de «A ceifeira» e «Gato que brincas na rua»,
dois poemas de Fernando Pessoa ele-mesmo:
Em ambos os poemas o tema
é a dor de pensar provocada pela intelectualização do sentir. O poeta gostaria
de ser como a ceifeira, ter a sua alegre inconsciência, mas, ao mesmo tempo,
saber-se possuidor dessa inconsciência. Do mesmo modo, gostaria de ser como o
gato que apenas sente («sentes só o que sentes», v. 8) e, por isso, é feliz
(«és feliz porque és assim», v. 9), enquanto o poeta pensa («vejo-me e estou
sem mim, / conheço-me e não sou eu», vv. 11-12).
[85
palavras]
Para
ires resolvendo os quatro itens de «Gramática», na p. 34:
Em
cada um dos itens, seleciona a opção correta.
1.
Nos versos «Entrai por mim dentro! Tornai / Minha alma a vossa sombra leve!»
(vv. 22-23), a dêixis pessoal
é assegurada
(A) pelo pronome pessoal
e pelos determinantes possessivos.
(B) pelas formas verbais
e pelo pronome pessoal.
(C) pelos determinantes
possessivos, pelo pronome pessoal e pelas formas verbais.
(D) pelos nomes, pelo
adjetivo e pelos determinantes possessivos.
2. As expressões «de
alegre e anónima viuvez» (v. 4) e «a vossa sombra leve» (v. 23) desempenham,
respetivamente, as funções sintáticas
de
(A) complemento do nome
e predicativo do complemento direto.
(B) complemento do
adjetivo e modificador restritivo do nome.
(C) complemento do nome
e predicativo do sujeito.
(D) complemento do
adjetivo e predicativo do complemento direto.
3. Todas as expressões
desempenham a função sintática
de complemento direto exceto
(A) «o campo e a lida»
(v. 10).
(B) «A tua incerta voz
ondeando» (v. 16).
(C) «tão breve» (v. 21).
(D) «me» (v. 24).
4. O verso «O que em mim
sente ‘stá pensando» (v. 14) integra uma oração
subordinada
(A) substantiva
completiva, com a função sintática de sujeito.
(B) substantiva
relativa, com a função sintática de sujeito.
(C) substantiva
completiva, com a função sintática de complemento direto.
(D) substantiva
relativa, com a função sintática de predicativo do sujeito.
Muitos romances,
contos e filmes têm tomado a figura de Fernando Pessoa (ou dos seus
heterónimos) como personagem, mais ou menos ficcionada depois. Escreve tu
também um trecho narrativo — que seria fragmento de um texto «literário»
maior que não tem de ficar completo — cujo início será o apontamento que copiei
do espólio de Pessoa e se percebe ser um recado deixado por uma Adelaide.
O narrador pode ser
homodiegético ou heterodiegético. Aliás, todos os aspetos da estrutura
narrativa ficam ao teu critério. (E não tens de te preocupar demasiado com a
coerência com dados históricos da biografia de Pessoa.)
“Sr. Pessoa,
Precisei de sair. Está o
jantar pronto: é só sentar à mesa, tirar do lume e comer.
Adelaide”.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPC
— Não esqueças a leitura da longa carta de Pessoa a Adolfo Casais Monteiro acerca da génese dos heterónimos, reproduzida em Gaveta de Nuvens.
Aula 10 (22 [2.ª, 3.ª], 25/set [1.ª]) Lê este poema de Cesário Verde:
De
verão
I
No campo; eu acho nele a musa que me anima:
A
claridade, a robustez, a ação.
Esta
manhã, saí com minha prima,
Em
quem eu noto a mais sincera estima
E
a mais completa e séria educação.
II
Criança encantadora! Eu
mal esboço o quadro
Da
lírica excursão, de intimidade.
Não
pinto a velha ermida com seu adro;
Sei
só desenho de compasso e esquadro,
Respiro
indústria, paz, salubridade.
III
Andam cantando aos bois; vamos cortando as leiras;
E
tu dizias: «Fumas? E as fagulhas?
Apaga
o teu cachimbo junto às eiras;
Colhe-me
uns brincos rubros nas ginjeiras!
Quanto
me alegra a calma das debulhas!»
IV
E perguntavas sobre os últimos inventos
Agrícolas.
Que aldeias tão lavadas!
Bons
ares! Boa luz! Bons alimentos!
Olha:
Os saloios vivos, corpulentos,
Como
nos fazem grandes barretadas!
V
Voltemos! No ribeiro abundam as ramagens
Dos
olivais escuros. Onde irás?
Regressam
os rebanhos das pastagens;
Ondeiam
milhos, nuvens e miragens,
E,
silencioso, eu fico para trás.
VI
Numa
colina brilha um lugar caiado.
Belo!
E, arrimada ao cabo da sombrinha,
Com
teu chapéu de palha, desabado,
Tu
continuas na azinhaga; ao lado,
Verdeja,
vicejante, a nossa vinha.
VII
Nisto,
parando, como alguém que se analisa,
Sem
desprender do chão teus olhos castos,
Tu
começaste, harmónica, indecisa,
A
arregaçar a chita, alegre e lisa,
Da
tua cauda um poucochinho a rastos.
VIII
Espreitam-te,
por cima, as frestas dos celeiros;
O
sol abrasa as terras já ceifadas,
E
alvejam-te, na sombra dos pinheiros,
Sobre
os teus pés decentes, verdadeiros,
As
saias curtas, frescas, engomadas.
IX
E,
como quem saltasse, extravagantemente,
Um
rego de água sem se enxovalhar,
Tu,
a austera, a gentil, a inteligente,
Depois
de bem composta, deste à frente
Uma
pernada cómica, vulgar!
X
Exótica!
E cheguei-me ao pé de ti. Que vejo!
No
atalho enxuto, e branco das espigas
Caídas
das carradas no salmejo,
Esguio
e a negrejar em um cortejo,
Destaca-se
um carreiro de formigas.
XI
Elas,
em sociedade, espertas, diligentes.
Na
natureza trémula de sede,
Arrastam
bichos, uvas e sementes
E
atulham, por instinto, previdentes,
Seus
antros quase ocultos na parede.
XII
E
eu desatei a rir como qualquer macaco!
«Tu
não as esmagares contra o solo!»
E
ria-me, eu ocioso, inútil, fraco,
Eu
de jasmim na casa do casaco
E
de óculo deitado a tiracolo!
XIII
«As
ladras da colheita! Eu, se trouxesse agora
Um
sublimado corrosivo, uns pós
De
solimão, eu, sem maior demora,
Envenená-las-ia!
Tu, por ora,
Preferes
o romântico ao feroz.
XIV
Que compaixão! Julgava até que matarias
Esses insetos importunos! Basta.
Merecem-te espantosas simpatias?
Eu felicito suas senhorias,
Que honraste com um pulo de ginasta!»
XV
E enfim calei-me. Os teus cabelos muito loiros
Luziam,
com doçura, honestamente;
De
longe o trigo em monte, e os calcadoiros,
Lembravam-me
fusões de imensos oiros,
E
o mar um prado verde e florescente.
XVI
Vibravam,
na campina, as chocas da manada;
Vinham
uns carros a gemer no outeiro,
E
finalmente, enérgica, zangada,
Tu,
inda assim bastante envergonhada,
Volveste-me,
apontando o formigueiro:
XVII
«Não me incomode, não, com ditos detestáveis!
Não
seja simplesmente um zombador!
Estas
mineiras negras, incansáveis,
São
mais economistas, mais notáveis,
E
mais trabalhadoras que o senhor!»
Cesário Verde, O Livro de Cesário Verde, 1887
Para as estrofes de «De verão», de Cesário Verde, dar-te-ei hipóteses de títulos, frases alusivas,
meras observações a aspetos de ordem estilística. Escolhe a melhor dessas
quatro opções (relativas a cada uma das quintilhas I a XVII):
I
a) A luz do campo inspira-me!
b) A minha prima inspira-me!
c) A musa da poesia inspira-me!
d) Gosto da irreverência da priminha.
II
a) O poeta está doente.
b) Prefere a cidade, industrial, ao campo,
envelhecido.
c) Detestável prima!
d) Não conseguirá dar notícia de tudo o que se
passou.
III
a) Está-se bem no campo!
b) Que seca!
c) É perigoso fumar junto às eiras.
d) A observação do trabalho dos outros é já por si
cansativa.
IV
a) Os saloios são uns mentirosos.
b) Rudes mas delicados, os saloios.
c) A agricultura está demasiado industrializada.
d) No campo, todos são muito lavados.
V
a) Decide-se o regresso. Estou pensativo.
b) A prima é demasiado rápida; não a acompanho.
c) A prima entra por um olival.
d) Pôs-se frio.
VI
a) «Verdeja, vicejante, a nossa vinha» contém uma
aliteração.
b) Tudo isto me enoja!
c) O poeta (e a prima) são donos de uma vinha.
d) Vá lá, despacha-te!
VII
a) Afinal, a prima é uma sereia.
b) O poeta entrevê o rabo da prima.
c) A iguana comprada pela prima rasteja.
d) Um instantâneo: a prima ergue um pouco a saia.
VIII
a) Uma minissaia (que desconcentra o poeta).
b) Vê-se a roupa interior da prima.
c) Há fogo na seara.
d) As mulheres, ao longe, usam saias curtas,
brancas, engomadas.
IX
a) Uma polaroid: a prima a alongar a perna.
b) És muito séria, pois, mas dás as tuas pernadas,
não é?!
c) Uma pernada cósmica!
d) Um momento ordinário.
X
a) Olhando o chão, um pormenor.
b) As espigas caíram.
c) Salmões.
d) Sem a prima notar, o poeta aproxima-se.
XI
a) A sociedade na aldeia.
b) As pessoas da aldeia atulham as casas de animais
e sementes.
c) Como são repelentes os bichos!
d) Para uma sociologia das formigas.
XII
a) O poeta usava uma flor.
b) O poeta ofereceu um jasmim à prima.
c) O poeta estava deitado.
d) O poeta usava óculos.
XIII
a) «As ladras da colheita» são as aves.
b) «As ladras da colheita» são as formigas.
c) «As ladras da colheita» são as aldeãs pobres.
d) «As ladras da colheita» são as raparigas que
sejam como a prima.
XIV
a) O poeta deu um pulo de ginasta.
b) A prima tivera o cuidado de não esmagar as
formigas.
c) «Suas senhorias» são as espigas.
d) A prima não teve compaixão com os pobres insetos.
XV
a) O poeta avistou uma serra, onde havia trigo.
b) Aspetos cromáticos.
c) Amuei.
d) Ao longe, o mar.
XVI
a) Cocó.
b) Envergonhada por ter calcado as formigas.
c) Genuinamente zangada.
d) Futilidades.
XVII
a) A prima replica à ironia do poeta também na
brincadeira.
b) A prima acha que aquele senhor é realmente
preguiçoso.
c) A prima enfurece-se com a falta de compaixão
pelos animais revelada pelo poeta.
d) A prima detesta insetos.
Ficam aqui algumas
estâncias de «O Sentimento dum Ocidental», de Cesário Verde, talvez as mais aproveitáveis numa
resposta ao item 7 da prova de exame que lhes será mostrada:
[estrofes 9-11
da parte I, «Ave Marias»:]
Vazam-se os arsenais e as oficinas;
Reluz, viscoso, o rio; apressam-se as obreiras;
E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras,
Correndo com firmeza, assomam as varinas.
Vêm sacudindo as ancas opulentas!
Seus troncos varonis recordam-me pilastras;
E algumas, à cabeça, embalam nas canastras
Os filhos que depois naufragam nas tormentas.
Descalças! Nas descargas de carvão,
Desde manhã à noite, a bordo das fragatas;
E apinham-se num bairro aonde miam gatas,
E o peixe podre gera os focos de infeção!
[estrofes 9-10 da parte II, «Noite Fechada»:]
Triste cidade! Eu temo que me avives
Uma paixão defunta! Aos lampiões distantes,
Enlutam-me, alvejando, as tuas elegantes
Curvadas a sorrir às montras dos ourives.
E mais: as costureiras, as floristas
Descem dos magasins, causam-me sobressaltos;
Custa-lhes a elevar os seus pescoços altos
E muitas delas são comparsas ou coristas
[estrofes 9-11 da parte III, «Ao Gás»:]
Desdobram-se tecidos estrangeiros;
Plantas ornamentais secam nos mostradores;
Flocos de pós de arroz pairam sufocadores,
E em nuvens de cetins requebram-se os caixeiros.
Mas tudo cansa! Apagam-se, nas frentes,
Os candelabros, como estrelas, pouco a pouco;
Da solidão regouga um cauteleiro rouco;
Tornam-se mausoléus as armações fulgentes.
«Dó da miséria!… Compaixão de mim!…»
E, nas esquinas, calvo, eterno, sem repouso,
Pede-nos sempre esmola um homenzinho idoso,
Meu velho professor nas aulas de latim!
A prova do exame nacional de 2021, 2.ª fase, trazia um item sobre Cesário Verde. Era o item 7 do grupo
I (parte C), que é sempre uma pergunta para «expor matéria», em geral sem apoio
em texto dado. (Na resposta já resolvi a introdução e a conclusão.)
7. Tal como no excerto do
conto que acabou de ler o narrador repara na figura do «padeiro» que distribui
«pão fresco», também no poema «O Sentimento dum Ocidental», de Cesário Verde, o
olhar do sujeito poético se detém, frequentemente, naqueles que trabalham.
Escreva uma breve exposição sobre a «Dor humana» sentida por aqueles que
trabalham, no poema «O Sentimento dum Ocidental». A sua exposição deve incluir:
• uma introdução ao tema;
• um desenvolvimento no qual
refira de que modo duas das personagens observadas pelo sujeito poético
comprovam o sofrimento daqueles que trabalham;
• uma conclusão adequada ao
desenvolvimento do tema.
O sujeito poético de «O Sentimento dum Ocidental» deambula e observa, sempre muito sensorialmente. Confessa que as ruas de Lisboa, ao entardecer, fazem que tenha um «desejo absurdo de sofrer». Além disso, parece atento ao mal-estar dos outros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resta saber se estas
alusões à dor humana não decorrem em parte de uma propensão, que vemos em
outros textos de Cesário Verde, para a admiração estética por quem enfrenta as
condições adversas com ousadia física.
Na
p. 415 do manual reproduz-se um outro item 7 de prova de exame em torno de
Cesário Verde. Neste caso, o assunto da exposição era ‘a representação da
cidade na poesia de Cesário’. Lê os conselhos aí dados sobre como responder a
este tipo de itens e o exemplo de solução para a pergunta em causa. (As páginas
112, 113 e 114 são também de revisão de «O Sentimento dum Ocidental».)
TPC — Quando puderes, lê o
capítulo ensaístico sobre «O Sentimento dum Ocidental» (de Hélder Macedo, Nós
—uma leitura de Cesário Verde, pp. 165-191) copiado em Gaveta de Nuvens.
Ainda é um ensaio longo e denso, por isso não estabeleço um prazo para esta
leitura. Vai lendo quando puderes.
Aula 11 (29/set [1.ª, 2.ª, 3.ª]) Correção de questionário sobre «De Verão», de Cesário Verde.
Solução possível para o
item 7 sobre a dor humana em «O Sentimento dum Ocidental»:
O sujeito poético de «O
Sentimento dum Ocidental» deambula e observa, sempre muito sensorialmente.
Confessa que as ruas de Lisboa, ao entardecer, lhe despertam «um desejo absurdo
de sofrer». Além disso, parece atento ao mal-estar dos outros.
Se admira o vigor das
varinas, não deixa de fazer notar as condições de vida degradantes destas
representantes do povo: trabalham todo o dia descalças nas descargas de carvão,
transportam os filhos nas canastras e vivem em bairros sem condições sanitárias
e onde proliferam doenças. Outra menção às dificuldades de quem trabalha pode
encontrar-se na caracterização das costureiras e das floristas, a quem custa
elevar os pescoços (porque trabalham diariamente curvadas) e que, à noite,
trabalham no teatro como comparsas ou coristas, representando assim o trabalho
árduo do povo para sobreviver. Quanto à menção ao professor de Latim, agora
pedinte, mostra a falta de apoio na velhice a quem dedicou a vida ao trabalho,
significando a sensibilidade do poeta às injustiças sociais.
Resta saber se estas
alusões à dor humana não decorrem em parte de uma propensão, que vemos em
outros textos de Cesário Verde, para a admiração estética por quem enfrenta as
condições adversas com ousadia física.
Na p. 37, responde ao item
1 («Identifica as ideias-chave de cada um dos excertos»), completando o
que já fui escrevendo:
A dor de pensar envolve:
— «um estado emotivo
perturbado e ______»;
— a _____ de
verdadeiramente sentir;
— a recusa da interrogação
e da ______ dos sentimentos;
— uma ______ extrema.
Em pouco mais de oitenta
palavras, resolve o ponto 2 da p. 37:
Escuta atentamente o tema
musical «Talvez se eu dançasse», de Miguel Araújo, e explica em que medida a
«luta» do sujeito enunciador da canção se aproxima da dor de pensar pessoana.
Inclui citações da letra
(de preferência, incrustadas na tua sintaxe).
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Exemplo de redação possível:
O «eu» da canção vive
«sempre em supervisão de [si]», em contínuo processo de autoanálise. O excesso
de «autoconsciência» fá-lo estar sempre «à espreita», em autocontrolo. A sua
«luta» por deixar de estar sempre «alerta, atento» aproxima-se do desejo manifestado
na poesia de Fernando Pessoa ortónimo de se libertar da racionalização e de
poder simplesmente sentir, tal como o sujeito de «Se eu dançasse» revela a
vontade de ser «leve», dançar e cantar, sem constrangimentos.
Nos espaços à direita da
letra da canção, escreve a função sintática dos constituintes que sublinhei:
Talvez
se eu dançasse
(Miguel Araújo)
Eu tenho uma noção de mim, ________
Perfeita noção de mim; ________
Tenho-me sempre à espreita, ________
Sob escuta atenta.
É uma luta, eu sei,
Tenho essa noção de mim.
Tenho
uma noção de mim, ________
Estreita noção de mim,
Debaixo de olho,
Alerta, atento,
Bem ciente do espelho, eu sei. ________
Eu tenho essa noção de mim.
Talvez
se alguém me jurasse ________
Que talvez ninguém soubesse,
Talvez até me convencesse, ________
Até me convencesse.
Talvez
se eu dançasse
Como se ninguém me visse, ________
Como se ninguém medisse os meus passos…
Talvez
se eu cantasse
Como se ninguém me ouvisse,
Como se ninguém contasse os compassos…
________
Eu
tenho uma visão de mim,
Sempre em supervisão de mim; ________
A autoconsciência armou o alarme
E dar-me eu já nem sei. ________
Eu tenho essa visão de mim.
Eu
tenho uma visão de mim,
Uma mais alta versão de mim,
Em que eu sou leve ________
E o que me leva é a vida inteira,
________
Inteiro até,
Uma mais alta versão de mim.
Talvez
se alguém me jurasse
Que talvez ninguém soubesse, ________
Talvez até me convencesse,
Até me convencesse.
Talvez
se eu dançasse
Como se ninguém me visse,
Como se ninguém medisse os meus passos…
________
Talvez
se eu cantasse
Como se ninguém me ouvisse, ________
Como se ninguém contasse os compassos…
Talvez
se eu dançasse …
TPC — Relanceia a ficha do Caderno de Atividades corrigida sobre Fernando Pessoa ortónimo que pus em Gaveta de Nuvens.
Os sketches «Carjaquim» (série Zé Carlos) e «O meu filho é uma joia de moço» (Barbosa) servir-nos-ão para revermos os processos irregulares de formação de palavras (cfr. p. 343 do manual). À esquerda, a palavra que interessa; ao centro, a etimologia; à direita, porás o processo: extensão semântica, empréstimo, sigla, acrónimo, amálgama, truncação, onomatopeia.
|
Palavra |
étimo |
processo de formação |
|
inglês carjacking |
car + hijacking |
|
|
Carjacking |
inglês carjacking |
|
|
Carjaquim |
carjacking + Jaquim (< Joaquim) |
|
|
badalhoca
(‘mulher suja’) |
badalhoca
(‘bola de excremento e terra pendente entre as pernas das ovelhas e cabras’) |
|
|
Droga |
francês drogue |
|
|
mota
[ou moto] |
motorizada ou
motocicleta |
|
|
joia
(‘adorno de matéria preciosa’) |
francês joie (‘alegria’) |
|
|
joia
(‘pessoa muito estimável’) |
joia (‘adorno
de matéria preciosa’) |
|
|
grego diabetes (‘diabetes’) |
grego diabetes (‘sifão’) |
|
|
Cajó |
Cá (< Carlos) + Jó (< Jorge) |
duas
________ |
|
Zé |
José |
|
|
FPE
[pronunciado «fê-pê-é»] |
Fernando por esticão |
|
|
FPE
[pronunciado «fpé»] |
Fernando
por esticão |
|
Aula 13-14 (30/set [1.ª, 2.ª], 2/out [3.ª]) Explicação sobre tipos textuais.
Nas pp. 52-54, vai relendo o excerto da carta de Fernando
Pessoa a Adolfo Casais Monteiro, cuja versão integral sugerira que lesses
em Gaveta de Nuvens. O questionário,
ainda assim, tratará apenas das partes da carta que vêm no manual e não te
prejudicará não conheceres o texto na íntegra. Circunda em cada item a melhor
alínea.
Como acontece
habitualmente em textos do género epistolar, a seguir à data («Lisboa, 13 de
janeiro de 1935») surge um
a) sujeito (correspondente
ao sujeito poético).
b) sujeito (equivalente a
Adolfo Casais Monteiro).
c) vocativo
(correspondente ao remetente).
d) vocativo
(correspondente ao correspondente de Pessoa).
Entre as ll. 5 e 20,
Pessoa considera que a propensão para a criação heteronímica
a) não radica em
características mentais.
b) se deve a uma tendência
para a despersonalização e o fingimento.
c) foi exclusivamente
casual.
d) foi consequência de
trauma após pisadela de cocó de cão.
Entre as ll. 20-26, Pessoa
considera que os poemas de Álvaro de Campos
a) são um alarme para a
vizinhança.
b) não são um alarme para
a vizinhança.
c) foram escritos por
1912.
d) são histéricos.
Nas ll. 27-30, Pessoa
recorda
a) a tendência que sempre
tivera para produzir matéria orgânica.
b) a propensão que nele
sempre se manifestara para criar personagens fictícias.
c) a facilidade que sempre
revelara em se cercar de amigos e conhecidos.
d) a história direta dos
seus ortónimos.
Pessoa situa em 1912 os
primeiros poemas, de «índole pagã» (ll. 31-32 e 44-45)
a) assinados por Ricardo
Reis.
b) escritos por Álvaro de
Campos.
c) ao estilo de Ricardo
Reis.
d) ao estilo de Álvaro de
Campos.
O poeta bucólico que
Pessoa resolvera criar para fazer uma partida a Mário de Sá-Carneiro (ll.
33-42) foi
a) Álvaro de Campos.
b) Bernardo Soares.
c) Alberto Caeiro.
d) Ricardo Reis.
O heterónimo que Pessoa
diz ser mestre de todos os outros e até do ortónimo é (cfr. ll. 33-42)
a) Álvaro de Campos.
b) Fernando Pessoa.
c) Ricardo Reis.
d) Alberto Caeiro.
Pessoa considera 8 de
março de 1914 como o «dia triunfal da [sua] vida» (l. 39), porque foi nesse
momento que
a) pisou um cocó de cão
com interessante consistência, muito doce e simpático.
b) criou espontaneamente
uma série de textos de um dos heterónimos.
c) escreveu, com
elaboração cuidadosa e planeada, os primeiros poemas de Caeiro.
d) desistiu, finalmente,
de inventar um poeta bucólico.
O surgimento de Álvaro de
Campos é-nos descrito (ll. 43-48) como momento
a) calmo.
b) vertiginoso.
c) demorado.
d) planeado.
A «Ode triunfal», de
Álvaro de Campos, foi escrita
a) num avião a jato.
b) em 1914.
c) em Tavira.
d) no Brasil.
À época da enunciação — a
da escrita da carta —, ainda estavam vivos (ll. 49-76)
a) Caeiro, Campos, Reis.
b) Campos e Reis.
c) Reis e Caeiro.
d) Caeiro e Campos.
Os dois heterónimos de
Pessoa que aprenderam latim foram (cfr. ll. 68-76)
a) Alberto Caeiro e
Ricardo Reis.
b) Ricardo Reis e Álvaro
de Campos.
c) Alberto Caeiro e
Bernardo Soares.
d) Álvaro de Campos e
Alberto Caeiro.
As formações de Caeiro,
Campos e Reis, eram (cfr. ll. 49-76), respetivamente,
a) CEF de pastor; pintura;
línguas clássicas.
b) ensino secundário;
engenharia naval; medicina dentária.
c) instrução primária;
engenharia; medicina.
d) estilismo;
datilografia; genealogia.
Pessoa tinha de altura (cfr.
ll. 62-68)
a) 1,75 m.
b) 1,73 m.
c) 1,77 m.
d) 1,80 m.
O «Opiário» (ll. 74-75)
a) foi escrito em latim.
b) foi inspirado por
viagem ao Oriente.
c) é um poema de férias.
d) foi inspirado por ida
ao Parque das Nações.
O estímulo para escrever
em nome de Caeiro, Campos, Reis e Soares é, respetivamente (cfr. ll. 76-90),
a) cansaço e sono;
inspiração inesperada; decisão abstrata; impulso súbito.
b) inspiração inesperada;
impulso súbito; decisão abstrata, cansaço e sono.
c) decisão abstrata;
impulso súbito; cansaço e sono; inspiração inesperada.
d) inspiração inesperada;
cansaço e sono; decisão abstrata; impulso súbito.
Segundo ll. 80-90,
Bernardo Soares é um semi-heterónimo porque
a) é anão.
b) é um mutilado (maneta e
perneta).
c) não tem personalidade
completamente diferente da de Pessoa ele-mesmo.
d) é uma mutilação de
Pessoa.
Os protótipos textuais
mais presentes neste excerto de carta são
a) descritivo, expositivo,
instrucional.
b) conversacional,
argumentativo, instrucional.
c) descritivo, narrativo,
preditivo.
d) expositivo,
argumentativo, narrativo.
Se tiveres sido dos mais rápidos, na p. 51 lê o texto A,
sobre o significado de «heterónimo».
Lê depois também este excerto de «Opiário» (da fase
decadentista de Álvaro de Campos):
Opiário
Ao
senhor Mário de Sá-Carneiro
É antes do ópio que a
minh’alma é doente.
Sentir a vida convalesce e
estiola
E eu vou buscar ao ópio
que consola
Um Oriente ao oriente do
Oriente.
Esta vida de bordo há-de
matar-me.
São dias só de febre na
cabeça
E, por mais que procure
até que adoeça,
Já não encontro a mola
p’ra adaptar-me.
Em paradoxo e
incompetência astral
Eu vivo a vincos de ouro a
minha vida,
Onda onde o pundonor é uma
descida
E os próprios gozos
gânglios do meu mal.
É por um mecanismo de
desastres,
Uma engrenagem com
volantes falsos,
Que passo entre visões de
cadafalsos
Num jardim onde há flores
no ar, sem hastes.
Vou cambaleando através do
lavor
Duma vida-interior de
renda e laca.
Tenho a impressão de ter
em casa a faca
Com que foi degolado o
Precursor.
Ando expiando um crime
numa mala,
Que um avô meu cometeu por
requinte.
Tenho os nervos na forca,
vinte a vinte,
E caí no ópio como numa
vala.
Ao toque adormecido da
morfina
Perco-me em transparências
latejantes
E numa noite cheia de
brilhantes
Ergue-se a lua como a
minha Sina.
Eu, que fui sempre um mau
estudante, agora
Não faço mais que ver o
navio ir
Pelo canal de Suez a
conduzir
A minha vida, cânfora na
aurora.
Perdi os dias que já
aproveitara.
Trabalhei para ter só o
cansaço
Que é hoje em mim uma
espécie de braço
Que ao meu pescoço me
sufoca e ampara.
E fui criança como toda a
gente.
Nasci numa província
portuguesa
E tenho conhecido gente
inglesa
Que diz que eu sei inglês
perfeitamente.
Gostava de ter poemas e
novelas
Publicados por Plon e no Mércure,
Mas é impossível que esta
vida dure,
Se nesta viagem nem houve
procelas!
A vida a bordo é uma coisa
triste,
Embora a gente se divirta
às vezes.
Falo com alemães, suecos e
ingleses
E a minha mágoa de viver
persiste.
[...]
Eu fingi que estudei
engenharia.
Vivi na Escócia. Visitei a
Irlanda.
Meu coração é uma avozinha
que anda
Pedindo esmola às portas
da Alegria.
Não chegues a Port-Said,
navio de ferro!
Volta à direita, nem eu
sei para onde.
Passo os dias no smoking-room
com o conde —
Um escroc francês,
conde de fim de enterro.
Volto à Europa
descontente, e em sortes
De vir a ser um poeta
sonambólico.
Eu sou monárquico mas não
católico
E gostava de ser as coisas
fortes.
Gostava de ter crenças e
dinheiro,
Ser vária gente insípida
que vi.
Hoje, afinal, não sou
senão, aqui,
Num navio qualquer um
passageiro.
[...]
[excertos de:] Álvaro de Campos, «Opiário», Fernando Pessoa, Poesia dos outros eus, edição de Richard
Zenith, Lisboa, Assírio & Alvim, 2007
A curta-metragem Dia Triunfal,
de Rita Nunes, perverte o que se tem como certo
relativamente à génese dos heterónimos. O filme adota como título a expressão
de que Pessoa se serviu para designar o dia 8 de março de 1914, quando teria
escrito, «numa espécie de êxtase», dezenas de poemas de Alberto Caeiro
(seguindo-se Reis e Campos).
Escreve uma breve apreciação crítica (cfr. pp. 354-355) que se
debruce sobre como o filme propõe uma ficção alternativa à explicação, célebre,
dada por Pessoa
a Adolfo
Casais Monteiro
acerca da criação dos heterónimos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
TPC
— Lê em Gaveta de Nuvens ficha do Caderno de Atividades já
corrigidas sobre poema de Álvaro de Campos.
Aula 15 (1 [1.ª], 2/out [2.ª, 3.ª])
As folhas que distribuirei são de um suplemento-revista (Fugas) que sai aos sábados com o Público.
A coluna que nos interessa
chama-se «Fugas dos leitores». É escrita por leitores e é acompanhada por uma
fotografia, que costuma ser também da autoria de quem escreveu a crónica de
viagem. Os textos têm cerca de três mil caracteres (um pouco mais de
quinhentas palavras).
Ao mesmo tempo que
relanceies os textos que te calharam, verifica a qual dos tipos seguintes
correspondem (E, PT, ALD, ou O) e preenche as linhas em baixo.
[E] — Viagem ao
estrangeiro (com destino a uma dada localidade ou a toda uma região ou mesmo
país).
[PT] — Descrição de
localidade portuguesa visitada em turismo.
[ALD] — Texto sobre
localidade portuguesa que se conhece por vivência familiar (terra dos avós ou
dos pais, lugar onde se costuma passar as férias repetidamente, etc.).
[O] — Outra hipótese.
Tipo da crónica: E
/ PT / ALD / O
Título: __________________
Localidade (ou região) que é o foco do texto:
___________________
País: _______________
Tipo da crónica: E
/ PT / ALD / O
Título: __________________
Localidade (ou região) que é o foco do texto:
___________________
País: _______________
Tipo da crónica: E
/ PT / ALD / O
Título: __________________
Localidade (ou região) que é o foco do texto:
___________________
País: _______________
Tipo da crónica: E
/ PT / ALD / O
Título: __________________
Localidade (ou região) que é o foco do texto:
___________________
País: _______________
Escreve texto ao mesmo
estilo, de crónica de viagem. Pode ser num dos três tipos que enunciei. Texto
deverá ter, para já, umas 300 palavras. A tinta.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPC — Relanceia as páginas
sobre «Relato de viagem» no manual (pp. 364-365).
Aula 16 (6/out [1.ª, 2.ª, 3.ª]) Correção de questionário de compreensão de carta sobre génese dos heterónimos. Explicação sobre valores aspetuais.
Na coluna da direita, identifica o responsável por esse matiz aspetual:
o verbo auxiliar (AUX); o significado
do verbo principal (V); o tempo em que
o verbo está usado (T); alguma expressão
temporal presente na frase.
|
Frase |
Aspeto |
Através de... |
|
A competição é inevitável |
genérico |
|
|
As carmelitas
descalças estão a comercializar doçaria conventual |
|
Aux («estar a») |
|
As freiras
vicentinas andam a vender rendas de bilro |
|
|
|
As carmelitas sabem perfeitamente
que os doces conventuais são o nosso negócio |
situação estativa |
|
|
Deus é grande [mas parece ser pequeno para o amor destas religiosas] |
|
V («ser») |
|
Tudo estava bem [até que as carmelitas quiseram mais] |
imperfetivo |
|
|
Lá vem ela |
|
T (presente) |
|
Nós sempre dominámos o mundo
dos bordados |
imperfetivo |
|
|
Às vezes, dá-me vontade de
rir |
|
«às vezes», T (presente) |
|
Já recordei todos os trocadilhos
com freiras |
|
T (perfeito), «já» |
|
O Maior costuma observar o
vosso Bingo |
|
Aux («costumar») |
|
O Maior vê sempre os vossos
cartões |
habitual |
|
|
Quem ama o Senhor são as vicentinas |
situação estativa |
|
|
As carmelitas têm ido a Santiago
todos os meses |
iterativo |
|
|
As vicentinas tropeçaram nas
escadas |
|
T (perfeito) |
Nestes dois passos a seguir, mais do que o aspeto interessam os
valores temporais: anterioridade, simultaneidade, posterioridade.
|
Frase |
Localização temporal |
Através de... |
|
Vai dizer à tua abadessa [que quem
ama o Senhor são as vicentinas] |
posterioridade |
|
|
Na procissão de maio vamos
rezar menos uma novena por elas |
|
«Na procissão de maio», Aux
(«ir») |
TPC — Lê em Gaveta de Nuvens as páginas sobre ‘Tempo, Aspeto, Modalidade’ retiradas de boa gramática. No manual podes ler as pp. 328-329 (‘Aspeto e valor aspetual’).
Aula 17-18 (6 e 7 [1.ª], 7 [2.ª], 9/out [3.ª]) Correção de apreciação crítica à curta Dia Triunfal.
Rita Nunes vence sem
precisar de derrotar Fernando Pessoa
Dia Triunfal desafia-nos a imaginar
tudo ao contrário mas não se esquece de nos dar as âncoras para reconhecermos o
ponto de partida, o verdadeiro dia triunfal.
«Dia triunfal» foi como
Fernando Pessoa recordaria, decerto muito fantasiosamente, o dia 8 de março de
1914, quando lhe teriam surgido, num ímpeto, os primeiros poemas assinados
pelos heterónimos Alberto Caeiro (logo uma trintena de poesias de O
Guardador de Rebanhos), Ricardo Reis e Álvaro de Campos. O relato desse
momento «epifânico» está numa carta de mais de vinte anos depois enviada ao
mais jovem poeta, e fã de Pessoa, Adolfo Casais Monteiro. O fenómeno
heteronímico é talvez o aspeto mais sedutor da figura literária de Fernando
Pessoa, dado até o caráter lúdico implicado na criação de três
personagens-autores, ou quatro — se contarmos com o semi-heterónimo Bernardo
Soares —, embora se possa dizer que bastaria a produção ortónima para que
Pessoa já fosse, como é, um dos grandes escritores do século XX.
Na curta-metragem que
intitulou precisamente Dia Triunfal, Rita Nunes vira do avesso o
episódio já mítico, propondo-nos um novo enredo para a génese dos heterónimos.
A heteronímia seria afinal uma estratégia de cinco poetas menores, um golpe de
marketing genial, sugerido pelo mais histriónico e extrovertido dentre eles,
Álvaro de Campos. E se tivesse havido cinco autores de carne e osso que
resolvessem abdicar de publicidade individual em favor da glória de um só
deles, convenientemente determinado por sorteio? E, claro, para a nova
explicação poder aderir ao que firmou a história, o escolhido à sorte tinha de
ser Fernando Pessoa.
Apesar da assumida
desconfiança relativamente à história oficial da génese dos heterónimos, o
filme não deixa de aproveitar as idiossincrasias dos quatro. Talvez Ricardo
Reis seja um tanto desaproveitado (esperaríamos vê-lo a argumentar contra
táticas tão industriosas) e Bernardo Soares tenha saído demasiado caricatural
no seu estatuto de heterónimo secundário (por culpa também da representação
estilizada do jovem ator André Teodósio?). Ao contrário, nas cenas iniciais, em
ritmo vivo que resulta de se ir alternando a presença no ecrã dos quatro
poetas, vemo-los a saírem do seu ambiente — que funciona como um primeiro
emblema —, resultando ainda melhor o que se vai ouvindo à medida que percorrem
o caminho até ao café onde os espera Fernando Pessoa. São fragmentos de alguns
dos poemas mais conhecidos de cada um dos heterónimos — versos que se
constituem como segundo elemento identificador —, a que se juntam ainda as
indumentárias (o boné de Caeiro, o chapéu convencional de Reis, a camisola azul
de Campos).
É no esforço bem sucedido
que faz para que reconheçamos o que já sabemos dos heterónimos que reside boa
parte do mérito desta curta. Se é certo que é um interessante achado a novidade
da explicação para heteronímia e a surpresa no fecho do filme, esse sucesso
assenta bastante nos momentos anteriores em que fomos chamados ao exercício de
reconhecer os quatro perfis. Ou seja, de qualquer modo é sempre a invenção de
Pessoa que triunfa.
O texto informativo que se
segue apresenta a obra de Álvaro de Campos. Atendendo às relações
indicadas entre parênteses, completa-o com os conectores apropriados, de
entre os transcritos abaixo:
| mas sobretudo | depois
da | e | não só | portanto | realmente | ao
mesmo tempo | por isso | igualmente | mas | ou |
em vez da |
Álvaro de Campos goza de
um estatuto especial entre os heterónimos, ____ (enumeração) por ser aquele que
tem um perfil biográfico mais completo, ____ (enumeração), porque Pessoa fez
dele um poeta atual, modernista e vanguardista [...].
Na época em que foi
criado, em conjunto com os outros heterónimos, a função de Campos estava, _____
(conclusão), circunscrita a um vanguardismo europeísta _____ (oposição) _______
(tempo) nacional, aproximando-se do Futurismo no que respeita ao culto das
tecnologias ______ (adição) da ciência moderna [...].
Foi ______ (confirmação) a
este heterónimo que Pessoa atribuiu a autoria de dois incisivos textos
programáticos do Modernismo: o «Ultimatum»,
que foi publicado em 1917 na revista Portugal
Futurista [...]; os «Apontamentos
para uma estética não aristotélica», que viram a luz na revista Athena (1924-1925), contêm a proposta de
uma nova estética, adaptada aos tempos modernos, e, ______ (consequência),
baseada na ideia de força ______ (contraste) aristotélica (10) _____
(alternativa) helénica ideia de beleza.
[...] «Opiário» representa
a época pré-modernista de Pessoa. Ficticiamente anterior às grandes odes
sensacionistas, foi _______ (certeza) composto vários meses ______
(sequencialização temporal) «Ode Triunfal».
[tarefa tirada do manual Expressões,
12.º ano, com texto de António Apolinário Lourenço]
Na p. 84 do manual,
resolve estes itens sobre Álvaro de Campos, depois de ouvirmos gravação
com texto de João Pedro George:
Nos itens 1. a 4.,
seleciona a opção correta.
1. No início do texto, a
apresentação de Álvaro de Campos como heterónimo que «se desprendia do seu
criador para ganhar vida própria» decorre, entre outros aspetos,
(A) do seu envolvimento nas interações sociais de
Pessoa.
(B) das diferenças entre a sua poesia e a do
ortónimo.
(C) da quantidade de elementos biográficos criados
por Pessoa.
(D) do seu posicionamento político divergente do
de Fernando Pessoa.
2. Relativamente a Fernando
Pessoa, Álvaro de Campos representa
(A) contraste.
(B) desinibição.
(C) rigor.
(D) imitação.
3. As odes produzidas por
Álvaro de Campos
(A) coincidem tematicamente com as odes de Ricardo
Reis.
(B) são marcadas por uma melancolia profunda.
(C) exaltam as viagens marítimas do passado.
(D) celebram a vida de forma efusiva.
4. Às duas fases da produção
poética de Álvaro de Campos corresponde, de acordo com o texto, um contraste
entre
(A) subjetividade e objetividade.
(B) tradição e modernidade.
(C) exterioridade e interioridade.
(D) realidade e ficção.
5. De acordo com a
informação apresentada, completa o esquema.
Fases da poesia de Álvaro
de Campos
|
Fase sensacionista |
Fase metafísica, _______ |
|
Características: sensibilidade
sobre-excitada, revolta interior, choque e _____, atenção à vida em renovação
constante, interesse pelo mundo ______, linguagem metafórica, discurso nem
sempre lógico. |
Características:_______, melancolia
profunda, intimismo, luta contra o excesso de _______. |
A «Ode triunfal»,
de Álvaro de Campos, é muito maior do que os excertos que vemos nas pp.
85-88 do manual (vai até lá). Como as outras grandes odes
futuristas-sensacionistas deste heterónimo («Ode marítima», «Saudação a Walt
Whitman», «A passagem das horas»), é um poema de várias páginas, torrencial.
(Como tepecê, aliás, sugiro que dês uma vista de olhos ao resto da «Ode triunfal», através de http://arquivopessoa.net/.)
Para já, ponho os versos
que se seguem ao v. 32 (a partir do qual o manual faz muitos cortes), mas sem
que cheguemos, sequer, a meio do poema. A fechar, incluí os versos que causaram
polémica há uns anos por terem sido censurados num manual (no nosso, optou-se
por nem chegar perto dessa parte).
Fraternidade com todas as dinâmicas!
Promíscua fúria de ser parte-agente
Do rodar férreo e cosmopolita
Dos comboios estrénuos,
Da faina transportadora-de-cargas dos navios,
Do giro lúbrico e lento dos guindastes,
Do tumulto disciplinado das fábricas,
E do quase-silêncio ciciante e monótono das
correias de transmissão!
Horas europeias, produtoras, entaladas
Entre maquinismos e afazeres úteis!
Grandes cidades paradas nos cafés,
Nos cafés — oásis de inutilidades ruidosas
Onde se cristalizam e se precipitam
Os rumores e os gestos do Útil
E as rodas, e as rodas-dentadas e as chumaceiras
do Progressivo!
Nova Minerva sem-alma dos cais e das gares!
Novos entusiasmos de estatura do Momento!
Quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às
docas,
Ou a seco, erguidas, nos planos-inclinados dos
portos!
Atividade internacional, transatlântica, Canadian-Pacific!
Luzes e febris perdas de tempo nos bares, nos
hotéis,
Nos Longchamps e nos Derbies e nos Ascots,
E Piccadillies e Avenues de L’Opéra que entram
Pela minh’alma dentro!
Hé-lá as ruas, hé-lá as praças, hé-lá-hô la
foule!
Tudo o que passa, tudo o que para às montras!
Comerciantes; vários; escrocs exageradamente
bem-vestidos;
Membros evidentes de clubes aristocráticos;
Esquálidas figuras dúbias; chefes de família
vagamente felizes
E paternais até na corrente de oiro que atravessa
o colete
De algibeira a algibeira!
Tudo o que passa, tudo o que passa e nunca passa!
Presença demasiadamente acentuada das cocotes
Banalidade interessante (e quem sabe o quê por
dentro?)
Das burguesinhas, mãe e filha geralmente,
Que andam na rua com um fim qualquer;
A graça feminil e falsa dos pederastas que passam,
lentos;
E toda a gente simplesmente elegante que passeia e
se mostra
E afinal tem alma lá dentro!
(Ah, como eu desejaria ser o souteneur
disto tudo!)
A maravilhosa beleza das corrupções políticas,
Deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos,
Agressões políticas nas ruas,
E de vez em quando o cometa dum regicídio
Que ilumina de Prodígio e Fanfarra os céus
Usuais e lúcidos da Civilização quotidiana!
Notícias desmentidas dos jornais,
Artigos políticos insinceramente sinceros,
Notícias passez à-la-caisse, grandes crimes
—
Duas colunas deles passando para a segunda página!
O cheiro fresco a tinta de tipografia!
Os cartazes postos há pouco, molhados!
Vients-de-paraître amarelos como uma cinta
branca!
Como eu vos amo a todos, a todos, a todos,
Como eu vos amo de todas as maneiras,
Com os olhos e com os ouvidos e com o olfato
E com o tato (o que palpar-vos representa para
mim!)
E com a inteligência como uma antena que fazeis
vibrar!
Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós!
Adubos, debulhadoras a vapor, progressos da
agricultura!
Química agrícola, e o comércio quase uma ciência!
Ó mostruários dos caixeiros-viajantes,
Dos caixeiros-viajantes, cavaleiros-andantes da
Indústria,
Prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos
escritórios!
[...]
Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre
a mesma,
Que emprega palavrões como palavras usuais,
Cujos filhos roubam às portas das mercearias
E cujas filhas aos oito anos — e eu acho isto belo
e amo-o! —
Masturbam homens de aspeto decente nos vãos de
escada.
[...]
Uso um ensaio (que também
está no manual, na p. 91) — de Lino Moreira da Silva, sobre linguagem
da «Ode triunfal» — a que acrescentei, entre parênteses curvos, citações do
poema e, entre parênteses retos, os números dos versos. Completa essa minha
ampliação do original com os exemplos que encontres nas três estrofes iniciais
(vv. 1-32, pp. 85-86). (Pus ainda outros exemplos, de versos já não
reproduzidos no manual.)
E a preocupação do poeta é
ainda fazer corresponder o modo de exteriorização daquilo que sente àquilo que
diz que sente, isto é: o nível da expressão ao nível do conteúdo. E assim todas
essas manifestações da dinâmica da vida moderna são apresentadas por ele
repetitivamente, desordenadamente, em catadupa, sugerindo o movimento das
máquinas e a pressa em usufruir de tudo, em ser tudo e ser de tudo, a emoção e
a ansiedade que o invadem. [...]
Ao sentido de modernidade
que deseja transmitir, e a que recorre para sentir
tudo de todas as maneiras — conferindo poeticidade a temáticas não usuais,
como motores, fábricas, energia [...] —, faz o poeta corresponder um nível de
expressão carregado de nomes concretos e abstratos («Inconsciente», «Matéria»),
isolados ou em conjuntos («aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos,
mínimos, / Instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, /
Engenhos, brocas, máquinas rotativas» [vv. 102-104]), fonemas substantivados
(«____ eterno» [v.
5]), topónimos («Panamá, Kiel, Suez» [108]), antropónimos («____», «Virgílio»,
«Alexandre», «_____»), estrangeirismos («souteneur»; «escrocs»; «la
foule»), maiúsculas desusadas («Momento», «Horizonte», «Nova Revelação»,
«Inconsciente», «Matéria»), adjetivação expressiva («excesso ______ de vós»
[14]), simples e múltipla («____ ruídos
______» [10]; «flora estupenda, negra, artificial e insaciável»),
polissíndetos («_______» [16]; «por
estas correias de transmissão __ por estes êmbolos __ por estes volantes»
[24]), metáforas («_______»
[25], «frutos de ferro e útil da árvore-fábrica cosmopolita» [112]), apóstrofes
(«____, _____» [5]), anáforas («______» [8-9]; «Amo-vos [...] /
Amo-vos»), personificações («________» [6]; «átomos que hão de _______» [22]), sinestesias («tenho os lábios secos […] / ______»
[10-11]; «bebedeira dos metais»; «rubro ruído»), perífrases, iterações (retoma
de «ó» de apóstrofes), gradações («Atirem-me para dentro das fornalhas! /
Metam-me debaixo dos comboios! / Espanquem-me a bordo de navios» [63-65]),
comparações («______» [15]; «exprimir-me
todo _______» [26]; «ser
completo como uma ____» [27]; «ir
na vida triunfante como um automóvel último-modelo» [28]; «um orçamento
é tão natural como uma árvore / e um parlamento tão belo como uma borboleta»),
neologismos («______» [28]; «aeroplanos»), grande variedade de formas verbais
(por todo o texto), advérbios expressivos («amo-vos carnivoramente»), gerúndios
expressivos («rugindo, rangendo,
ciciando, ______, ferreando» [25]), musicalidade e ritmo (por
todo o texto), aliterações («dolorosa luz das grandes ______» [1]; «rodas, engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno» [5]), interjeições («Olá», «Ah», «Eia», «Hup-lá», «Hé-lá»),
rimas internas, onomatopeias («_____»
[5] «Z-z-z-z-z-z-z-z-z!» [125]; «hô-ô-ô» [113]), etc...
E tudo isto surge
caoticamente e esfuziantemente organizado, em verso livre branco e estrofes
heteromórficas, manifestando euforia, descontrolo emocional, admiração pelo
progresso e pela técnica.
[Sobre a
forma da ode em Álvaro de Campos:]
«Definida como um poema
lírico dividido em estrofes semelhantes entre si pelo número e medida dos
versos [como sucede nas odes de Ricardo
Reis], a ode ganha em Campos características completamente
diversas. Trata-se, no seu caso, de composições em longos versos brancos,
alternando com versos curtos, à maneira de Walt Whitman. São odes futuristas,
destinadas a cantar (como se preceitua para este tipo de poema) a máquina e a
vida moderna.»
Manuela Parreira da Silva,
«Odes», Fernando Cabral Martins (coord.), Dicionário
de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, Lisboa, Caminho, 2008
Depois de leres o trecho
sobre «ode» (e, especialmente, «ode» à Campos) que deixei em cima, escreve boa
parte de uma ode, ao estilo do Campos futurista-sensacionista, acerca de uma
realidade qualquer (que conheças suficientemente). Título será «Ode a/à/ao
______ {nome}» ou «Ode _______ {adjetivo}».
Ode ____________
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
TPC — Dá uma vista de olhos
ao resto da «Ode triunfal», para que lincarei no tepecê em Gaveta
de Nuvens.
Não modernizei a grafia (Pessoa
escrevia segundo a escrita comum antes da primeira reforma ortográfica, em 1911).
Atualiza tu a grafia, emendando o texto a lápis.
Há uma estrofe que traduz bem a reflexão que o Pessoa ortónimo fazia em «A ceifeira» e em «Gato que brincas na rua». É a ______ estrofe.
Todas as cartas de amor são
Ridiculas.
Não seriam cartas de amor se não fossem
Ridiculas.
Tambem escrevi em meu tempo cartas de amor,
Como as outras,
Ridiculas.
As cartas de amor, se ha amor,
Têm de ser
Ridiculas.
Mas, afinal,
Só as creaturas que nunca escreveram
Cartas de amor
É que são
Ridiculas.
Quem me dera no tempo em que escrevia
Sem dar por isso
Cartas de amor
Ridiculas.
A verdade é que hoje
As minhas memorias
D’essas cartas de amor
É que são
Ridiculas.
(Todas as palavras exdruxulas,
Como os sentimentos exdruxulos,
São naturalmente
Ridiculas.)
Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos, edição de Cleonice Berardinelli, Lisboa, INCM, 1990
Passa agora a «Aniversário» (pp. 102-103), também deste Álvaro de Campos dito da fase intimista.
Transcreve algum verso em que se perceba ainda o problema existencial
que vimos em «Gato que brincas na rua», «A ceifeira» — do ortónimo — e, há pouco,
em «Todas as cartas de amor são ridículas», de Álvaro de Campos.
_______________
Entre as características de Campos (em parte, também encontráveis
no Campos das odes futuristas), vê o que esteja abonado em «Aniversário». Para isso,
transcreverás trechos de «Aniversário» que ilustrem cada um destes itens:
comparações inesperadas: _______________
metáforas inesperadas: _______________
exclamações: ______________
anáforas: ______________
apóstrofes: _______________
paradoxos: _______________
repetições: _______________
versos longos e livres: muitos
das primeiras estrofes, sobretudo.
articulados com alguns bastante curtos: os da última estrofe, por exemplo.
fuga para a recordação e/ou sonho: _______________
poetização do prosaico, comum e quotidiano: _________________
fragmentação do eu: _________________
angústia existencial: [todo
o texto, decerto]
O texto constrói-se a partir da memória de um tempo passado. Caracteriza
esse passado, considerando as duas primeiras estrofes.
O passado era o tempo da ________________.
Justifica o uso do pretérito imperfeito do indicativo nessas mesmas
estrofes.
_________________________.
Relaciona o quinto verso da terceira estrofe com a estrofe anterior.
Na infância, o sujeito poético era feliz, mas __________________.
Só no presente, em que já perdeu essa felicidade inocente da infância é que sabe
que ________________.
Explica o valor aspetual do pretérito perfeito usado nesta terceira
estrofe.
___________________________.
Mostra como, na estrofe 6, a memória do passado se sobrepõe ao
presente.
A expressão «Vejo tudo
outra vez» inicia a presentificação do passado que, assim, substitui o _______________.
Mostra como, à euforia dessa presentificação,
se segue a disforia da tomada de consciência.
À euforia do passado tornado presente segue-se, na estrofe seguinte,
a disforia da tomada de consciência de que é impossível recuperar _______________.
Numa telenovela brasileira
de há anos, uma personagem gostava de recitar trechos de poemas de Álvaro de
Campos (na telenovela diz-se serem de Fernando Pessoa, mas trata-se efetivamente
de textos assinados por Álvaro de Campos).
Transcrevo, a seguir, um deles
(«Na noite terrível, substância natural de todas as noites»). O outro, o «Poema
em linha reta», está no manual, na p. 95.
Na noite terrível, substância natural de todas as noites,
Na noite de insónia, substância natural de todas as minhas noites,
Relembro, velando em modorra incómoda,
Relembro o que fiz e o que podia ter feito na vida.
Relembro, e uma angústia
Espalha-se por mim todo como um frio do corpo ou um medo.
O irreparável do meu passado — esse é que é o cadáver!
Todos os outros cadáveres pode ser que sejam ilusão.
Todos os mortos pode ser que sejam vivos noutra parte.
Todos os meus próprios momentos passados pode ser que existam algures,
Na ilusão do espaço e do tempo,
Na falsidade do decorrer.
Mas o que eu não fui, o que eu não fiz, o que nem sequer sonhei;
O que só agora vejo que deveria ter feito,
O que só agora claramente vejo que deveria ter sido —
Isso é que é morto para além de todos os Deuses,
Isso — e foi afinal o melhor de mim — é que nem os Deuses fazem
viver...
Se em certa altura
Tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita;
Se em certo momento
Tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim;
Se em certa conversa
Tivesse tido as frases que só agora, no meio-sono, elaboro —
Se tudo isso tivesse sido assim,
Seria outro hoje, e talvez o universo inteiro
Seria insensivelmente levado a ser outro também.
Mas não virei para o lado irreparavelmente perdido,
Não virei nem pensei em virar, e só agora o percebo;
Mas não disse não ou não disse sim, e só agora vejo o que não disse;
Mas as frases que faltou dizer nesse momento surgem-me todas,
Claras, inevitáveis, naturais,
A conversa fechada concludentemente,
A matéria toda resolvida...
Mas só agora o que nunca foi, nem será para trás, me dói.
O que falhei deveras não tem esperança nenhuma
Em sistema metafísico nenhum.
Pode ser que para outro mundo eu possa levar o que sonhei.
Mas poderei eu levar para outro mundo o que me esqueci de sonhar?
Esses sim, os sonhos por haver, é que são o cadáver.
Enterro-o no meu coração para sempre, para todo o tempo, para todos
os universos.
Nesta noite em que não durmo, e o sossego me cerca
Como uma verdade de que não partilho,
E lá fora o luar, como a esperança que não tenho, é invisível p’ra
mim.
Poesias de Álvaro de Campos, Lisboa, Ática, 1944 (imp.
1993), p. 34
As palavras sublinhadas são
pronomes relativos (ou palavras
relativas); introduzem orações relativas. Reportam-se à expressão que as precede.
A sua função sintática na oração relativa é a que teria essa palavra. Diz
qual é em cada oração relativa:
oração adjetiva
relativa
Comi o gato | que brincava na rua | porque o tomei por uma
lebre.
[=
o qual] || função sintática de que: _____
oração
adjetiva relativa
Eram muito sofisticadas as ceifeiras | que o jornalista
entrevistou.
[as quais] || função sintática de que: _____
oração adjetiva relativa
A mercearia | onde vendem ópio | faliu.
[na
qual] || função sintática de onde: ______
Agora,
escreve a função sintática dos segmentos
sublinhados:
Bruno Fernandes|, que
eu considero bom jogador,| não escreve cartas ridículas | mas dá saltinhos ridículos
| ao marcar penáltis, | que enervam os guarda-redes.
função do primeiro que:
_______ || função do outro que: ________
Depois de vermos mais um trecho de Ruby Sparks, completa a tabela:
|
Livro escrito dentro do filme
Ruby Sparks |
Relato na carta a Adolfo Casais
Monteiro |
|
Autor |
|
|
____ (que é também personagem
do filme) |
Fernando
____ (que é também o herói da narrativa) |
|
Narrador |
|
|
Narrador é ________ (de 3.ª pessoa). Será, creio, omnisciente
mas, se bem me lembro, ocasionalmente com focalização _____ na personagem Calvin
(e, por essa via, indiretamente, talvez próximo do autor). |
Narrador é homodiegético (de ___ pessoa).
Não será propriamente omnisciente (é pouco realista um nar-rador interveniente
na ação saber tudo acerca de todos), mas, quando se reporta aos heterónimos, pa-rece
proceder como o típico narrador ______. |
|
Protagonistas |
|
|
Calvin (personagem que parece inspirada na realidade, isto é,
no ____, que aliás promete alterar-lhe o nome, para desfazer essa identidade)
e _____ (que não resulta de inspiração em alguém real preexistente, mas, ao contrário,
vem criar uma nova pessoa na realidade exterior à narrativa). |
______ (que seria o «mestre de todos»), Ricardo Reis, Álvaro
de Campos, os três verdadeiros heterónimos. Também se refere o semi-heterónimo
______ (que o narrador considera não ser muito diferente do próprio Pessoa) e
até personagens inventadas por Pessoa desde a infância. |
|
Retorno entre autor e personagens |
|
|
Autor pode conformar a intriga da narrativa que cria e, portanto,
também a caracterização da protagonista. Só que, neste caso, como a personagem
Ruby invade a realidade exterior ao romance, o autor molda também a própria vida,
na medida em que interage, na vida real, com o reflexo da Ruby ficcionada. Resume
a situação o neologismo «mentalcesto», amálgama de «mental(idade)» + «_____». |
Autor conforma o enredo da criação dos heterónimos
ao que, vinte anos depois, no ano da sua morte (1935), quer fixar para futura
glória do «dia _____». Mas tem de moldar o relato às características das figuras
esboçadas nas duas décadas através dos textos que escreveram (na verdade, da autoria
de Pessoa). Resume a situação: «estará o Casais Monteiro pensando que má sorte
o fez cair, por leitura, em meio de um manicómio». |
TPC — O poema «Aniversário», como outros da fase intimista
de Álvaro de Campos (ou mesmo, por vezes, certos trechos das odes sensacionistas),
aproveita o que podemos caracterizar como ‘a nostalgia da infância’. Este
tema é também frequente no Pessoa ortónimo. Para já, gostava que relanceasses —
em Gaveta de Nuvens — «Un soir à Lima»,
um longo poema que, tanto quanto se pode identificar sujeito poético e autor (e
não deve), se diria autobiográfico.
#
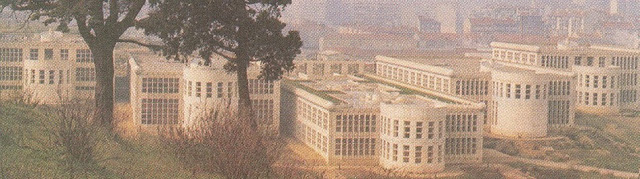 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)



<< Home