Aula 150
Aula 150 (3/jun [1.ª, 3.ª, 4.ª]) Segue-se um trecho do último
capítulo de O Ano da Morte...
(a meio, cortei um pouco):
[...] Quando Ricardo Reis chegou ao jardim havia já muitas pessoas,
morar aqui perto era um privilégio, não há melhor sítio em Lisboa para ver
entrar e sair os barcos. Não eram os navios de guerra que estavam a bombardear
a cidade, era o forte de Almada que disparava contra eles. Contra um deles.
Ricardo Reis perguntou, Que barco é aquele, teve sorte, calhou dar com um
entendido, É o Afonso de Albuquerque. Era então ali que ia o irmão de Lídia, o
marinheiro Daniel, a quem nunca vira, por um momento quis imaginar um rosto,
viu o de Lídia, a estas horas também ela chegou a uma janela do Hotel Bragança,
ou saiu para a rua, vestida de criada, atravessou a correr o Cais do Sodré,
agora está na beira do cais, aperta as mãos sobre o peito, talvez a chorar,
talvez com os olhos secos e as faces incendiadas, de repente dando um grito
porque o Afonso de Albuquerque foi atingido por um tiro, logo outro, há quem
bata palmas no Alto de Santa Catarina, neste momento apareceram os velhos,
quase lhes rebentam os pulmões, como terão eles conseguido chegar aqui tão
depressa, em tão pouco tempo, morando lá nas profundas do bairro, mas
prefeririam morrer a perder o espetáculo, ainda que venham a morrer por não tê-lo
perdido. Parece, tudo isto, um sonho. O Afonso de Albuquerque navega devagar,
provavelmente foi atingido em algum órgão vital, a casa das caldeiras, o leme.
O forte de Almada continua a disparar, parece o Afonso de Albuquerque que
respondeu, mas não há a certeza. Deste lado da cidade começaram a soar tiros,
mais violentos, mais espaçados, É o forte do Alto do Duque, diz alguém, estão
perdidos, já não vão poder sair. E é neste momento que outro barco começa a
navegar, um contratorpedeiro, o Dão, só pode ser ele, procurando ocultar-se no fumo das suas próprias chaminés e encostando-se à margem sul
para escapar ao fogo do forte de Almada, mas, se deste escapa, não foge ao do
Alto do Duque, as granadas rebentam na água, contra o talude, estas são de
enquadramento, as próximas atingem o barco, o impacto é direto, já sobe no Dão uma bandeira branca, rendição, mas o bombardeamento
continua, o navio vai adernado, então são mostrados sinais de maior dimensão,
lençóis, sudários, mortalhas, é o fim, o Bartolomeu Dias nem chegará a largar a
boia. São nove horas, cem minutos passaram desde que isto principiou, a neblina
da primeira manhã já se desvaneceu, o sol brilha desafogado, a esta hora devem
andar a caçar os marinheiros que se atiraram à água. Deste miradouro não há
mais nada para ver. Ainda aí vêm uns retardatários, não puderam chegar mais
cedo, os veteranos explicam como foi, Ricardo Reis sentou-se num banco, sentaram-se depois
ao lado dele os velhos, que, escusado será dizer, quiseram meter conversa, mas
o senhor doutor não responde, está de cabeça baixa como se tivesse sido ele o
que quis ir ao mar e acabou apanhado na rede. Enquanto os adultos conversam,
cada vez menos excitadamente, os rapazitos começaram a saltar ao eixo, as meninas
cantam, Fui ao jardim da Celeste, o que foste lá fazer, fui lá buscar uma rosa,
e outra podia ser a cantiga, nazarena, Não vás ao mar Tonho, podes morrer
Tonho, ai Tonho Tonho, que desgraçado tu és, não tem esse nome o irmão de
Lídia, mas em desgraça não será grande a diferença. Ricardo Reis levanta-se
do banco, os velhos, ferozes, já não dão por ele, o
que valeu foi ter dito uma mulher, compassiva, Coitadinhos, refere-se
aos marinheiros, mas Ricardo Reis sentiu esta doce
palavra como um afago, a mão sobre a testa ou suave correndo pelo cabelo, e
entra em casa, atira-se para cima da
cama desfeita, escondeu os olhos com o antebraço para poder chorar à vontade,
lágrimas absurdas, que esta revolta não foi sua, sábio é o que se contenta com
o espetáculo do mundo, hei de dizê-lo mil vezes, que
importa àquele a quem já nada importa que um perca e outro vença. Ricardo Reis levanta-se,
põe a gravata, vai sair, mas ao passar a mão pela
cara sente a barba crescida, não precisa de olhar-se ao espelho para saber que não gosta de si neste estado, os pelos
brancos brilhando, cara de sal e pimenta, anunciação da velhice. Os dados já
foram atirados sobre a mesa, a carta jogada foi coberta pelo ás de trunfo, por
mais depressa que corras não salvarás o teu pai da forca, são ditos comuns que
ajudam a tornar suportáveis para o vulgo as resoluções do destino, sendo assim
vai Ricardo Reis barbear-se e lavar-se, é um homem
vulgar, enquanto se barbeia não pensa, dá apenas atenção ao deslizar da
navalha, um destes dias terá de assentar-lhe o fio,
que parece dobrado. Eram onze e meia quando saiu de casa, vai ao Hotel Bragança,
é natural, ninguém pode estranhar que um antigo cliente, que não o foi de
passagem, mas por quase três contínuos meses, ninguém estranhará que esse
cliente, tão bem servido por uma das criadas do hotel, a qual teve um irmão
nesta revolta, ela lho tinha dito, Ah, sim senhor doutor, tenho um irmão que é
marinheiro no Afonso de Albuquerque, ninguém estranhará que vá saber, interessar-se,
Coitada da rapariga, o que lhe havia de ter
acontecido, há pessoas que nascem sem sorte. [...]
Durante
toda a tarde, Lídia não apareceu. Na hora da distribuição dos vespertinos
Ricardo Reis saiu para comprar o jornal. Percorreu rapidamente os títulos da
primeira página, procurou a continuação da notícia na página central dupla,
outros títulos, ao fundo, em normando, Morreram doze marinheiros, e vinham os
nomes, as idades, Daniel Martins de vinte e três anos, Ricardo Reis ficou
parado no meio da rua, com o jornal aberto, no meio de um silêncio absoluto, a
cidade parara, ou passava em bicos de pés, com o dedo indicador sobre os lábios
fechados, de repente o barulho voltou ensurdecedor, a buzina dum automóvel, o despique
de dois cauteleiros, o choro duma criança a quem a mãe puxava as orelhas, Se
tornas a fazer outra, deixo-te sem conserto. Lídia não estava à espera nem havia sinal de que tivesse passado. É quase noite.
Diz o jornal que os presos foram levados primeiro para o Governo Civil, depois
para a Mitra, que os mortos, alguns por identificar, se encontram no
necrotério. Lídia andará à procura do irmão, ou está
em casa da mãe, chorando ambas o grande e irreparável desgosto.
Então
bateram à porta. Ricardo Reis correu, foi abrir, já prontos os braços para
recolher a lacrimosa mulher, afinal era Fernando Pessoa, Ah, é você, Esperava
outra pessoa, Se sabe o que aconteceu, deve calcular que sim, creio ter-lhe dito
um dia que a Lídia tinha um irmão na Marinha, Morreu, Morreu. Estavam no
quarto, Fernando Pessoa sentado aos pés da cama, Ricardo Reis numa cadeira.
Anoitecera por completo. Meia hora passou assim, ouviram-se as pancadas de um
relógio no andar de cima, É estranho, pensou Ricardo Reis, não me lembrava
deste relógio, ou esqueci-me dele depois de o ter
ouvido pela primeira vez. Fernando Pessoa tinha as mãos sobre o joelho, os
dedos entrelaçados, estava de cabeça baixa. Sem se mexer, disse, Vim cá para
lhe dizer que não tornaremos a ver-nos, Porquê, O meu tempo chegou ao fim,
lembra-se de eu lhe ter dito que só tinha para uns meses, Lembro-me, Pois
é isso, acabaram-se. Ricardo Reis subiu o nó da gravata, levantou-se, vestiu
o casaco. Foi à mesa de cabeceira buscar The god of the labyrinth, meteu-o debaixo
do braço, Então vamos, disse, Para onde é que você vai, Vou consigo, Devia
ficar aqui, à espera da Lídia, Eu sei que devia, Para a consolar do desgosto de
ter ficado sem o irmão, Não lhe posso valer, E esse livro, para que é, Apesar
do tempo que tive, não cheguei a acabar de lê-lo, Não irá ter tempo, Terei o
tempo todo, Engana-se, a leitura é a primeira virtude que se perde, lembra-se. Ricardo
Reis abriu o livro, viu uns sinais incompreensíveis, uns riscos pretos, uma
página suja, Já me custa ler, disse, mas mesmo assim vou levá-lo, Para quê,
Deixo o mundo aliviado de um enigma. Saíram de casa, Fernando Pessoa ainda
observou, Você não trouxe chapéu, Melhor do que eu sabe que não se usa lá.
Estavam no passeio do jardim, olhavam as luzes pálidas do rio, a sombra
ameaçadora dos montes. Então vamos, disse Fernando Pessoa, Vamos, disse Ricardo
Reis. O Adamastor não se voltou para ver, parecia-lhe
que desta vez
ia ser capaz de dar o grande grito. Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera.
Por favor, usa apenas a
folha com o texto que distribuí. Tentei imitar itens à grupo II de exame
(compreensão de texto; compreensão de texto com gramática leve; uns itens de
gramática mais ativos) e controlar alguma coisa da leitura da obra.
O «jardim» que é referido
na l. 1 é o
a) da Celeste.
b) do Adamastor.
c) da Estrela.
d) do Hotel Bragança.
O constituinte «ao jardim» (l. 1) desempenha a
função sintática de
a) complemento do nome.
b) modificador do grupo verbal.
c) complemento indireto.
d) complemento oblíquo.
Em «morar aqui perto» (l. 1) — sobretudo se
assumirmos que é frase pensada mais pelo protagonista do que pelo narrador —,
«aqui» é uma marca deítica
a) temporal.
b) espacial.
c) pessoal.
d) pessoal e espacial.
O irmão de Lídia, Daniel, era
a) da Armada e seguidor do Estado Novo.
b) da PVDE e seguidor do Estado Novo.
c) marinheiro e contra a situação política
vigente.
d) da Marinha e sem convicções políticas.
«foi atingido» (l. 10) tem valor aspetual
a) imperfetivo.
b) iterativo.
c) perfetivo.
d) genérico.
Quem batia palmas (l. 11) fá-lo-ia por
a) estar a favor do regime político.
b) ser contra o regime político.
c) entusiasmo infantil de quem segue um despique a
que é indiferente.
d) má interpretação do que acontecia.
«os velhos» (ll. 11-12) são
a) vizinhos de Reis que habitualmente liam
jornais.
b) os professores, nomeadamente o de Português.
c) Ricardo Reis e Fernando Pessoa.
d) grupo de habitantes do bairro atraídos pelo que
acontecia.
«tudo isto» (l. 14) é
a) predicativo do sujeito.
b) sujeito.
c) complemento direto.
d) predicativo do complemento direto.
O forte de Almada disparava (ll. 21-22)
a) ao serviço dos espanhóis.
b) pelo lado dos revoltosos.
c) contra os amotinados.
d) a favor dos franquistas.
O «senhor doutor» (l. 32) é
a) Fernando Pessoa.
b) um médico.
c) um brasileiro.
d) um cocó com estudos.
«Não vás ao mar Tonho» (l. 36) recupera
a) momento passado no Dona Maria.
b) conversa havida numa deambulação por Lisboa.
c) canção que Marcenda costumava cantar.
d) canção que Lídia costumava cantar.
«vespertinos» [= ‘jornais da tarde’] (l. 59),
«jornal» (60), «títulos de primeira página» (60), «notícia» (61), «página
central dupla» (61) «outros títulos» (61) concorrem para a coesão
a) referencial.
b) temporal.
c) lexical.
d) interfrásica.
«parado no meio da rua» (l. 63) desempenha a
função sintática de
a) complemento direto.
b) predicativo do sujeito.
c) modificador restritivo do nome.
d) modificador do grupo verbal.
As palavras sublinhadas em «Lídia andará à
procura do irmão, ou está em casa da mãe, chorando ambas o grande e
irreparável desgosto» (ll. 70-71) conferem à passagem
a) nexo explicativo.
b) sentido de posterioridade.
c) aceção de alternativa.
d) conotação de tristeza.
O quarto referido na l. 75 é o
a) de Lídia.
b) do Alto de Santa Catarina.
c) de Reis, no Hotel Bragança.
d) de Fernando Pessoa.
«nos» (l. 80) é
a) complemento indireto.
b) complemento direto.
c) sujeito.
d) complemento oblíquo.
«só tinha para uns meses» (l. 81) reporta-se a
a) tempo de Reis em Lisboa.
b) vida póstuma de Pessoa.
c) gravidez de Lídia.
d) garrafas de aguardente do poeta.
«The
god of the labyrinth» (l. 83) era livro
a) de Jorge Luis Borges.
b) escrito por personagem de conto de Pessoa.
c) escrito, supostamente, por Herbert Quain.
d) escrito por heterónimo de Pessoa.
O verbo auxiliar do complexo verbal «Devia ficar»
(l. 84) tem valor
a) temporal de anterioridade.
b) modal deôntico.
c) modal epistémico.
d) modal apreciativo.
«Vamos» (ll. 92-93),
dito por Pessoa e replicado logo por Reis, vale como expressão deítica
a) pessoal.
b) temporal e espacial.
c) pessoal, temporal, espacial.
d) temporal.
«Diz o jornal que os presos foram levados
primeiro para o Governo Civil» (ll. 68-69) — classifica quanto à função
sintática o constituinte sublinhado:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Deixo o mundo aliviado de um enigma»
(l. 90) — classifica quanto à função sintática os dois constituintes
sublinhados:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Classifica as orações em «Vim cá / para lhe dizer
/ que não tornaremos a ver-nos» (l. 80):
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Classifica as orações sublinhadas em «Ricardo
Reis subiu o nó da gravata, levantou-se, vestiu o casaco» (ll. 82-83):
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Classifica as orações em «[A] leitura é a primeira
virtude / que se perde» (ll. 87-88):
a) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .;
b) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ..
Completa (em geral, com termos de
narratologia ou com nomes de personagens):
|
Tempo do discurso vs.
Tempo da história |
|
|
O Ano da Morte de Ricardo Reis |
Locke |
|
Há
alterações na ordem dos
acontecimentos? |
|
|
Os acontecimentos do enredo são relatados,
predominantemente, numa sequência cronológica linear. Há, no entanto, leves
transgressões dessa linearidade _______, quando se alude a acontecimentos
passados ou futuros. A _____ não é recurso essencial, mas, por vezes,
somos informados de factos anteriores à história que está a ser narrada (há
alusões sobretudo a factos anteriores à intriga mas da vida de Fernando
Pessoa, mais do que da história em geral). As ______ são mais significativas,
até porque costumam ser menos habituais nos romances. Neste caso, temos, por
exemplo, como objeto de antecipação o 25 de abril de 1974. O discurso do ______ é atravessado por outros
discursos. Destacam-se os textos dos jornais e da rádio, que irrompem na ______
e desenham a imagem de um Portugal idealizado, sob a batuta de Salazar.
Também emergem as referências a obras literárias (cfr.
intertextualidade). |
Não há propriamente analepses ou prolepses, uma
vez que o tempo do discurso (medido em «película» de filme) e o tempo da ________
(no fundo, o de uma viagem de carro entre duas cidades inglesas) parecem
coincidir completamente. Pretende-se que acreditemos que a ação decorre
«em direto» (abordagem que implica não haver distorções entre tempo da
história e do _____). Há alusões ao passado, mas apenas na conversa entre
personagens (entre Locke e ______ ou Katrina, sobretudo relativamente a um
dia de há sete meses; ou em desabafos dos colegas de trabalho de Locke,
acerca dos nove ou dez anos anteriores). Não se pode considerar que essas menções ao
passado por parte das personagens constituam alterações da ______ dos
acontecimentos. O mesmo se diga de intenções quanto ao ______, reveladas aqui
e ali, por parte de Locke ou das duas mulheres. São apenas isso: atos de fala
de cada uma das personagens. |
|
Há
distorções na duração (omissões,
resumos, pausas)? |
|
|
Não são muito significativas as omissões (por
elipse ou por resumo), embora, é claro, como em qualquer romance, sejam
evitadas as repetições: o quotidiano do protagonista não nos pode ser
constantemente relatado. Logo que as ações típicas estão suficientemente
ilustradas, cabe-nos assumir que, durante aquela época da _______, Ricardo
Reis cumpriria dias semelhantes. Ao contrário, haverá zonas em que o relato
parece demorar-se excessivamente, ________ a velocidade da narrativa, uma vez
que a narração é entrelaçada com comentários e digressões do narrador, que
interpreta os acontecimentos, para dar conta das circunstâncias em que o povo
português vive em 1935 e 1936. Nesses passos, o tempo do _________ parece
mais lento do que o da história. |
A duração do discurso, no caso do cinema,
corresponderá ao que demora o filme a ser visto (num livro, a duração do
_______ pode ser medida em páginas). Tal como se viu acontecer em termos de
ordem, também quanto à duração em Locke
se assume haver completa equivalência entre o tempo da ação e o da nossa
receção. Por exemplo, somos instados a crer que não há
______ e que, portanto, não houve momentos mortos na viagem: Locke esteve
sempre ao telemóvel ou em monologais ajustes de contas com o ____ (e estes
monólogos até parecem demorar o tempo «real»). Se considerássemos dentro da
diegese o que originara a ação presente, poder-se-ia dizer que se recorrera a
________, incluídos nos diálogos, para se conseguir incorporar,
compactados, esses longos sete meses. |
Eis o grupo III da 2.ª fase do exame nacional de 2021.
Como se vê, tratou-se de uma apreciação crítica (e não de texto de opinião, o
outro formato comum):
Grupo III
Num texto bem estruturado,
com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas e cinquenta palavras, faça a
apreciação crítica da pintura A Engomadeira, da autoria de José de
Almada Negreiros.
O seu texto deve incluir:
– a descrição da imagem apresentada, destacando
elementos significativos da sua composição;
– um comentário crítico, fundamentando a sua
apreciação em, pelo menos, três aspetos relevantes e utilizando um discurso
valorativo.
José de Almada Negreiros, A
Engomadeira, 1938, in www.gulbenkian.pt (consultado em outubro de 2020).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
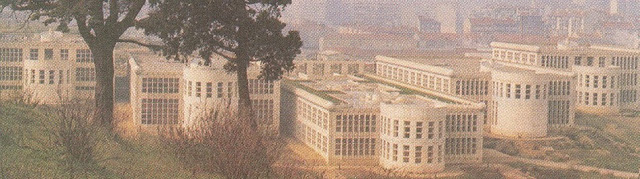 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)

<< Home