Começo de Os Maias
A casa que os Maias vieram habitar em
Lisboa, no Outono de 1875, era conhecida na vizinhança da Rua de S. Francisco
de Paula, e em todo o bairro das Janelas Verdes, pela Casa do Ramalhete, ou
simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o
Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um renque de estreitas varandas
de ferro no primeiro andar, e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas
à beira do telhado, tinha o aspecto tristonho de residência eclesiástica que
competia a uma edificação cio reinado da senhora D. Maria I: com uma sineta e
com uma cruz no topo, assemelhar-se-ia a um colégio de Jesuítas. O nome de
Ramalhete provinha decerto de um revestimento quadrado de azulejos fazendo
painel no lugar heráldico do escudo de armas, que nunca chegara a ser colocado,
e representando um grande ramo de girassóis atado por uma fita onde se distinguiam
letras e números de uma data.
Longos anos o Ramalhete permanecera
desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos, e
cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858 monsenhor Buccarini, núncio de Sua
Santidade, visitara-o com ideia de instalar lá a Nunciatura, seduzido pela
gravidade clerical do edifício e pela paz dormente do bairro: e o interior do
casarão agradara-lhe também, com a sua disposição apalaçada, os tectos
apainelados, as paredes cobertas de frescos onde já desmaiavam as rosas das
grinaldas e as faces dos cupidinhos. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico
prelado romano, necessitava na sua vivenda os arvoredos e as águas de um jardim
de luxo e o Ramalhete possuía apenas, ao fundo de um terraço de tijolo, um
pobre quintal inculto abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro, uma
cascatazinha seca, um tanque entulhado, e uma estátua de mármore (onde
Monsenhor reconheceu logo Vénus Citereia) enegrecendo a um canto na lenta
humidade das ramagens silvestres. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça,
procurador dos Maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor, que lhe perguntou
sorrindo se ainda julgava a Igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu — que
também a nobreza não estava nos tempos do senhor D. João V. E o Ramalhete
continuou desabitado.
Este inútil pardieiro (como lhe chamava o
Vilaça Júnior, agora por morte de seu pai administrador dos Maias) só veio a servir,
nos fins de 1870, para lá se arrecadarem as mobílias e as louças provenientes
do palacete de família em Benfica, morada quase histórica, que, depois de andar
anos em praça, fora então comprada por um comendador brasileiro. Nessa ocasião vendera-se
outra propriedade dos Maias, a Tojeira: e algumas raras pessoas que em Lisboa
ainda se lembravam dos Maias, e sabiam que desde a Regeneração eles viviam retirados
na sua Quinta de Santa Olávia, nas margens do Douro, tinham perguntado a Vilaça
se essa gente estava atrapalhada.
— Ainda têm um pedaço de pão — disse
Vilaça sorrindo — e a manteiga para lhe barrar por cima.
Os Maias eram uma antiga família da
Beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem parentelas — e agora
reduzida a dois varões, o senhor da casa, Afonso da Maia, um velho já, quase um
antepassado, mais idoso que o século, e seu neto Carlos que estudava medicina
em Coimbra. Quando Afonso se retirara definitivamente para Santa Olávia, o
rendimento da casa excedia já cinquenta mil cruzados: mas desde então tinham-se
acumulado as economias de vinte anos de aldeia; viera também a herança de um
último parente, Sebastião da Maia, que desde 1830 vivia em Nápoles, só, ocupando-se
de numismática: — e o procurador podia certamente sorrir com segurança quando
falava dos Maias e da sua fatia de pão.
A venda da Tojeira fora realmente
aconselhada por Vilaça: mas nunca ele aprovara que Afonso se desfizesse de
Benfica — só pela razão de aqueles muros terem visto tantos desgostos
domésticos. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros O resultado era
que os Maias, com o Ramalhete inabitável. não possuíam agora uma casa em
Lisboa; e se Afonso naquela idade amava o sossego de Santa Olávia, seu neto,
rapaz dc gosto e de luxo que passava as férias em Paris e Londres, não
quereria, depois de formado, ir sepultar-se nos penhascos do Douro. E com
efeito, meses antes de ele deixar Coimbra. Afonso assombrou Vilaça
anunciando-lhe que decidira ir habitar o Ramalhete! O procurador compôs logo um
relatório a enumerar os inconvenientes do casarão: o maior era necessitar
tantas obras e tantas despesas; depois, a falta de um jardim, devia ser muito
sensível a quem saía dos arvoredos de Santa Olávia; e por fim aludia mesmo a
uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos Maias as paredes do Ramalhete,
«ainda que (acrescentava ele numa frase meditada) até me envergonho de
mencionar tais frioleiras neste século de Voltaire, Guizot e outros filósofos
liberais...»
Afonso riu muito da frase, e respondeu
que aquelas razões eram excelentes — mas ele desejava habitar sob tectos tradicionalmente
seus; se eram necessárias obras, que se fizessem e largamente; e enquanto a
lendas e agouros, bastaria abrir de par em par as janelas e deixar entrar o
sol.
Sua Excelência mandava: — e, como esse
Inverno ia seco, as obras começaram logo, sob a direcção de um Esteves, arquitecto,
político, e compadre de Vilaça. Este artista entusiasmara o procurador com um
projecto de escada aparatosa, flanqueada por duas figuras simbolizando as
conquistas da Guiné e da Índia. E estava ideando também uma cascata de louça na
sala de jantar — quando, inesperadamente, Carlos apareceu em Lisboa com um
arquitecto-decorador de Londres, e, depois de estudar com ele à pressa algumas
ornamentações e alguns tons de estofos, entregou-lhe as quatro paredes do
Ramalhete, para ele ali criar, exercendo o seu gosto, um interior confortável,
de luxo inteligente e sóbrio.
Vilaça ressentiu amargamente esta
desconsideração pelo artista nacional: Esteves foi berrar ao seu centro
político que isto era um país perdido. E Afonso lamentou também que se tivesse
despedido o Esteves, exigiu mesmo que o encarregassem da construção das
cocheiras. O artista ia aceitar — quando foi nomeado governador civil.
Ao fim de um ano. durante o qual Carlos
viera frequentemente a Lisboa colaborar nos trabalhos, «dar os seus retoques
estéticos» — do antigo Ramalhete só restava a fachada tristonha, que Afonso não
quisera alterada por constituir a fisionomia da casa. E Vilaça não duvidou
declarar que Jones Bule (como ele chamava ao inglês) sem despender
despropositadamente, aproveitando até as antigualhas de Benfica, fizera do
Ramalhete um museu».
O que surpreendia logo era o pátio,
outrora tão lôbrego, nu, lajeado de pedregulhos — agora resplandecente, com um
pavimento quadrilhado de mármores brancos e vermelhos, plantas decorativas,
vasos de Quimper, e dois longos bancos feudais que Carlos trouxera de Espanha,
trabalhados em talha, solenes como coros de catedral. Em cima. na antecâmara,
revestida como uma tenda de estofos do Oriente, todo o rumor de passos morria:
e ornavam-na divãs cobertos de tapetes persas, largos pratos mouriscos com
reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos, onde destacava, na
brancura imaculada do mármore, uma figura de rapariga friorenta, arre-
piando-se, rindo, ao meter o pèzinho na água. Daí partia um amplo corredor,
ornado com as peças ricas de Benfica [...]
[reproduzido a partir de:
Eça de Queirós, Os Maias, fixação do
texto e notas de Helena Cidade Moura, Lisboa, «Livros do Brasil», 2003, pp. 5-8]
Para continuação em PDF: aqui.
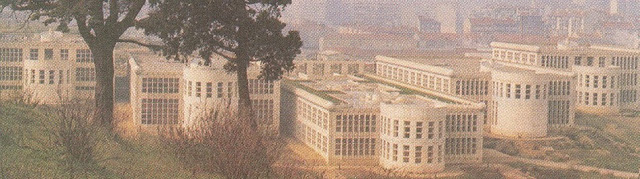 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
<< Home