Aulas (121-140)
Aula 121 (8/abr [3.ª]) Correção do comentário sobre «desimportantizar» e O’Neill:
«Desimportantizar»
é um neologismo, decerto criado pelo próprio O’Neill, que não enjeitava brincar
com a gramática.
Percebe-se
que o processo de formação, que é de derivação, decorreu a dois tempos.
«Importantizar» faz apelo ao sufixo verbal «-izar», que significa ‘tornar’. Com
esta palavra derivada por sufixação O’Neill troçava dos que gostam de se fazer
importantes, de se valorizar artificialmente. O prefixo «des-» tem sentido
negativo, atribuível àquele que desfaz ou rejeita.
Enfim,
o poeta reivindica para a sua escrita a intenção de lhe retirar os enfeites, as
joias, de a fazer mais lhana (e talvez também mais ridicularizadora dos que se
importantizam).
Último a sair,
poemas (a partir do minuto 29 até ao minuto 41)
Poemas de Último a sair
Roberto Leal
A vida é como um rio que
desagua para o mar, que é a poesia.
Pelas mãos de minha mãezinha
Andei nos tempos então;
Hoje, como está velhinha,
É ela que anda p’la minha
E faz a minha obrigação.
Endoscopia
da alma
O meu peito é feito de luz
e brilho
E ontem encontrei um sinal nas costas.
Ninguém sabia se era maligno,
Começou tudo a fazer apostas.
A minha alma estava doente
E as minhas costas, não.
Ai que feliz de mim
E qualquer coisa que rime com ão.
Luciana
Abreu
Havia uma velha na rua a
correr
Com uma lata no cu a bater.
Quanto mais a velha corria,
Mais a lata no cu lhe batia.
Feijoada
de ternura
Estava eu a apanhar sol,
Estavas tu no sol a apanhar.
Veio chuva e veio o sol
Estavas tua na chuva a apanhar
Se eu soubesse o que sei hoje,
Talvez tivesse vindo mais cedo.
Assim, não vim mais cedo,
E fiquei a fazer a feijoada de ternura.
Bruno
Nogueira
Gosto da minha mãe.
Ganso daltónico
Ai, um ganso daltónico,
Ai,
um ganso pateta,
Porque
és daltónico,
Meu
ganso pateta?
Se
Albufeira é assim um bocado nhnhrhhihn,
Matei
uma criança cheia de sarampo
E
enterrei-a ao lado do primo Joel.
Este
bife está mal passado, sr. Antunes,
E
o robalo não está fresco, seu ganso daltónico.
Neste
episódio de Último a sair, os poemas
escritos pelas personagens (sim, são personagens: os atores estão a representar
uma personagem que foi criada para fingir corresponder a eles mesmos mas que é
obviamente fictícia) parodiam a má poesia. Porém, algumas das características
escolhidas para construir esta caricatura da poesia são comuns a
características encontráveis quer na boa poesia realista quer no modernismo.
Num comentário breve,
aproxima certas características de poemas (ou de algum dos poemas) de Último
a sair da escrita de Álvaro de Campos.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Classifica quanto à função
sintática os segmentos sublinhados
Antes Dela [aliás, porque não pode haver contração: de ela] Dizer Que Sim (Bárbara
Tinoco)
Ele não sabe o nome dela
Tem medo de perguntar
Ela é como atriz de novela | ______________
Que ele gosta de ver sonhar
Ela não sabe o nome dele
Tem medo de perguntar
E, se as promessas coradas | ______________
Foram bebida a falar,
E ele não contou
Mas ela não escondeu
Com quem a noite passou,
| ______________
Jura ela o seu Romeu
Ele quer mais
Ela também
Talvez por isso nesse dia
Ele foi vê-la à luz do dia | ______________
Ele gosta das formas dela | ______________
E ela diz que ele tem bom ar
O mundo finge não saber | ______________
Que ele não é rapaz de fiar
Ela tem um novo sorriso
Mas medo de o partilhar | ______________
Ele gosta mais do que é preciso
De a desafiar
Ele, que sabia de cor | ______________
As moças mais fáceis,
Engates mais rascas;
Ela, que ficava em casa fechada | ______________
Com medo de ser
Só mais um rabo de saias;
Ele agora diz que a ama, | ______________
Dormem juntos só a dormir
Gosta dela de pijama
E ela de o corrigir…
Ela
agora diz que o ama,
Dormem
juntos só a dormir,
Gosta
dele desarmado,
E
ele de a ver despir.
E
as velhinhas, na cidade,
Sussuram no meu tempo não era assim,
Oh
onde já se viu dois enamorados,
Com
cara de parvos,
Antes
de ela dizer que sim.
Mas
ele ainda se lembra,
De
descer aquelas escadas,
Ganhar
coragem, perguntar,
E
como raio tu te chamas.
Ela
fingiu-se de irritada,
Ofendida
pela trama, | ______________
Reuniu
coragem para o amar, | ______________
Perguntou
e tu como raio te chamas.
Aula 122-123 (22 [4.ª], 24/abr [1.ª, 3.ª]) Compreensão de trecho sobre rémora em A eloquência da sardinha, através de escolha de sinónimos.
Escolhe — circundando-a — a palavra que, no contexto em causa, seria o
melhor sinónimo da palavra usada em A eloquência da sardinha (não contes
com as possíveis diferenças de género ou com implicações na preposição que se
lhe segue).
Este diálogo é uma arte
que se perdeu. Provavelmente, nunca ninguém estabeleceu um verdadeiro diálogo
com os animais marinhos, como fazemos entre humanos. No entanto, muitos dos
nossos antepassados dominavam certamente algumas facetas desse diálogo,
na época em que as suas existências eram indissociáveis dos ecossistemas
naturais. Alguns excertos dessas conivências sobreviveram até aos nossos
dias e constituem uma prova de que um dia será possível reatar esses contactos.
A civilização dos
aborígenes australianos perdurou por quarenta mil anos. Este povo teve tempo
para tecer com a natureza uma relação estreita e profundamente
misteriosa. Entre os mistérios das suas técnicas esquecidas, os aborígenes eram
capazes de conversar com a rémora, esse peixe-ventosa com quem já nos cruzámos
anteriormente, quando Plínio o presumiu culpado de abrandar os navios.
Desde a «descoberta» da
Austrália pelos europeus, inúmeros exploradores descreveram uma técnica de
pesca original utilizada pelos aborígenes do estreito de Torres. Para
capturar tartarugas, tubarões e peixes de grande porte, recorriam à ajuda de
uma rémora, presa pela extremidade de uma fina corda. Os pescadores
aproximavam-se lentamente da presa, a bordo de uma piroga semialagada de água,
onde estavam mergulhadas as rémoras, fixadas ao fundo do casco graças às
suas ventosas dorsais. Quando avistavam uma tartaruga ou um tubarão, os
aborígenes descolavam a rémora do casco e atiravam-na delicadamente pela borda
fora. Esta começava a nadar discretamente, ganhava a confiança do
tubarão ou da tartaruga e fixava-se a eles com a sua ventosa, como é hábito
fazerem na natureza. Então, os aborígenes iam puxando progressivamente o fio. A
rémora não largava a presa; pelo contrário, recuava, para reforçar a
aderência da ventosa. A presa caía na armadilha. Alguns exploradores ingleses
contavam que a rémora chegava mesmo a puxar o fio para avisar, como num
telégrafo, que a presa estava prestes a mergulhar energicamente nas
profundezas, sendo por isso necessário dar-lhe mais fio. Era tanta a
cumplicidade entre humanos e rémoras que, se o fio se partisse, a rémora
voltava geralmente a fixar-se ao barco. Entre duas saídas para o mar, a
rémora era colocada numa bacia de água límpida, e era alimentada
diariamente. Graças a este método, os pescadores conseguiam capturar
tartarugas, tubarões e uma grande variedade de peixes de grande porte.
Os recursos nunca foram
ameaçados por esta pesca tradicional: as tradições aborígenes impunham quotas
de pesca de forma natural, reservando o consumo de cada espécie a uma fase da
vida. A carne dos grandes animais marinhos era destinada às pessoas idosas.
Desta forma, as tribos evitavam a sobrepesca destas espécies, de reprodução
lenta, mas também a intoxicação por mercúrio, que, acumulado pelos grandes
predadores, é nefasto para os jovens e para as mulheres grávidas.
Os relatos dos exploradores
sobre a pesca com rémora pareciam demasiado fantasiosos para serem verdadeiros
aos olhos dos sábios da metrópole. No entanto, todos os navegadores descreviam
rigorosamente a mesma técnica, com numerosas ilustrações e pormenores. E esta
técnica também era utilizada fora da Austrália, pelos quatro cantos do mundo.
Cristóvão Colombo foi o primeiro a mencioná-la, onde pensava serem as Índias; feitos
similares foram relatados em todo o golfo das Caraíbas, em Cuba e também na
Jamaica. Commerson observou-a em Moçambique em 1829, e o cônsul britânico
Holmwood em Zanzibar em 1881. Mas as populações que detinham esta arte
foram desaparecendo pouco a pouco; as suas culturas e as suas tradições
perderam-se com o contacto com o Ocidente.
Em 1905, o sábio britânico
Holder quis verificar ele próprio o método e capturar uma tartaruga ou um
tubarão com a ajuda de uma rémora. Inspirou-se nas várias informações e
descrições técnicas e tentou a sua sorte nos recifes coralinos de Cuba. Mas, a
cada tentativa, a rémora limitava-se a fazer o que bem lhe apetecia. Umas
vezes, simplesmente não nadava em direção à presa, outras colava-se a ela, mas,
ao menor puxão do fio, largava-a, ou então adotava uma atitude de fuga, o que aguçava
o apetite do tubarão, que a engolia de um só trago. Foi um fracasso. Holder
concluiu que os aborígenes e os outros povos detinham certamente os segredos
que lhes permitiam a pesca com a rémora, nomeadamente a forma como encorajavam
a rémora a colaborar com eles e a prendiam ao fio sem que ela sentisse isso
como um entrave à sua liberdade. Sugeriu que o melhor seria aprofundar o estudo
da técnica antes de tentar de novo a experiência. Mas ninguém teve a
oportunidade de tornar a pô-la em prática. A arte da pesca com a rémora, tradicional
e difícil de reproduzir, perdeu-se com o surgimento das técnicas modernas. Os
etnólogos observaram esta prática até aos anos oitenta em tribos isoladas. Mas
nenhum deles pôde descrever ou entender o segredo do diálogo com a rémora, a
forma de lhe pedir ajuda, de conquistar a sua confiança. Esse segredo estava
certamente escondido entre os múltiplos ritos que envolviam a pesca, dissimulado
numa das canções mágicas ou danças tradicionais, e transmitido unicamente por
tradição oral como uma história. Hoje, já ninguém sabe falar com as rémoras.
Bill
François, A Eloquência da Sardinha. Histórias extraordinárias do mundo
submarino, tradução de Sandra Silva, Lisboa, Quetzal, 2021, pp. 147-150 (negros são meus)
diálogo || conversa | fala | oaristo | colóquio | entretenimento
faceta
|| rosto | cara | aspeto | vulto | fronte
conivência || conluio | cumplicidade | mancomunação | acordo
tecer
|| enfeitar | entabular | adornar | entrelaçar | matizar | ornar
culpado
|| réu | pecador | delinquente | acusável | criminoso
estreito
|| curto | delgado | canal | vínculo | acanhado | aperto | conciso
casco
|| miolos | inteligência | crânio | armação | cabeça
discretamente || ajuizadamente | cordatamente | engenhosamente | mudamente
reforçar
|| corroborar | restaurar | guarnecer | reanimar | refrescar | intensificar
fio
|| linha | telefone | viveza | agudeza | contexto
fixar
|| decorar | pegar | marcar | concentrar | coagular
límpida
|| fresca | inocente | ingénua | pura | cristalina
porte
|| atitude | tamanho | comportamento | transporte
quotas
|| quinhões | partes | prestações | importâncias
nefasto
|| fatal | triste| trágico | nocivo | duro
exploradores || especuladores | sanguessugas | aventureiros | espiões
arte
|| cautela | índole | profissão | perícia | feitio
inspirou
|| fundou | meteu | entusiasmou | bafejou
aguçava
|| afiava | adelgaçava | afunilava | estimulava
dissimulado || astuto | sonso | oculto | falso
No Sermão de Santo António — costuma acrescentar-se «aos
peixes» para o distinguir de outros sermões de Santo António do Padre
António Vieira —, a rémora aparece quer como peixe repreendido quer como
peixe louvado.
No capítulo III, sob o seu exato nome, é elogiada por
______________; no capítulo V, integrada nos [peixes] pegadores, é verberada
por se aproveitar do peixe maior (exemplificando os defeitos humanos de
_________________).
Vejamos trechos da parte da rémora no capítulo III:
(ver a partir de 19:50)
Passando dos da Escritura
aos da História natural, quem haverá que não louve, e admire muito a virtude
tão celebrada da Rémora? No dia de um Santo Menor, os peixes menores devem
preferir aos outros. Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixezinho
tão pequeno no corpo e tão grande na força, e no poder, que não sendo maior de
um palmo, se se pega ao leme de uma Nau da Índia, apesar das velas, e dos
ventos, e de seu próprio peso, e grandeza, a prende, e amarra mais, que as
mesmas âncoras, sem se poder mover, nem ir por diante? Oh se houvera uma Rémora
na terra, que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria na
vida, e que menos naufrágios no mundo! Se alguma rémora houve na terra, foi a
língua de Santo António, na qual como na rémora se verifica o verso de São
Gregório Nazianzeno: Lingua quidem parva est, sed viribus omnia vincit.
O Apóstolo Santiago naquela sua eloquentíssima Epístola compara a língua ao
leme da Nau e ao freio do cavalo. Uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente
a virtude da Rémora, a qual pegada ao leme da Nau é freio da Nau, e leme do
leme. E tal foi a virtude, e força da língua de Santo António. O leme da
natureza humana é o alvedrio, o Piloto é a razão: mas quão poucas vezes
obedecem à razão os ímpetos precipitados do alvedrio? Neste leme porém tão
desobediente e rebelde mostrou a língua de António quanta força tinha, como
Rémora, para domar, e parar a fúria das paixões humanas. [...] Esta é a língua,
peixes, do vosso grande Pregador, que também foi Rémora vossa, enquanto o
ouvistes; e porque agora está muda (posto que ainda se conserva inteira) se
veem, e choram na terra tantos naufrágios.
«Passando dos
da Escritura aos da História natural» alude ao primeiro peixe elogiado, que
é um animal bíblico, o __________, cujas virtudes eram, graças ao seu fel e ao
seu coração, _________.
A seguir à rémora virão mais dois peixes «da História natural»,
isto é, verdadeiros, existentes na natureza, que são o torpedo (também chamado
«tremelga» ou «raia elétrica») e o ___________.
As suas virtudes serão, respetivamente, a de ________________ (na
reversão em termos de exemplo para os homens, significa deverem estes não ser
tão indiferentes aos pecados) e a de ver para cima e para baixo (o que, na
reversão para os homens, significa deverem estes ser mais __________).
«No dia de um Santo
Menor, os peixes menores devem preferir aos outros». Com efeito, Santo
António era um «Santo Menor», porque era um franciscano (e a ordem de S.
Francisco era a Ordem dos Frades Menores). Entretanto, não nos esqueçamos que,
quando o orador, o Padre Vieira, proferiu o sermão, era ____ de junho, dia de
Santo António.
[quadro tirado de Fernanda Carrilho, Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira. Análise da Obra, 3.ª ed., Lisboa, Texto, 2004, p. 71]
Vejamos um excerto do capítulo V (que já não é de louvores mas
de repreensões):
Nesta viagem, de que fiz
menção, e em todas as que passei a Linha Equinocial, vi debaixo dela o que
muitas vezes tinha visto e notado nos homens, e me admirou que se houvesse
estendido esta ronha, e pegado também aos peixes. Pegadores se chamam estes, de
que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se
chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que jamais
os desaferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão
seguindo de longe aos Leões na caça, para se sustentarem do que a eles sobeja.
O mesmo fazem estes Pegadores, tão seguros ao perto, como aqueles ao longe;
porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre os que
traz às costas, e assim lhes sustenta o peso, e mais a fome. Este modo de vida,
mais astuto que generoso, se acaso se passou, e pegou de um elemento a outro,
sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto depois que os nossos Portugueses
o navegaram; porque não parte Vizo-Rei ou Governador para as Conquistas que não
vá rodeado de Pegadores, os quais se arrimam a eles, para que cá lhes matem a
fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da
experiência, despegam-se, e buscam a vida por outra via; mas os que se deixam
estar pegados à mercê e fortuna dos maiores vem-lhes a suceder no fim o que aos
Pegadores do mar.
Rodeia a Nau o Tubarão nas
calmarias da Linha com os seus Pegadores às costas, tão cerzidos com a pele que
mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes, ou companheiros.
Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de quatro Soldados, arremessa-se
furiosamente à presa, engole tudo de um bocado, e fica preso. Corre meia
companha a alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos,
enfim, morre o Tubarão, e morrem com ele os Pegadores.
(ver de 23:30 a 25:30)
Eis aqui o grupo I do
exame de Português de 2023 (2.ª fase):
GRUPO I
Parte A
Leia o poema e a
observação.
ABDICAÇÃO
Toma-me,
ó noite eterna, nos teus braços
E
chama-me teu filho.
Eu
sou um rei
Que
voluntariamente abandonei
5 O
meu trono de sonhos e cansaços.
Minha
espada, pesada a braços lassos,
Em
mãos viris e calmas entreguei;
E
meu cetro e coroa, — eu os deixei
Na
antecâmara, feitos em pedaços.
10 Minha
cota de malha, tão inútil,
Minhas
esporas, de um tinir tão fútil,
Deixei-as
pela fria escadaria.
Despi
a realeza, corpo e alma,
E
regressei à noite antiga e calma
15 Como
a paisagem ao morrer do dia.
Fernando Pessoa, Ficções
do Interlúdio, edição de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio &
Alvim, 2018, p. 57.
OBSERVAÇÃO: As linhas 2 e 3 constituem um único verso.
* 1. O sujeito poético
metaforiza a sua existência definindo-se como um rei. Caracterize a atitude
desse rei ao longo do poema.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Relacione o sentido dos
dois últimos versos do poema com a apóstrofe à «noite», presente nos versos 1 e
2.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Considere as afirmações
seguintes sobre o poema.
(A) Embora Fernando Pessoa
seja um poeta modernista, em «Abdicação» são revelados traços de egotismo, que
associamos ao Romantismo.
(B) Ao
longo do poema, o sujeito poético evidencia o desejo de evasão no tempo para a
época medieval.
(C) No
primeiro terceto, são convocadas sensações auditivas e táteis para realçar as
ideias transmitidas.
(D) O sujeito lírico, ao
assumir os seus atos, expõe dúvidas existenciais relativamente às suas
decisões.
(E) Ainda que escrito num
tempo em que se valoriza a liberdade formal, o poema apresenta a estrutura
clássica de soneto, com versos decassilábicos e com o esquema rimático
abba/abba/ccd/eed.
Identifique as duas
afirmações falsas. Escreva, na folha de respostas, o número do item e as
duas letras que correspondem às afirmações selecionadas.
Parte B
Este
excerto, extraído do Sermão de Sto. António (aos peixes), integra-se no
capítulo III, no qual Vieira elogia os peixes em
geral, constituindo a parte final do elogio ao Santo Peixe de Tobias.
Abria S. António a boca
contra os Hereges, e enviava-se a eles1, levado do fervor e zelo da Fé e glória
divina. E eles que faziam? Gritavam como Tobias2 e assombravam-se com aquele
homem e cuidavam que os queria comer. Ah homens, se houvesse um Anjo que revelasse
qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e
quão necessário vos é! Se vós lhe abrísseis esse peito e lhe vísseis as
entranhas, como é certo que havíeis de achar e conhecer claramente nelas que só
duas cousas pretende de vós, e convosco: uma é alumiar e curar vossas
cegueiras, e outra lançar-vos os Demónios fora de casa. Pois a quem vos quer
tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos Demónios, perseguis vós?! Só uma
diferença havia entre S. António e aquele Peixe3: que o Peixe abriu a boca
contra quem se lavava, e S. António abria a sua contra os que se não queriam
lavar. Ah moradores do Maranhão, quanto eu vos pudera agora dizer neste
caso! Abri, abri estas entranhas; vede, vede este coração. Mas ah sim, que me
não lembrava! Eu não vos prego a vós, prego aos peixes.
Padre António Vieira, Sermão
de Sto. António (aos peixes) e Sermão da Sexagésima, edição de Margarida
Vieira Mendes, Lisboa, Seara Nova, 1978, pp. 77-78.
NOTAS
1 enviava-se a eles – investia contra eles.
2 Tobias – personagem bíblica que
gritou quando um peixe com poderes curativos investiu contra ele nas margens de
um rio.
3 aquele Peixe – referência ao Santo
Peixe de Tobias, cujo fel curou a cegueira do pai de Tobias e cujo coração, ao
ser queimado, expulsou os demónios de sua casa.
*4. Explique as relações
estabelecidas, por um lado, entre Santo António e o peixe mencionado no excerto
e, por outro lado, entre os «Hereges» (linha 1) e os homens interpelados na
linha 3.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*5. Justifique o sentimento
evidenciado pelo pregador no final do excerto, bem como o recurso à ironia
(linhas 11 a 13 [cfr. sublinhado]).
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Selecione a opção que
completa corretamente a frase seguinte.
Neste excerto, a
estratégia argumentativa usada pelo pregador para cumprir os objetivos da
eloquência («docere», «delectare» e «movere») desenvolve-se através de recursos
variados, nomeadamente
(A) a interpelação a Tobias,
a citação de obras clássicas e o uso de recursos como as interrogações
retóricas e as gradações.
(B) o jogo com o valor
polissémico de algumas palavras e o uso de recursos como as interrogações
retóricas e as interjeições.
(C) a reprodução de
provérbios, a interpelação a Tobias e o jogo com o valor polissémico de algumas
palavras.
(D) o uso de gradações e de
estruturas anafóricas, a citação de obras clássicas e a reprodução de
provérbios.
Parte C
* 7. Eça de Queirós revela nos
seus romances um agudo olhar crítico sobre a sociedade do seu tempo.
Escreva uma breve exposição na qual
explicite dois aspetos que são objeto de crítica social em Os Maias ou
em A Ilustre Casa de Ramires.
A sua exposição deve
incluir:
• uma introdução ao tema;
• um desenvolvimento no qual explicite dois aspetos que são
objeto de crítica na obra selecionada, fundamentando cada um desses aspetos em,
pelo menos, um exemplo significativo;
• uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema.
Comece por indicar, na
folha de respostas, o título da obra por si selecionada.
TPC — (i) Relanceia esta ficha
corrigida sobre um passo do Sermão (próximo deste aliás); e, também, as pp. 396-397 do manual (com análise do passo do
«quatro-olhos»). (ii) Se ainda não o fizeste, compra, ou tem à mão, O Ano da
Morte de Ricardo Reis, de José Saramago.
Aula 124 (22 [1.ª], 23 [3.ª], 24/abr [4.ª]) Na p. 196, lê os poemas «Ver claro», de Eugénio de Andrade, e «Um poema», de Miguel Torga.
Prossegue, a tinta, o
comentário que já comecei:
Ambos os textos apresentam
a leitura da poesia como uma experiência por que vale a pena passar. Há, porém,
diferenças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mais
uma tarefa que agradeço à Gramática
Didática de Português (Santillana, 2011):
1. Identifique as figuras
de estilo presentes nos excertos seguintes.
a) Tentei
uma brecha naquela impenetrável muralha de palavras, já cansada de andar
para cá e para lá no corredor, enquanto a minha mãe, da sala perguntava, pela
756.ª vez, quem era.
Alice Vieira, Chocolate à Chuva.
b) Bastava
a ponta dos meus dedos sobre a mesa, e logo o coração da mesa respondia,
batendo pausadamente ao ritmo do meu.
Alice Vieira, Chocolate à Chuva.
c) Na primavera
o sol
faz o ninho
no beiral da minha casa.
Francisco
Duarte Mangas; João Pedro Mêsseder, «Ave», Breviário
do Sol.
d) São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.
Outras,
orvalho apenas.
Eugénio
de Andrade, «As Palavras», Antologia Breve.
e) [...] aquela menina casadoira,
que mora junto ao largo,
vem à varanda ver a Lua.
Manuel da Fonseca, «Noite de Verão», Obra
Poética.
f) Perdido num sonho:
o sol, o deserto...
Na linha dos olhos
— tão longe, tão perto
—
ondula... a miragem?
Francisco
Duarte Mangas; João Pedro Mêsseder, «Ave», Breviário
do Sol.
g) Já descoberto tínhamos diante,
Lá no novo Hemisfério,
nova estrela,
Luís de
Camões, Os Lusíadas.
h) Viva
a Mademoiselle! Viva a minha precetora! Viva o papá que mandou a
outra ir embora! Viva! Viva!
Augusto Gil, Gente de Palmo e Meio.
i) Fidalgo: — Esta barca onde vai ora, que assi está
apercebida?
Diabo: — Vai pera a
ilha perdida e há de partir logo ess’ora.
Gil Vicente, Auto da Barca do
Inferno.
j) Não há
ninguém mais rico no mundo. Sou riquíssimo. Sou podre de rico.
Cheiro mal de rico.
José Gomes Ferreira, Aventuras de João sem
Medo.
k) Batizei quase
todos os poemas que escrevi. Certo dia, coloquei-os pela ordem alfabética dos
títulos e deixei-os sobre a mesa a repousar, cansados de tanto trabalho
com as palavras.
João
Pedro Mêsseder, De Que Cor é o Desejo?
l) Que medonho sítio!
Irene Lisboa, Uma Mão Cheia de Nada e
Outra de Coisa Nenhuma.
m) —
Senhor João Sem Medo: cá o meco chama-se Zé Porco... Este meu sócio é o Chico
Calado, mudo de nascença... E aquele tem a alcunha de «Louro» porque passa a
vida a beberricar pelas tabernas, onde improvisa cada versalhada de se lhe
tirar o chapéu.
«Sim, senhor... — pensou João Sem Medo.
— Linda coleção!»
José Gomes Ferreira, Aventuras de João sem
Medo.
n) — Não acredito — disse Gil. —
Você não tem fibra para ensinar a esgadanhar um bocado de Liszt a essas
monas filhas de tubarões da finança e medíocres cortesãs.
Agustina Bessa-Luís, Contos Impopulares.
o) E erguendo a cabeça do bordado explicou-se
melhor:
— Quando Deus quer, até os cegos veem.
Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva.
p) Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que
fizeram;
Cale-se de Alexandre e de
Trajano
A fama das vitórias que
tiveram;
Que eu canto o peito
ilustre Lusitano,
Luís de
Camões, Os Lusíadas.
q) Meio-dia
O Sol tem os seus
Caprichos: não gosta
Que o olhem
Olhos nos olhos.
Francisco
Duarte Mangas; João Pedro Mêsseder, Breviário
do Sol.
r) Que, da ocidental praia lusitana
Luís de Camões, Os Lusíadas.
s) Era um céu alto, sem resposta, cor de frio.
Sophia
de Mello Breyner Andresen, Contos Exemplares.
t) Uma árvore
tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem
frutos. Assim há de ser o sermão: há de ter raízes fortes e sólidas, porque
há de ser fundado no Evangelho; há de ter um tronco, porque há de ter um só
assunto e tratar uma só matéria; deste tronco hão de nascer diversos ramos, que
são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela.
Padre António Vieira, Sermão de Santo António
aos Peixes.
u) Enquanto os vermes iam roendo esses cadáveres amarrados
pelos grilhões da morte.
Alexandre Herculano, Eurico, o Presbítero.
v) Eu não posso senão ser
desta terra em que nasci.
Jorge
de Sena, «Quem A Tem».
w) O céu tremeu, e Apolo, de torvado,
Um pouco de luz perdeu, como
enfiado.
Luís de
Camões, Os Lusíadas.
Classifica as orações
sublinhadas.
Eu Não Sei Quem Te Perdeu
(Pedro
Abrunhosa)
Quando veio, | ___________________
Mostrou-me as mãos
vazias, | Subordinante
As mãos como os meus
dias,
Tão leves e banais.
E pediu-me
Que lhe levasse o medo,
| ___________________
Eu disse-lhe um segredo:
Não partas nunca mais.
E dançou,
Rodou no chão molhado,
Num beijo apertado
De barco contra o cais.
E uma asa voa
A cada beijo teu.
Esta noite sou dono do céu
E eu não sei quem te perdeu. | ___________________
Abraçou-me,
| _____________________
Como se abraça o tempo,
| ___________________
A vida num momento,
Em gestos nunca iguais.
E parou,
Cantou contra o meu peito
| ___________________
Num beijo imperfeito
Roubado nos umbrais.
E partiu
Sem me dizer o nome,
Levando-me o perfume
De tantas noites mais.
E uma asa voa
A cada beijo teu.
Esta noite sou dono do
céu
| ___________________
E eu não sei quem te perdeu. | ___________________
Esta música é dedicada a todos
os que amam,
| ___________________
porque quem ama tem medo de perder. | ___________________
Subordinada substantiva relativa | ___________________
E eu gostava | ___________________
que vocês hoje fossem a minha voz | Subordinada
substantiva completiva
E uma asa voa
A cada beijo teu.
Esta noite sou dono do céu
E eu não sei quem te perdeu.
TPC — (i) Relê o que vou
destacar em Gaveta de Nuvens sobre
figuras de estilo. (ii) Na próxima semana, terás de trazer já o livro, de José
Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, embora não deixando de trazer
também o manual.
Aula 125-126 (28 [3.ª], 29/abr [4.ª, 1.ª (só 1.ª parte)]) Correção do questionário com sinónimos (sobre rémora).
Vai lendo o texto — trecho do discurso proferido por Saramago
aquando da cerimónia de entrega do Prémio Nobel — e escolhe as melhores
alíneas. Não uses outros elementos.
Do primeiro período (ll.
1-6) se pode concluir que José Saramago
a) já sabia alguma coisa
de lições de poesia quando entrou para a escola técnico-profissional que
frequentaria.
b) aprendeu noções sobre
poesia quando frequentou a escola onde também se preparou para a profissão de
serralheiro mecânico.
c) aprenderia alguma coisa
sobre poesia já na sua vida de trabalho, enquanto serralheiro mecânico.
d) aprendeu poesia, mas
tudo aldrabado, numas aulas que frequentou em Benfica, na JGF, salvo erro numa
sala do bloco D.
«andava a preparar-se» (l.
4) e «exerceu» (l. 5) têm valor aspetual, respetivamente,
a) perfetivo, imperfetivo.
b) imperfetivo, perfetivo.
c) habitual, imperfetivo.
d) iterativo, imperfetivo.
Segundo o segundo período
(ll. 6-12), Saramago
a) teve também bons
mestres de arte poética.
b) foi orientado no
conhecimento da poesia por bons mestres que ia encontrando à noite.
c) foi aprendendo acerca
da poesia como autodidata, frequentando bibliotecas e ao sabor dos acasos das
leituras.
d) aprendeu a arte poética
sem orientação, sem o assombro do navegante que inventa cada lugar que
descobre.
Do terceiro período (ll.
12-14) inferimos que
a) a leitura de O Ano da Morte de Ricardo Reis começou
na biblioteca da escola industrial que Saramago frequentou.
b) a escrita de O Ano da Morte de Ricardo Reis começou
na biblioteca da escola industrial que Saramago frequentou.
c) na biblioteca da escola
industrial que Saramago frequentou nasceu a inspiração para O Ano da Morte de Ricardo Reis.
d) foi na tipografia da escola
que Saramago frequentou que começou a produção de O Ano da Morte de Ricardo Reis.
Na revista Athena, Saramago, jovem adolescente,
a) publicaria O Ano da Morte de Ricardo Reis.
b) leria poemas de Ricardo
Reis, que sabia ser heterónimo de Fernando Pessoa.
c) leria poemas de Ricardo
Reis, ignorando tratar-se de um heterónimo de Pessoa.
d) leria poemas de Ricardo
Reis, julgando tratar-se de textos de Fernando Pessoa.
«cartografia literária do
seu país» (l. 19) é uma
a) hipérbole.
b) perífrase.
c) metáfora.
d) metonímia.
«um tal Fernando
Nogueira Pessoa» (l. 23) visa
a) acentuar como Pessoa
era ainda pouco conhecido.
b) mostrar com certa
ironia a ignorância do jovem Saramago.
c) sublinhar a importância
de Fernando Pessoa já então.
d) brincar com o processo
heteronímico.
O valor aspetual de
«chamava» (l. 25) e «custou» (l. 27) é, respetivamente,
a) imperfetivo, perfetivo.
b) genérico, perfetivo.
c) habitual, imperfetivo.
d) iterativo, imperfetivo.
«podia» (l. 31) tem valor
modal
a) epistémico
(probabilidade).
b) deôntico (permissão).
c) apreciativo.
d) epistémico (obrigação).
Nas ll. 27-28, na oração coordenada
conclusiva introduzida por «por isso», desempenham as funções de sujeito,
complemento direto e complemento indireto, respetivamente,
a) «saber o que ela
significava», «tanto trabalho», «ao aprendiz de letras».
b) «ela», «tanto
trabalho», «ao aprendiz de letras».
c) «saber», «tanto
trabalho», «ao aprendiz de letras».
d) «aprendiz de letras»,
«tanto trabalho», «o que ela».
«de cor» (l. 29) e «muitos
poemas de Ricardo Reis» (l. 29) desempenham as funções sintáticas de,
respetivamente,
a) complemento oblíquo,
sujeito.
b) modificador do grupo
verbal, complemento direto.
c) modificador do grupo
verbal, sujeito.
d) complemento oblíquo,
complemento direto.
No verso de Ricardo Reis
na l. 30 («Para ser grande[,] sê inteiro»), «Para ser grande» desempenha a
função de
a) sujeito.
b) modificador de frase.
c) modificador de grupo
verbal.
d) complemento oblíquo.
Na frase «Põe quanto és no
mínimo que fazes (ll. 30-31), as funções sintáticas de «quanto és», «no mínimo
[que fazes]» e «que fazes» são, respetivamente,
a) sujeito, complemento
oblíquo, modificador apositivo do nome.
b) complemento direto,
modificador do grupo verbal, modificador apositivo do nome.
c) complemento direto,
complemento oblíquo, modificador restritivo do nome.
d) predicado, complemento
oblíquo, modificador restritivo do nome.
«quanto és» (l. 30) é uma
oração subordinada
a) substantiva relativa.
b) substantiva completiva.
c) adjetiva relativa
restritiva.
d) adjetiva relativa
explicativa.
As objeções de Saramago (cfr. ll. 31-34) ao verso de Ricardo Reis
«Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo» devem-se ao facto de o
autor de O Ano da Morte de Ricardo Reis
a) não comungar da
ingenuidade e gosto pela natureza professados por Ricardo Reis.
b) não ter o mesmo ideário
estoico e epicurista de Reis.
c) duvidar da atitude de
que quem ensina os outros, dos «sábios».
d) não gostar de analisar
o mundo.
«a ocupação da Renânia
pelo exército nazista», «a guerra de Franco contra a República espanhola», «a
criação por Salazar das milícias fascistas portuguesas» (ll. 38-40) podem ser
considerados
a) merónimos do holónimo
‘Guerra’.
b) hipónimos do hiperónimo
‘Acontecimentos de 1936’.
c) itens do campo lexical
‘Guerra’.
d) itens do campo
semântico ‘Acontecimentos de 1936’.
«da Renânia» (l. 38)
desempenha a função sintática de
a) complemento do nome.
b) complemento oblíquo.
c) modificador do grupo
verbal.
d) modificador restritivo
do nome.
«Eis o espetáculo do
mundo» (l. 40) pode considerar-se implicar um ato ilocutório
a) declarativo.
b) expressivo.
c) compromissivo.
d) assertivo.
«meu poeta das amarguras
serenas e ceticismo elegante» (40-41) reporta-se
a) a Alberto Caeiro.
b) a Fernando Pessoa.
c) ao próprio Saramago.
d) a Ricardo Reis.
O texto que leste é
predominantemente
a) descritivo e
argumentativo.
b) dialogal e narrativo.
c) narrativo.
d) explicativo.
Vejamos frases
aforísticas, conotativas, de José
Saramago. Por exemplo, «Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam».
Se me pedissem para a traduzir em linguagem mais denotativa, escreveria:
[Aforismo de Saramago:]
«Sempre
chegamos ao sítio aonde nos esperam»
[Tradução-paráfrase em linguagem mais
objetiva:]
Todos
acabam por cumprir o percurso de vida que lhes estava destinado.
Procede do mesmo modo relativamente às seguintes
frases (entre parênteses ficam as obras de Saramago a que pertencem as frases —
que roubei ao manual Plural 12):
«Gostar é provavelmente a
melhor maneira de ter, ter deve ser a pior maneira de gostar.» (O conto da ilha desconhecida)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«Há dentro de nós uma
coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos.» (Ensaio Sobre a Cegueira)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«Se podes olhar, vê. Se
podes ver, repara.» (Ensaio Sobre
a Cegueira)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«A viagem não acaba nunca.
Só os viajantes acabam.» (Viagem a Portugal)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«Quero estar onde estiver
a minha sombra se lá é que estiverem os teus olhos.» (O Evangelho Segundo Jesus Cristo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«Nem a juventude sabe o
que pode, nem a velhice pode o que sabe.»
(A Caverna)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«Às árvores pintadas não
lhes caem as folhas.» (A Viagem do Elefante)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
«O espírito não vai a lado
nenhum sem as pernas do corpo, e o corpo não seria capaz de mover-se se lhe
faltassem as asas do espírito.» (Todos os Nomes)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Nos atos de fala diretos, a intenção comunicativa fica explícita no que é dito; nos atos de fala indiretos, a intenção comunicativa tem de ser captada pelo
interlocutor.
Os atos de fala classificam-se segundo a força ilocutória (o objetivo ilocutório):
diretivos (pretende-se que o interlocutor atue de acordo com
a vontade do locutor) — «Querem abrir os livros na p. 344?»; «Abram os livros
na p. 344».
assertivos (assinala-se a posição do locutor relativamente à
verdade do que diz) — «Não há dúvida de que esta é a melhor frase»; «Admito que
haja aqui um equívoco meu».
expressivos (traduz-se o estado de espírito do locutor
relativamente ao que diz) — «Entristece-me que tenha partido»; «Muitos parabéns
pelo teu teste».
compromissivos (responsabilizam o locutor relativamente a uma ação
futura) — «Não darei aula no dia 13 de junho»; «Prometo entregar os prémios Tia
Albertina».
declarativos (aquilo que se diz cria, por si só, uma nova
realidade) — «Absolvo-te das falhas cometidas»; «Fica aprovado com catorze
valores».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPC — Lê o primeiro capítulo
de O ano da morte de Ricardo Reis. Vai já trazendo sempre o livro (mas
sem esquecer também o manual).
Aula 127 (30/abr [3.ª], 2/mai [1.ª (sendo o resto da aula o que faltava de 125-126); 4.ª]) Correção do questionário de compreensão de discurso de Saramago («”Eis o espetáculo do mundo”»).
Vai até à p. 276 do
manual. No cimo, relê a estância dos Lusíadas (que citáramos em aula a
propósito de «O dos Castelos», de Mensagem), que repito aqui:
Eis aqui, quase cume da
cabeça
De Europa toda, o Reino Lusitano,
Onde a terra se acaba e o mar começa
E onde Febo repousa no Oceano.
Este quis o Céu justo que floreça
Nas armas contra o torpe Mauritano,
Deitando-o de si fora; e lá na ardente
África estar quieto o não consente.
Luís de Camões, Os
Lusíadas, III, 20
Vê também
este soneto, igualmente de Camões:
Correm turvas as águas
deste rio,
que as do Céu e as do monte as enturbaram;
os campos florecidos se secaram,
intratável se fez o vale, e frio.
Passou o verão, passou o ardente estio,
ũas cousas por outras se trocaram;
os fementidos Fados já deixaram
do mundo o regimento, ou desvario.
Tem o tempo sua ordem já sabida;
o mundo, não; mas anda tão confuso,
que parece que dele Deus se esquece.
Casos, opiniões, natura e uso
fazem que nos pareça desta vida
que não há nela mais que o que parece.
Luís de Camões, Rimas
Quer o v. 3 da est. 20 do
canto III dos Lusíadas — «Onde a terra se acaba e o mar começa» —, quer
o v. 1 do soneto «Correm turvas as águas deste rio» têm relações de intertextualidade
com os dois primeiros períodos de O
ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, que retira de cada uma dessas «citações» um efeito
de ironia: no caso do primeiro período, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
no caso da alusão ao verso do soneto, a ironia advém de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ou seja, em ambos os casos se dá ao
passo de Camões um uso mais denotativo do que o que tinha nos versos, e é esse
reaproveitamento «dessacralizado» que se torna expressivo.
Lê — aliás, segundo
espero, relê — tudo o que está no livro de Saramago entre «cais de Alcântara» [Caminho:
p. 11, l. 5; Porto Editora e Mil Folhas: l. 4, p. 7] e «Descem os primeiros
passageiros» [C, p. 13; PE, p. 10; Mf, p. 9] e mesmo as
quatro linhas seguintes (até «hipnótico»), parte que foi cortada no manual.
Trata-se, como vês,
de uma chegada a Lisboa, neste caso, de um vapor, que atraca no cais de
Alcântara. Refere como se retrata a cidade, neste primeiro relance, e como
reagem os viajantes ao ambiente que os rodeia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Resolve
os pontos 5 e 5.1 na p. 278 [cfr.: «O viajante trepou os intérminos
degraus, parecia incrível ter de subir tanto para alcançar um primeiro andar, é
a ascensão do Everest, proeza ainda sonho e utopia de montanheiros»]:
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPC — Proximamente, afixarei
lista de encargos para este final de ano. (Passa a ver sempre o final da página
de entrada do blogue. Por exemplo, a apresentação da correção do questionário
de hoje vai aparecer lá.) Além disso, é essencial a leitura efetiva de O
ano da morte de Ricardo Reis — para a próxima aula, pelo menos os três
primeiros capítulos — e as melhorias em gramática que tenho pedido a
tantos de vós.
Aula 128-129 (5 [3.ª], 6 [4.ª], 8/mai [1.ª]) Correção de escrito com atos de fala. Exemplo possível:
— Vê lá, Morten, se não
apanhas um amarelo — aconselha o treinador pouco antes da entrada do
dinamarquês. [diretivo]
— Prometo, mister, que
evitarei os meus socos e pisadelas habituais — respondeu o jogador.
[compromissivo]
— O português do Hjulmand
já é melhor do que o meu — confessa um dos colegas portugueses. [assertivo]
— Que bom! Estão tão
feliz! — grita Rui Borges, depois do segundo golo do Sporting. [expressivo]
— Apresento-lhe cartão
amarelo — diz o árbitro para Eduardo Quaresma, por este ter tirado a camisola.
[declarativo]
— Fico mesmo ralado com
isso! Ai que triste que estou... — comenta o marcador do golo. [diretamente:
expressivo; indiretamente: assertivo = essa penalização não é relevante]
O capítulo 1 de O Ano da Morte de Ricardo Reis
termina com Reis, instalado confortavelmente no sofá do quarto, a ler o jornal
(PE e C 28-31; Mf 21-23):
«[...], são estas as
notícias da minha terra natal, e dizem, O chefe do Estado inaugurou a exposição
de homenagem a Mousinho de Albuquerque na Agência Geral das Colónias, não se
podem dispensar as imperiais comemorações nem esquecer as figuras imperiais, Há
grandes receios na Golegã, não me lembro onde fica, ah Ribatejo, se as cheias
destruírem o dique dos Vinte, nome muito curioso, donde lhe virá, veremos
repetida a catástrofe de mil oitocentos e noventa e cinco, noventa e cinco,
tinha eu oito anos, é natural não me lembrar, Letizia e Leonor abraçam-se
emocionadas após meses sem se verem, estas ainda não tinham nascido no meu
tempo, A mais alta mulher do mundo chama-se Elsa Droyon e tem dois
metros e cinquenta centímetros de altura, a esta não a cobriria a cheia, e a
rapariga, como se chamará, aquela mão paralisada, mole, foi doença, foi
acidente, Quinto concurso de beleza infantil, meia página de retratos de
criancinhas, nuazinhas de todo, ao léu os refegos, alimentadas a farinha
lactobúlgara, alguns destes bebés se tornarão criminosos, vadios e prostitutas
por assim terem sido expostos, na tenra idade, ao olhar grosseiro do vulgo, que
não respeita inocências, e associou isso à notícia seguinte Cardeais proibidos
de ler jornais, ver TV e usar a Net durante conclave, Prosseguem as operações
na Etiópia, e do Brasil que notícias temos, sem novidade, tudo acabado, Avanço
geral das tropas italianas, não há força humana capaz de travar o soldado
italiano na sua heróica arrancada, que faria, que fará contra ele a lazarina
abexim, a pobre lança, a mísera catana, O advogado da famosa atleta anunciou
que a sua constituinte se submeteu a uma importante operação para mudar de
sexo, dentro de poucos dias será um homem autêntico, como de nascimento, já
agora não se esqueçam de mudar-lhe também o nome, que nome,
Bocage perante o Tribunal do Santo Ofício, quadro do pintor Fernando Santos,
belas-artes por cá se fazem, No Coliseu está A última
Maravilha com a azougada e escultural Vanise Meireles, estrela brasileira, tem
graça, no Brasil nunca dei por ela, culpa minha, aqui a três escudos a geral,
fauteuil a partir de cinco, em duas sessões, matinée aos domingos, O Politeama leva
As Cruzadas, assombroso filme histórico, Em Port-Said desembarcaram numerosos
contingentes ingleses, tem cada tempo as suas cruzadas, estas são as de hoje,
constando que seguiram para a fronteira da Líbia italiana, Ataque a hospital dos
Médicos Sem Fronteiras no Sudão do Sul faz pelo menos sete mortos,
Lista de portugueses falecidos no Brasil na primeira quinzena de dezembro,
pelos nomes não conheço ninguém, não tenho que sentir desgosto, não preciso pôr
luto, mas realmente morrem muitos portugueses por lá, Bodos aos pobres por todo
o país de cá, ceia melhorada nos asilos, que bem tratados são em Portugal os
macróbios, bem tratada a infância desvalida, florinhas da rua, e esta notícia,
O presidente da câmara do Porto telegrafou ao ministro do Interior, em sessão
de hoje a câmara municipal da minha presidência apreciando o decreto de auxílio
aos pobres no inverno resolveu saudar vossa excelência por esta iniciativa de
tão singular beleza, e outras, Fontes de chafurdo cheias de dejetos de
gado, lavra a varíola em Lebução e Fatela, há gripe em Portalegre e febre
tifoide em Valbom, morreu de bexigas uma rapariga de dezasseis anos, pastoril
florinha, campestre, lírio tão cedo cortado cruelmente, Cinco pessoas passam
trinta e seis horas cercadas por jacarés após avião fazer aterragem de
emergência em pântano, Tenho uma cadela fox, não pura, que já teve
duas criações, e em qualquer delas foi sempre apanhada a comer os filhos, não
escapou nenhum, diga-me senhor redator o
que devo fazer, O canibalismo das cadelas, prezado leitor e consulente, é no
geral devido ao mau arraçoamento durante a gestação, com insuficiência de
carne, deve-se-lhe dar comida em abundância, em que a carne entre como base,
mas a que não faltem o leite, o pão e os legumes, enfim, uma alimentação
completa, se mesmo assim não lhe passar a balda, não tem cura, mate-a ou
não a deixe cobrir, que se avenha com o cio, ou mande capá-la. Agora imaginemos
nós que as mulheres mal arraçoadas durante a gravidez, e é o mais do comum, sem
carne, sem leite, algum pão e couves, se punham também a comer os filhos, e,
tendo imaginado e verificado que tal não acontece, torna-se afinal
fácil distinguir as pessoas dos animais, este comentário não o acrescentou o redator, nem
Ricardo Reis, que está a pensar noutra coisa, que nome adequado se deveria dar
a esta cadela, não lhe chamará Diana ou Lembrada, e que adiantará um nome ao
crime ou aos motivos dele, se vai o nefando bicho morrer de bolo envenenado ou
tiro de caçadeira por mão do seu dono, teima Ricardo Reis e enfim encontra o
certo apelativo, um que vem de Ugolino delia Gherardesca, canibalíssimo conde
macho que manjou filhos e netos, e tem atestados disso, e abonações, na
História dos Guelfos e Gibelinos, capítulo respetivo, e
também na Divina Comédia, canto trigésimo terceiro do Inferno, chame-se pois
Ugolina à mãe que come os seus próprios filhos, tão desnaturada que não se lhe
movem as entranhas à piedade quando com as suas mesmas queixadas rasga a morna
e macia pele dos indefesos, os trucida, fazendo-lhes estalar os ossos tenros, e
os pobres cãezinhos, gementes, estão morrendo sem verem quem os devora, a mãe
que os pariu, Ugolina não me mates que sou teu filho, Turista mata prostituta
transgénero, retira-lhe o coração e come pulmão direito da vítima.
A folha que tais horrores
explica tranquilamente cai sobre os joelhos de Ricardo Reis, adormecido. Uma
rajada súbita fez estremecer as vidraças, a chuva desaba como um dilúvio. Pelas
ruas ermas de Lisboa anda a cadela Ugolina a babar-se de
sangue, rosnando às portas, uivando em praças e jardins mordendo
furiosa o próprio ventre onde já está a gerar-se a
próxima ninhada.
(i) Circunda o que não é
texto dos jornais nem comentário de narrador/personagem, mas assunto que
preocupa Reis e interfere na sua leitura;
(ii) Sublinha as cinco
notícias que acrescentei (tiradas de jornais de anteontem).
Escreve na coluna
focalização N (= citação de notícia), P (= citação de anúncio
publicitário), RR (comentário de Ricardo Reis), narr (= discurso
do narrador):
|
Trecho do final do cap. I de O Ano da Morte
de Ricardo Reis |
linha |
focalização |
|
O chefe do estado inaugurou a exposição... |
1-2 |
|
|
não se podem dispensar as imperiais comemorações |
2-3 |
|
|
Há grandes receios na Golegã |
3-4 |
|
|
ah Ribatejo |
4 |
|
|
nome muito curioso |
5 |
|
|
veremos repetida a catástrofe de mil oitocentos
e noventa e cinco |
5-6 |
|
|
meia página de retratos de criancinhas, ...
inocências |
11-14 |
|
|
... na sua heroica arrancada ... |
17-18 |
|
|
No Coliseu está |
23 |
|
|
A última Maravilha, com a azougada e escultural
Vanise Meireles, estrela brasileira |
23-24 |
|
|
As Cruzadas, assombroso filme histórico, |
26 |
|
|
lavra a varíola em Lebução e Fatela |
37 |
|
Responde ao item 1 de em «Entre textos» (p. 281 do manual):
a. Ricardo Reis traz consigo bens pessoais, livros e
folhas com poemas de Fernando Pessoa.
_________________
b. A ação inicia-se no final do mês de dezembro de
1935.
_________________
c. O título e o nome do
autor do livro que Ricardo Reis trouxe do Highland Brigade sugerem a
indefinição e a dimensão labiríntica do percurso pessoal e social que o
heterónimo fará em Lisboa.
_________________
d. Durante o primeiro jantar no hotel, Ricardo Reis
vê pela primeira vez Lídia.
_________________
Completa, no estilo das frases que já lancei, o
acróstico com «Poetas Contemporâneos», título da unidade que o manual dedica a Miguel
Torga, Alexandre O’Neill, Nuno Júdice, Ana Luísa Amaral.
Vai
consultando o livro, mas não transcrevas passos (pelo menos, literalmente).
Evita os dados biográficos ou aspetos meramente informativos e factuais. Tenta
aproveitar mais os estilos de cada poeta, as linhas de sentido mais comuns nos
seus textos, as características da sua escrita.
Seria interessante incluir citações dos poemas
também, naturalmente curtas.
P ublicidade — Ter Alexandre
O’Neill trabalhado como copywriter talvez tenha contribuído para o
estilo sintético, incisivo, alegre, visual, de boa parte sua poesia.
O ________________
_______________
E ________________
_______________
T ________________
_______________
A ________________
_______________
S ________________
_______________
C ________________
_______________
O ________________
_______________
N ________________
_______________
T elúrica — Diz-se da poesia de
Miguel Torga, que
_______________
E ________________
_______________
M iguel — Quando se aborda
o pseudónimo escolhido por Adolfo Rocha, salienta-se sempre o iberismo de
«Miguel», primeiro nome dos escritores espanhóis Cervantes e Unamuno.
P ________________
_______________
O ________________
_______________
R ________________
_______________
 ncoras — Por vezes, os poemas de
Ana Luísa Amaral aproveitam o quotidiano («Pequenos ritos: o lavar dos dentes /
ao abrir o dia»), que, claro, não podemos jurar corresponda ao dia a dia da
autora.
N ________________
_______________
E ________________
_______________
O ________________
_______________
S ________________
_______________
TPC — Lê o conto de Jorge Luis Borges «Análise da obra de Herbert Quain». Vai revendo gramática (começa por funções sintáticas;
depois, orações). E, claro, continuando sempre a leitura de O Ano da Morte
de Ricardo Reis.
Aula 130 (6 [1.ª], 7 [3.ª], 8/mai [4.ª]) Este parágrafo diz respeito ao momento em que Ricardo Reis vê pela primeira vez Marcenda. Nesta altura, ainda no cap. I de O Ano da Morte de Ricardo Reis, Reis ainda nem sabe o nome da rapariga. O passo está nas pp. 25-26 (PE); 25-27 (C); 19-20 (Mf).
A porta abriu-se outra
vez, agora entrou um homem de meia-idade, alto, formal, de rosto
comprido e vincado, e uma rapariga de uns vinte anos, se os tem, magra, ainda
que mais exato seria dizer delgada, dirigem-se para a mesa fronteira à de
Ricardo Reis, de súbito tornara-se evidente que a mesa estava
à espera deles, como um objeto espera a mão que
frequentemente o procura e serve, serão hóspedes habituais, talvez os donos do
hotel, é interessante como nos esquecemos de que os hotéis têm dono, estes,
sejam-no ou não, atravessaram a sala num passo tranquilo como se estivessem em
sua própria casa, são coisas que se notam quando se olha com atenção. A
rapariga fica de perfil, o homem está de costas, conversam em voz baixa, mas o
tom dela subiu quando disse, Não, meu pai, sinto-me
bem, são
portanto pai e filha, conjunção pouco costumada em hotéis, nestas idades. O
criado veio servi-los, sóbrio mas familiar de modos, depois afastou-se, agora
a sala está silenciosa, nem as crianças levantam as vozes, estranho caso,
Ricardo Reis não se lembra de as ter ouvido falar, ou são mudas, ou têm os
beiços colados, presos por agrafes invisíveis, absurda lembrança, se estão
comendo. A rapariga magra acabou a sopa, pousa a colher, a sua mão direita vai
afagar, como um animalzinho doméstico, a mão esquerda que descansa no colo.
Então Ricardo Reis, surpreendido pela sua própria descoberta, repara que desde
o princípio aquela mão estivera imóvel, recorda-se
de que só a
mão direita desdobrara o guardanapo, e agora agarra a esquerda e vai pousá-la
sobre a mesa, com muito cuidado, cristal fragilíssimo, e ali a deixa ficar, ao
lado do prato, assistindo à refeição, os longos
dedos estendidos, pálidos, ausentes. Ricardo Reis sente um arrepio, é ele quem
o sente, ninguém por si o está sentindo, por fora e por dentro da pele se
arrepia, e olha fascinado a mão paralisada e cega que não sabe aonde há de ir
se a não levarem, aqui a apanhar sol, aqui a ouvir a conversa, aqui para que te
veja aquele senhor doutor que veio do Brasil, mãozinha duas vezes esquerda, por
estar desse lado e ser canhota, inábil, inerte, mão morta mão morta que não
irás bater àquela porta. Ricardo Reis observa que os pratos da rapariga vêm já
arranjados da copa, limpo de espinhas o peixe, cortada a carne, descascada e
aberta a fruta, é patente que filha e pai são hóspedes conhecidos, costumados
na casa, talvez vivam mesmo no hotel. Chegou ao fim da refeição, ainda se
demora um pouco, a dar tempo, que tempo e para quê, enfim levantou-se,
afasta a cadeira, e o rumor do arrastamento, acaso
excessivo, fez voltar-se o rosto
da rapariga, de frente tem mais que os vinte anos que antes parecera, mas logo
o perfil a restitui à adolescência, o pescoço alto e frágil, o queixo fino,
toda a linha instável do corpo, insegura, inacabada. Ricardo Reis sai da sala
de jantar, aproxima-se da porta dos monogramas, aí tem de trocar
vénias com o homem gordo que também ia saindo, Vossa excelência primeiro, Ora
essa, por quem é, saiu o gordo, Muito obrigado a vossa excelência, notável
maneira esta de dizer, Por quem é, se tomássemos todas as palavras à letra,
passaria primeiro Ricardo Reis, porque é inúmeros, segundo o seu próprio modo
de entender-se.
Repara nestes itens (que roubei ao manual Plural). Responde,
completando o que já fui escrevendo:
1. Na descrição da rapariga (ll.
14-25), salienta o valor expressivo da comparação; da metáfora; da enumeração.
A comparação « . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» (l. 15) vinca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A metáfora — «cristal fragilíssimo» (l. 19) — . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A enumeração surge num passo que inclui igualmente
a figura de estilo anáfora, já que se trata de três segmentos introduzidos por
«aqui» (ll. 22-23). Essa sucessão de três circunstâncias em que . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
2. «Mas logo o perfil a restitui à
adolescência» (l. 31) — Releva a importância da adjetivação na imagem final da
personagem.
Comecemos por sublinhar os adjetivos do retrato
final da personagem {sublinha tu}: «o pescoço alto e frágil, o queixo
fino, toda a linha instável do corpo, insegura, inacabada» (ll. 31-32). Esta
adjetivação . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Tendo em conta o que se passa no excerto
que leste, cria curtos monólogos interiores (ou intervenções só pensadas) das
seguintes personagens (as falas poderão ser paródicas ou não; será uma
mais-valia se mostrarem conhecimento da obra). (Exemplo meu: ‘Marcenda — «Que
cavalheiro tão distinto que está ali! Oxalá não se aperceba de que esta minha
mão esquerda é tão inútil quanto as do guarda-redes Onana.»’.)
Pai de Marcenda — . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Marcenda — . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Criado que serve — . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Criados da copa (da cozinha) — . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Lê esta ode de Ricardo Reis, a décima oitava de uma
vintena que Pessoa publicou na revista Athena, em 1924, que sugeriu a
Saramago a personagem Marcenda. No autógrafo no espólio de Pessoa ainda
não havia o gerúndio «Marcenda» (cfr. v. 10) — estava um particípio
passado «Fanada» (murcha), que o poeta riscou e substituiu por «Fananda»
(‘murchante’). E tenho dúvidas sobre se Saramago percebeu que «Marcenda» era um
gerúndio; admito que tenha julgado que era mesmo um nome próprio feminino.
XVIII
Saudoso já deste verão que vejo,
Lágrimas para as flores dele emprego
Na lembrança
invertida
De quando hei
de perdê‑las.
Transpostos os portais irreparáveis
De cada ano, me antecipo a sombra
Em que hei de
errar, sem flores,
No abismo
rumoroso.
E colho a rosa porque a sorte manda.
Marcenda, guardo‑a; murche‑se comigo
Antes que com a
curva
Diurna da ampla
terra.
Uso um
questionário tirado de Alexandre Dias Pinto & Patrícia Nunes, Entre nós
e as palavras, 12.º ano, Caderno de atividades e avaliação contínua,
Barcarena, Santillana, 2017, p. 56:
1. Identifique o sujeito da seguinte frase: «O Livro do
desassossego, assinado pelo semi-heterónimo Bernardo Soares, é composto por
diversos fragmentos.»
_________________
2. Qual é a função sintática do vocábulo «futurista» na frase «A
"Ode triunfal" pertence à fase futurista de Campos.»?
_________________
3. Na frase «Caeiro, o poeta bucólico, escreveu "O guardador
de rebanhos".» o constituinte «poeta bucólico» desempenha a função
sintática de complemento do nome?
_________________
4. Na frase «Os alunos lembram-se da teoria do fingimento», qual é
a função sintática do constituinte «da teoria do fingimento»?
_________________
5. Na frase «As críticas que Camões faz na sua epopeia continuam
atuais.», o adjetivo desempenha a função sintática de complemento direto?
_________________
6. Na frase «Os alunos consideram O ano da morte de Ricardo Reis
a melhor obra de Saramago.», indique a função sintática do constituinte «a
melhor obra de Saramago».
_________________
7. Qual é a função sintática desempenhada pelos advérbios na frase
«Ruy Belo procura intervir social e politicamente através da poesia.»?
_________________
8. Em «Ela canta, pobre ceifeira, / Julgando-se feliz talvez», qual
é a função sintática do advérbio?
_________________
9. Qual é a função sintática do pronome relativo na frase «Os
poemas que Cesário Verde escreveu foram editados por Silva Pinto.»?
_________________
10. Na frase «É incrível que Fernando Pessoa se tenha desdobrado em
tantos heterónimos.», a oração introduzida pela conjunção «que» é uma
subordinada (adverbial) consecutiva?
_________________
11. Classifique a oração subordinada na frase «O Padre António
Vieira critica os colonos do Maranhão, onde pregou o seu sermão.».
_________________
12. Classifique a oração subordinada na frase «Ainda que a mãe a
tentasse demover, Inês Pereira casa-se com o Escudeiro.».
_________________
13. A oração introduzida pela conjunção na frase «Os alunos
gostaram do conto "Famílias desavindas", de Mário de Carvalho, pois
tem uma dimensão irónica.» é uma subordinada causal?
_________________
14. No verso «O mito é o nada que é tudo.», a oração subordinada é
um(adjetiva) relativa restritiva?
_________________
15. Classifique a oração «Quem tem hábitos de leitura» na frase
«Quem tem hábitos de leitura tem mais facilidade na língua portuguesa.»
_________________
16. Na frase «Camões é o nosso cantor épico, logo é um símbolo
nacional.», classifique a oração introduzida pela conjunção.
_________________
TPC — Resolve os itens de gramática na folha
da aula.
Reproduz-se aqui essencialmente a aula 133-134, uma vez que as tarefas da aula 131-132 ora correspondem a tarefas já realizadas na aula 121 de uma das turmas (cfr.) ora serão aproveitadas na aula 133-134 de outras turmas.
Aula 131-132 (9 [1.ª, 4.ª (na primeira
parte deste bloco, na turma 4, deu-se a
aula 130, a que a turma não assistira por estar em «Vozes da democracia»)],
10/mai [3.ª (esta segunda parte da aula não acontecerá na turma 3.ª, que já a
teve na aula 121])
Aula 133-134 (13 [4.ª], 15/mai [1.ª,
3.ª]) Correção do trabalho de casa com questionário de gramática.
Veremos quatro trailers de
filmes que adaptaram obras de José Saramago, para depois se votar no filme que,
se ainda for caso disso, seria mais interessante ver em aula:
Escreve uma
apreciação crítica acerca do paratexto de dois exemplares de O Ano da
Morte de Ricardo Reis, o do teu exemplar, e o de que vê a capa na p. 231.
Procura mostrar já algum conhecimento do enredo.
(As regras da apreciação
crítica estão na p. 354.) Desta vez, o objeto da apreciação crítica é O Ano
da Morte de Ricardo Reis mas nos seus aspetos, digamos, exteriores, materiais.
Algum vocabulário
porventura útil:
Sobrecapa | Capa | Folha de guarda |Anterrosto | Portada, página de rosto,
frontispício | Contraportada | Orelhas, abas ou badanas | Colofão | Contracapa
| Lombada | Sinopse | Biografia | Bibliografia | Ilustrações | Autor ! Editor |
Título | Subtítulo | Epígrafe | Dedicatória | Título corrente (nos cabeçalhos)
| Rodapés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Classifica as
funções sintáticas dos constituintes sublinhadas (e, por vezes, entre
parênteses, a oração):
Já
sei namorar
(Tribalistas)
Já sei
namorar
Já sei beijar de língua
Agora, só me resta sonhar
Já sei onde ir | _________ (subordinada _________)
Já sei onde ficar
Agora, só me falta sair
Não tenho
paciência
p’ra televisão | _________
Eu não sou audiência
para a solidão
Eu sou de ninguém | _________
Eu sou de todo mundo
E todo mundo me quer bem | _________
Eu sou de ninguém
Eu sou de todo mundo | _________
E todo mundo é meu também
Já sei
namorar
Já sei chutar a bola | _________
Agora, só me falta ganhar | _________
Não tenho juiz
Se você quer a vida em jogo | _________ (subordinada _________)
Eu quero é ser feliz
Não tenho
paciência
p’ra televisão
Eu não sou audiência
para a solidão
Eu sou de ninguém
Eu sou de todo mundo
E todo mundo me quer bem | _________
Eu sou de ninguém
Eu sou de todo mundo
E todo mundo é meu também | _________
‘Tou te
querendo como ninguém | _________
‘Tou te querendo como Deus quiser
‘Tou te querendo como eu te quero
‘Tou te querendo como se quer
‘Tou te querendo como se quer
TPC — Lê Caderno de encargos até ao fim do ano.
Aula 135 (13 [1.ª], 14 [3.ª], 15/mai [1.ª]) Entrega do trabalho com atos de fala.
Logo no capítulo II de O ano da morte de Ricardo Reis começam as deambulações
de Ricardo Reis. Sai cedo para trocar por escudos algum do dinheiro inglês que
trazia, o que faz no Banco _______. Percebemos que se dirigira para as bandas
do Terreiro do Paço: «Da Rua do Crucifixo, onde está, ao Terreiro do Paço
distam poucos metros, apeteceria escrever, É um passo, não fosse a ambiguidade
da homofonia» (o narrador brinca com a proximidade linguística, fonética, entre
_____ e _____).
Como vai pensativo e chove, alguém se mete com
ele: «Ó senhor, olhe que aí debaixo não lhe chove». Então, Ricardo Reis «sorri
de se ter distraído, sem saber porquê murmura os dois versos de João de Deus,
célebres na infância das escolas, Debaixo daquela arcada passava-se a noite
bem» (PE, 34; C, 34; Mf, 26).
Estas linhas aludem a um poema de João de Deus,
célebre por ser um dos últimos textos da Cartilha Maternal, por onde
muitos aprenderam a ler (eu, por acaso, também). A edição que copio à direita é
mais recente que a da minha época mas ainda me lembro deste poema como
angustiante. A
menção dos dois versos de João de Deus (um poeta contemporâneo, e amigo, de Antero
e de Eça) é um dos muitos exemplos de intertextualidade em O
ano da morte de Ricardo Reis.
Ainda neste segundo
capítulo Ricardo Reis dirige-se ao Cemitério dos _______, onde pretende visitar
o jazigo de Fernando Pessoa (aliás, da avó Dionísia). De qualquer modo, não
encontra o poeta, porque este tinha ______.
É igualmente neste
capítulo que, por a água da chuva ter entrado pela janela do quarto no
Bragança, Reis conhece _______, criada que lho vai limpar com esfregão e balde
(PE, 50-51; C, 47; Mf, 37). Também o nome da criada serve
para alusões intertextuais, neste caso a _______ do próprio _______: «lê
alguns versos apanhados no passar das folhas, E assim, Lídia, à lareira, como
estando, Tal seja, Lídia, o quadro, não desejemos, Lídia, nesta hora, Quando,
Lídia, vier o nosso outono, Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira-rio, Lídia, a
vida mais vil antes que a morte, já não resta vestígio de ironia no sorriso» (PE,
51-52; C, 48; Mf, 38).
O capítulo III começa com
o primeiro pequeno-almoço de Reis no hotel, servido por _______. Neste capítulo
há também longa digressão por Lisboa (que tentei acompanhar num tepecê que
terão visto). Num momento desse passeio, a intertextualidade estende-se
a uma série de obras da literatura universal. São elas:
A Eneida, de Virgílio || A Divina Comédia, de Dante || Menina e
Moça, de Bernardim Ribeiro || Os Lusíadas, de Luís de Camões || Dom
Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes || Os Três Mosqueteiros,
de Alexandre Dumas.
cinzento = _________ | amarelo = _________
| azul = __________ | verde = _________ | rosa = ___________ | vermelho
= __________
Faz corresponder a cada uma destas obras as
alusões que lhes são feitas. Os sublinhados (ou cores, numa versão posterior,
para se ver no ecrã) assinalam cada segmento intertextual — não contei com as
referências à estátua de Camões. Trata-se quase sempre do início da obra
(excetua-se Os Três Mosqueteiros, em que a alusão é abrangente):
Ricardo Reis atravessou o Bairro Alto,
descendo pela Rua do Norte chegou ao Camões, era como se estivesse dentro de um
labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar, a este bronze afidalgado e
espadachim, espécie de D'Artagnan premiado com uma coroa de louros por
ter subtraído, no último momento, os diamantes da rainha às maquinações do
cardeal, a quem, aliás, variando os tempos e as políticas, ainda acabará por
servir, mas este aqui, se por estar morto não pode voltar a alistar-se,
seria bom que soubesse que dele se servem, à vez ou em confusão, os principais,
cardeais incluídos, assim lhes aproveite a conveniência. São horas de almoçar,
o tempo foi-se passando nestas caminhadas e descobertas, parece este homem que
não tem mais que fazer, dorme, come, passeia, faz um verso por outro, com
grande esforço, penando sobre o pé e a medida, nada que se possa comparar ao
contínuo duelo do mosqueteiro D’Artagnan, só
os Lusíadas comportam para cima de oito mil versos, e no entanto este
também é poeta, não que do título se gabe, como se pode verificar no registo do
hotel, mas um dia não será como médico que pensarão nele, nem em Álvaro como
engenheiro naval, nem em Fernando como correspondente de línguas estrangeiras,
dá-nos o ofício o pão, é verdade, porém não virá daí a fama, sim de ter alguma
vez escrito, Nel mezzo del camin di nostra vita,
ou, Menina e moça me levaram da casa de meus
pais, ou, En un lugar de La Mancha,
de cuyo nombre no quiero acordarme, para não cair uma vez mais na tentação
de repetir, ainda que muito a propósito, As
armas e os barões assinalados, perdoadas nos sejam as repetições, Arma virumque cano. Há-de o homem esforçar-se
sempre, para que esse seu nome de homem mereça, mas é menos senhor da sua
pessoa e destino do que julga, o tempo, não o seu, o fará crescer ou apagar,
por outros merecimentos algumas vezes, ou diferentemente julgados, Que serás
quando fores de noite e ao fim da estrada. [PE, 77-78; C, 70-71; Mf,
56-57]
No verso do anterrosto de
uma das edições de O Ano da Morte de Ricardo Reis, vemos uma lista das
obras de José Saramago
(independentemente dos géneros — há romances, mas também diários, livros de
viagem, livros de memórias, coletâneas de crónicas, contos, poesia). Copio dezoito
dos títulos:
Terra do pecado |
Provavelmente alegria | Deste mundo e do outro | A bagagem do viajante | Os
apontamentos | Manual de pintura e caligrafia | Objeto quase | Levantado do
chão | Que farei com este livro? | Viagem a Portugal | A segunda vida de
Francisco de Assis | História do cerco de Lisboa | Todos os nomes | A caverna |
As intermitências da morte | As pequenas memórias | Viagem do elefante |
Claraboia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
TPC — Prepara leitura em voz alta de «O Sentimento dum Ocidental» (Liga dos Campeões: partes I e II; Liga Europa: partes III e IV).
Aula 136-137 (15 [3.ª], 16/mai [4.ª]) e Aula CXXXVI-CXXXVII (16/mai [só 1.ª]) Vamos continuar com trechos de O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas saltando muitas páginas desde os textos que víramos, que chegavam só até ao cap. III. Esses primeiros três capítulos terão ficado razoavelmente compreendidos só por estas aulas. A partir de agora, há mesmo que ler de fio a pavio o livro de José Saramago.
O que a seguir vamos ler (reler,
espero), que diz respeito a uma contrafé recebida por Reis (PE,
196-200; C, 171-174; Mf, 142-145), é já do cap. VIII. Podemos
também recordar o que se passa até esta parte da obra, lendo e preenchendo as
sínteses lacunares de cada capítulo (que surripiei a um manual da Leya):
I — Ao fim de dezasseis
anos no Brasil, Ricardo Reis desembarca em (a.) _______ e hospeda-se no
Hotel Bragança, onde vê, pela primeira vez, (b.) _______, figura que lhe
desperta interesse por ter a mão esquerda (c.) _______.
II — Ricardo Reis lê jornais
para se inteirar das notícias sobre a morte de (d.) ______ e,
posteriormente, visita o túmulo do poeta no Cemitério dos Prazeres. Já no
Bragança, contacta pela primeira vez com (e.) _______, criada do hotel,
cujo nome o deixa surpreso.
III — Ricardo Reis presencia
o “bodo do Século”, onde foram distribuídos dez escudos a cada um de mais de
mil necessitados. Na noite da passagem de ano, depois de regressar do Rossio,
Reis depara-se no quarto com a visita de (f.) ______, que o informa de
que tem ainda oito meses para circular à vontade no mundo dos vivos.
IV — Ricardo Reis tem o
primeiro contacto físico com Lídia — põe-lhe a mão no braço — e diz-lhe que a
acha bonita. No entanto, estes atos fazem-no sentir-se ridículo. Fernando
Pessoa volta a encontrar-se com Ricardo Reis, na esquina da rua de Santa Justa,
e os dois conversam sobre a multiplicidade de eus e sobre (g.) _______.
Ricardo Reis envolve-se com a criada, que entra no quarto, durante a noite,
deitando-se com ele.
V — Ricardo Reis vai ao
Teatro D. Maria com a intenção de travar conhecimento com o doutor Sampaio e
com (h.) ______. À noite, recebe a visita de Fernando Pessoa no
seu quarto e os dois falam sobre Lídia e sobre o fingimento. Lídia volta a
dormir com Ricardo Reis.
VI — Ricardo Reis e Marcenda
conversam na sala de estar do hotel sobre a sua debilidade física e a jovem
pede-lhe a sua opinião profissional. Nessa noite, Ricardo Reis janta com o
doutor Sampaio e com Marcenda e (i.) _______ não o visita porque está
com ciúmes.
VII — Ricardo Reis lê (j.)
________, obra que lhe foi recomendada pelo doutor Sampaio e que relata a
lealdade da jovem Marília ao sistema. Lídia volta a dormir com Ricardo Reis ao
fim de cinco dias. Ricardo Reis encontra Fernando Pessoa num café do bairro e,
a propósito da vitória da esquerda em Espanha, falam sobre (k.) ________
e o regresso de Reis a Portugal.
VIII (só metade) — Ricardo
Reis fica doente, com febre, e Lídia dispensa-lhe todos os cuidados. Dias
depois, ele recebe uma intimação para se apresentar (l.) _______,
situação que desperta a desconfiança entre o pessoal e entre os hóspedes do
hotel. Lídia fica preocupada e tenta prevenir Reis das práticas dessa
instituição.
José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, pp.
196-200 (PE); 171-174 (C); 142-145 (Mf):
É na manhã de quarta-feira que vêm trazer uma contrafé a Ricardo
Reis. Levou-lha o próprio Salvador, em mão de gerente,
dada a importância do documento e a sua proveniência, a Polícia de Vigilância e
Defesa do Estado, entidade até agora não mencionada por extenso, calhou assim,
hoje está calhando o contrário, não é por não se falar das coisas que elas não
existem, temos aqui um bom exemplo, parecia que nada podia haver no mundo de
mais importante que estar Ricardo Reis doente e Lídia assistindo-o, em vésperas
de chegar Marcenda, e neste meio-tempo um escriturário esteve a preencher o
impresso que haveria de ser trazido aqui, sem que nenhum de nós o suspeitasse,
É assim a vida, meu senhor, ninguém sabe o que nos reserva o dia de amanhã. Em
diferente sentido está reservado Salvador, a cara, não diríamos fechada, como
uma nuvem de inverno, mas perplexa, a expressão de quem, ao verificar o
balancete do mês, encontra um saldo inferior ao que lhe fora prometido pelo
simples cálculo mental, Tem aqui uma contrafé, diz, e os olhos fixam-se no objeto dela como
desconfiadamente examinariam a coluna de parcelas, Onde está o erro, vinte e
sete e cinco trinta e três, quando deveríamos saber que não passam de trinta e
dois, Uma contrafé, para mim, com razão se espanta Ricardo Reis, pois o seu
único delito, ainda assim não costumavelmente punido por estas polícias, é
receber a horas mortas uma mulher na sua cama, se tal é crime. Mais do que o
papel, em que ainda não pegou, inquieta-o a expressão de Salvador,
a mão dele que parece tremer um pouco, Donde é que isso vem, mas ele não
respondeu, certas palavras não devem ser pronunciadas em voz alta, apenas
segredadas, ou transmitidas por sinais, ou silenciosamente lidas como agora as
lê Ricardo Reis, disfarçando as maiúsculas por serem tão ameaçadoras, polícia
de vigilância e defesa do estado, Que é que eu tenho que ver com isto, faz a
pergunta com
displicente alarde, acrescenta-lhe uma
adenda tranquilizadora, Há de ser algum engano, di-lo para benefício do
desconfiado Salvador, agora nesta linha ponho a minha assinatura, tomei
conhecimento, no dia dois de março lá estarei, às dez horas da manhã, Rua
António Maria Cardoso, fica aqui muito perto, primeiro sobe a Rua do Alecrim
até à esquina da igreja, depois vira à direita, ainda outra vez à direita,
adiante há um cinema, o Chiado Terrasse, do outro lado da rua está o Teatro de
S. Luís, rei de França, são bons lugares para distrair-se
uma pessoa, artes de luz e de palco, a polícia é logo
a seguir, não tem nada que errar, ou terá sido por ter errado tanto que o
chamaram cá. Retirou-se o grave
Salvador para levar ao emissário e mensageiro a garantia formal de que o recado
fora entregue, e Ricardo Reis, que já se levantou da cama e repousa no sofá, lê
e torna a ler a intimação, queira comparecer para ser ouvido em declarações,
mas porquê, ó deuses, se eu nada fiz que me possa ser apontado, não devo nem
empresto, não conspiro, ainda mais me convenço de que não vale a pena conspirar
depois de ler a Conspiração, obra por Coimbra recomendada, tenho aqui a voz de
Marília a ressoar-me aos
ouvidos, O papá esteve para ser preso há dois dias, ora, quando estas coisas
sucedem aos papás, que fará aos que o não são. Já todo o pessoal do hotel sabe
que o hóspede do duzentos e um, o doutor Reis, aquele que veio do Brasil há
dois meses, foi chamado à polícia, alguma ele teria feito por lá, ou por cá,
quem não queria estar na pele dele bem eu sei, ir à pvde, vamos a ver se o
deixam sair, contudo, se fosse caso de prisão não lhe tinham mandado a
contrafé, apareciam aí e levavam-no. Quando ao
princípio da noite Ricardo Reis descer para jantar, sente-se já bastante sólido das pernas para não
ficar no quarto, verá como o vão olhar os empregados, como subtilmente
se afastarão dele, não procede Lídia desta desconfiada maneira, entrou
no quarto mal Salvador acabara de descer ao primeiro andar, Dizem que foi
chamado à polícia internacional, está alarmada a pobre rapariga, Fui, tenho
aqui a contrafé, mas não há motivo para preocupações, deve ser qualquer coisa
de papéis, Deus o ouça, que dessa gente, pelo que tenho ouvido, não se pode
esperar nada de bom, as coisas que o meu irmão me tem contado, Não sabia que
tinhas um irmão, Não calhou dizer-lhe, nem sempre dá para falar das vidas, Da
tua nunca me disseste nada,
Só se me perguntasse, e não perguntou, Tens razão, não sei nada de ti, apenas
que vives aqui no hotel e sais nos teus dias de folga, que és solteira e sem
compromisso que se veja, Para o caso, chegou, respondeu Lídia com estas quatro
palavras, quatro palavras mínimas, discretas, que apertaram o coração de
Ricardo Reis, é banal dizê-lo, mas foi tal qual assim que ele as sentiu,
coração apertado, provavelmente nem a mulher se deu conta do que dissera, só
queria lastimar-se, e de quê, ou nem sequer tanto, apenas verificar um facto
indesmentível, como se declarasse, Olha, está a chover, afinal de
contas saiu-lhe da boca espontânea a amarga ironia, como nos romances se
escreve, Eu, senhor doutor, sou uma simples criada, mal sei ler e escrever,
portanto não preciso de ter vida, e se a tivesse, que vida poderia ser a minha
que a si lhe interessasse, desta maneira poderíamos continuar a multiplicar
palavras por palavras, e muito mais, as quatro ditas, Para o caso, chegou,
fosse isto duelo de espada e estaria Ricardo Reis sangrando. Vai Lídia a
retirar-se, sinal de que não falou por acaso, há
frases que pareceram espontâneas, produto da ocasião, e só Deus sabe que mós as
moeram, que filtros as filtraram, invisivelmente, por isso quando alcançam a exprimir-se
caem como sentenças salomónicas, o melhor, depois
delas, teria sido o silêncio, o melhor seria que um dos dois interlocutores se
ausentasse, o que as disse, ou o que as ouviu, mas no geral não é assim que
procedem, as pessoas falam, falam, até que vem a perder-se
por completo o sentido daquilo que, em um instante,
foi definitivo e irrefragável, Que coisas te tem contado o teu irmão, e ele
quem é, perguntou Ricardo Reis. Já Lídia não saiu, dócil voltou atrás e veio
explicar, foi sol de pouca dura o bote fulminante, Meu irmão está na marinha,
Qual marinha, A marinha de guerra, é marinheiro do Afonso de Albuquerque, É
mais velho ou mais novo do que tu, Fez vinte e três anos, chama-se
Daniel, Também não sei o teu apelido, O nome da minha
família é Martins, Da parte do teu pai ou da parte da tua mãe, Da parte da
minha mãe, sou filha de pai incógnito, nunca conheci o meu pai, Mas o teu
irmão, É meio-irmão, o pai dele morreu, Ah, O Daniel é contra a situação e tem-me
contado, Vê lá tu se tens bastante confiança em mim,
Oh, senhor doutor, se eu não tivesse confiança em si.
Vamos então ao passo da contrafé.
Vê o significado de «contrafé» (copio, adaptado, o verbete do Dicionário da
Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 2001):
contrafé [kõtrαfέ], n. f.
(De contra- + fé). Jur. Cópia autêntica de convocação ou
intimação judicial que se entrega à pessoa citada. Recebeu uma contrafé para
se apresentar no tribunal.
Responde à pergunta 1, aliás completa as citações na resposta
que copio:
1. Caracteriza,
fundamentando, as reações provocadas pela chegada da contrafé.
R.: Em Ricardo Reis, o
documento causa inicialmente espanto, seguido de temor — «disfarçando as
maiúsculas por serem _________». Entretanto, Salvador mostra perturbação e
desconfiança do hóspede («a expressão de Salvador, a mão dele que parece tremer
um pouco», «do _______ Salvador»). Quanto ao «pessoal do hotel», a reação é
idêntica, de desconfiança e medo: «verá como o vão olhar os empregados, como
__________». Por seu lado, Lídia revela medo, preocupação com o que possa
acontecer-lhe —«está _______ a pobre rapariga».
Quanto à pergunta 2, bastará completares a resposta lacunar
com as preposições (ou contrações com preposição) em falta:
2. Explica em que medida a
situação pontual narrada ilustra o ambiente vivido na sociedade portuguesa do
Estado Novo.
R.: O incidente ilustra a
vida ____ um regime repressivo, vigiada ____ polícia política e dominada ____
medo, que leva ____ desconfiança e afastamento ____ quem possa estar ____
suspeita.
Da pergunta 3 podemos ler a resposta, sem nenhum exercício em
especial. Depois, responte a 4.
3. Verifica, no diálogo com
Lídia, a sobreposição de dois planos narrativos. No segundo, e usando apenas nomes,
aponta as emoções despertadas em Ricardo Reis.
R.: No diálogo sobrepõem-se o
plano respeitante às representações do século XX e o que se refere às
representações do amor. Emoções assinaláveis seriam a dor, a culpa, a vergonha,
entre decerto várias outras possíveis.
4. Comenta agora agora este
trecho (explicando «Conspiração» e «Coimbra»): «depois de ler a Conspiração,
obra por Coimbra recomendada».
R.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escreva uma breve exposição na qual explicite dois aspetos que
aproximem as personagens Marcenda e Lídia (de O Ano da Morte de Ricardo Reis)
de, respetivamente, Teresa e Mariana (de Amor de Perdição).
A sua exposição deve incluir:
• uma introdução ao tema;
• um desenvolvimento no
qual explicite dois aspetos que aproximem os dois pares de personagens,
fundamentando cada um desses aspetos em, pelo menos, um exemplo significativo;
• uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema.
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predicativo
do complemento direto
Resolve estes exercícios
roubados a Maria Regina Rocha, Gramática de Português. Ensino Secundário,
10.º, 11.º e 12.º ano, Porto, Porto Editora, 2016, p. 236:
1.
Nas frases que se seguem, sublinhe a azul o complemento direto e a preto o
predicativo do complemento direto.
a) Os pais acham sempre os filhos bonitos e
inteligentes.
b)
Foi o príncipe D. Pedro quem tornou o Brasil independente.
c)
O ministro nomeou aquele cientista Secretário de Estado do Ensino Superior.
d)
Desde que vieste de férias, sinto-te diferente.
e)
Há quem considere bons os filmes de ação.
f)
Ele constituiu um amigo de infância como seu advogado.
g)
Ela tem-nos por pessoas de bem.
2. Complete as frases introduzindo um predicativo do
complemento direto.
a) Pela primeira vez, o povo elegeu uma mulher
__________
b)
A Julieta acha sempre a sopa _________
c)
Os alunos da nossa turma nomearam a Patrícia _________
d)
Os juízes declararam o réu _________
e)
Eles tomaram o visitante por __________
f)
Os rapazes consideraram este trabalho _________
Palavras
divergentes (e palavras convergentes)
Continuo a roubar
exercícios à simpática Maria Regina Rocha (pp. 193-194); no entanto, nos pares
de divergentes, procura também identificar a palavra vernácula (ou chegada «por
via popular») e o cultismo (ou palavra que nos chegou por via erudita):
Leituras
em voz alta (de «O Sentimento dum Ocidental»)
Circunda
a alínea correta ou completa com a classificação devida.
Alguns itens de exame
sobre funções sintáticas
[2024, 1.ª fase, grupo II]
6. Todos os constituintes
sublinhados desempenham a função sintática de complemento do adjetivo, exceto
em
(A) «indiferentes à
beleza» (linha 4).
(B) «incapazes de a perceber» (linha 4).
(C) «juízos de beleza» (linha 5).
(D) «inferior a outro» (linha 13)
[2024, 1.ª fase, grupo II]
6. A expressão «do tempo»
(linha 20 [«A gestão do tempo é uma aprendizagem»]) e o pronome «nos» (linha 16
[«Não nos podemos iludir com»]) desempenham as funções sintáticas
(A) de modificador do
nome, no primeiro caso, e de complemento direto, no segundo caso.
(B) de complemento do nome, no primeiro caso, e de
complemento direto, no segundo caso.
(C) de complemento do nome, no primeiro caso, e de
complemento indireto, no segundo caso.
(D) de modificador do nome, no primeiro caso, e de
complemento indireto, no segundo caso.
[2023, 1.ª fase, grupo II]
5. O pronome pessoal «nos»
desempenha a função sintática de complemento direto em todas as expressões
abaixo apresentadas, exceto em
(A) «nos compõe» (linha
11).
(B) «nos tornam» (linha 16).
(C) «nos manter» (linha 26).
(D) «nos dizem» (linha 24).
[2022, 1.ª fase, grupo II]
6. Tal como em «vale-me»
(linha 34), o pronome pessoal com função de complemento indireto está presente
em
(A) «atraem-me» (linha 1).
(B) «me salta» (linha 3).
(C) «me confronto» (linha 33).
(D) «sustenta-me» (linha 34).
[2023, 2.ª fase, grupo II]
7. O único caso em que a
expressão iniciada por «para» desempenha a função sintática de complemento
oblíquo é o da expressão
(A) «para o livro» (linha
19 [«A nossa sociedade olha para o livro como um dado adquirido»]).
(B) «para consumo orientado dos fiéis» (linha 13
[«a palavra publicada é dividida e organizada em categorias primorosas para
consumo orientado dos fiéis»]).
(C) «para quem ler livros é essencial» (linha 5
[«aqueles para quem ler livros é essencial são muito poucos»]).
(D) «para dar contexto ao presente» (linha 29
[«continuar uma conversa do passado para dar contexto ao presente»]).
[2023, fase especial,
grupo II]
5. Todos os constituintes
sublinhados desempenham a função sintática de complemento do adjetivo, exceto
em
(A) «incompreensíveis para
os restantes» (linha 11).
(B) «espécie de animais» (linha 2).
(C) «inseparável da autoconsciência» (linha
1).
(D) «conscientes de si próprios» (linha 2).
[2021, 1.ª fase, grupo II]
6. As expressões «por
tapeçarias decorativas» (linha 28 [«Passa ainda por tapeçarias decorativas como
quem experimenta rimas»]) e «de um livro» (linha 32 [«a ilustração de um
livro»]) desempenham as funções sintáticas de
(A) modificador do grupo
verbal, no primeiro caso, e de modificador do nome restritivo, no segundo caso.
(B) complemento oblíquo, no primeiro caso, e de
modificador do nome restritivo, no segundo caso.
(C) complemento oblíquo, no primeiro caso, e de
complemento do nome, no segundo caso.
(D) modificador do grupo verbal, no primeiro caso,
e de complemento do nome, no segundo caso.
[2020, 1.ª fase, grupo II]
6. Identifique a função
sintática desempenhada por:
a) «que cada um destes
números poderá ser da ordem de dez mil triliões» (linhas 4 e 5 [«Diversas
estimativas indicam que cada um destes números poderá ser da ordem de dez mil
triliões»]);
b) «pelos nossos instintos» (linha 23 [«Pelo
contrário, muitas vezes somos enganados pelos nossos instintos»]).
a) ___________________
b) ___________________
[2020, 2.ª fase, grupo II]
6. Identifique a função
sintática desempenhada pelas expressões:
a) «a mulher com quem se
casou» (linha 12 [«como Eça escreva uma carta de amor a Emília de Resende, a
mulher com quem se casou»]);
b) «que» (linha 17 [«a única relação séria que
Pessoa teve»]).
a) ___________________
b) ___________________
[2020, fase especial,
grupo II]
6. Identifique as funções
sintáticas desempenhadas por:
a) «encantados» (linha 2
[«Ficámos encantados»]);
b) «com a encenação» (linha 5 [«dialoga em
absoluto com a encenação»]).
a)
___________________
b)
___________________
Classifica quanto à função
sintática os constituintes sublinhados:
«Da
próxima vez» (Luís Represas)
As ruas da minha cidade
| ___________
Abriram os olhos de encanto para te ver passar,
| ___________
As pedras calaram os passos
E as casas abriram janelas só para te ouvir cantar;
Porque há muito muito tempo não vinhas ao teu
lugar, | ___________
Ninguém sabia ao certo onde te procurar
Da próxima vez não vás sem deixar destino ou
direção.
Se houver próxima vez,
não esqueças: leva contigo recordação |
___________
E um beijo pendurado ao peito do teu coração.
Quisemos saber como estavas, | ___________
Se a vida tinha tomado bem conta de ti
Ou se a vida teve medo e eras tu que a levava
refugiada em ti.
Cada verão que passava sentíamos-te chegar, |
___________
Como era possível que o sol se atrevesse a brilhar!
Da próxima vez não vás sem deixar destino ou
direção. | ___________
Se houver próxima vez, não esqueças: leva contigo
recordação
E um beijo pendurado ao peito do teu coração
Deves trazer tantas histórias,
Tantas, que algumas ficaram caídas por aí; |
___________
Outras, eu tenho a certeza,
O teu fogo na alma queimou, deixaram de existir;
Só queremos saber se és a mesma que vimos partir;
|___________
Não existe mundo lá fora que te possa destruir
Da próxima vez não vás sem deixar destino ou
direção.
Se houver próxima vez, não esqueças: leva contigo
recordação
E um beijo pendurado ao peito do teu coração.
| ___________
Da próxima vez não vás sem deixar destino ou
direção.
Se houver próxima vez, não esqueças: leva
contigo recordação| ___________
E um beijo pendurado ao peito do teu coração.
TPC — (i) Lê já mais de metade da obra, pelo
menos. Na próxima semana começarei a testar a efetiva leitura da obra. (ii)
Também em gramática há muito que se pode estudar. (iii) Proximamente, vou abrir
espaço na Classroom para lançarem aí o comentário-análise sobre canção e Frei
Luís de Sousa, mas podem ir já fazendo (leiam instruções; vejam o meu
exemplo e outros; não recorram a plágios ou a IA).
Aula 138-139 (19 [3.ª], 20/mai [1.ª, 4.ª]) Correção de recolha de itens de exame em torno de funções sintáticas.
Parte C
Mas, num recinto público e vulgar,
Com bancos de namoro e exíguas pimenteiras,
Brônzeo, monumental, de proporções guerreiras,
Um épico d’outrora ascende, num pilar!
Cesário Verde, Cânticos do Realismo.
O Livro de Cesário Verde
A quadra em cima, a sexta
da parte II de «O Sentimento dum Ocidental», de Cesário Verde, refere um monumento mencionado em O
Ano da Morte de Ricardo Reis, de José
Saramago. A estátua surge a meio de deambulações (do sujeito poético
e da personagem, respetivamente) com bastantes semelhanças. Recentemente,
relemos o percurso do poeta em «O Sentimento [...]» e terás decerto também
bastante presente o passeio de Ricardo Reis no capítulo III do romance de
Saramago.
Escreve, a tinta, uma
breve exposição na qual explicites dois aspetos que aproximem as duas viagens a
que me reportei.
A tua exposição deve
incluir:
• uma introdução ao tema;
• um desenvolvimento no qual explicites dois aspetos que aproximem
os dois passeios em causa, fundamentando cada um desses aspetos em, pelo menos,
um exemplo significativo;
• uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Identifica a função
sintática dos segmentos sublinhados:
Leve
beijo triste
(interpret.: Paulo Gonzo & Lúcia Moniz)
Teimoso,
subi
Ao cimo de mim
E, no alto, rasguei | ________
As voltas que dei. | ________
Sombras
de mil sóis em glória
Cobrem todo o vale ao fundo,
Dorme meu pequeno mundo. | ________
Como
um barco vazio, | ________
Pelas margens do rio,
Desce o denso véu lilás, | ________
Desce em silêncio e paz,
Manso e macio.
Deixa
que te leve | ________
Assim, tão leve,
Leve e que te beije, meu anjo, triste. | ________
Deixo-te o meu canto, canção tão breve, | ________
Brando, como tu, amor, pediste. | ________
Não
fales, calei,
E assim fiquei. | ________
Sombra de mil sóis cansados,
Crescendo como dedos finos,
A embalar nossos destinos.
Deixa
que te leve
Assim, tão leve,
Leve e que te beije, meu anjo, triste.
Deixo-te o meu canto, canção tão breve, | ________
Brando como tu, amor, pediste.
Deixa
que te leve | ________
Assim, tão leve,
Leve e que te beije, meu anjo, triste.
Deixo-te o meu canto, canção tão breve,
Brando como tu, amor, pediste.
Aula 140 (20 [1.ª], 21 [3.ª], 22/mai [4.ª]) Nesta aula, nas três turmas, recuperaram-se tarefas de diversas aulas anteriores que não fora possível realizar (e que, como já estão transcritas nessas outras aulas, se omitem aqui).
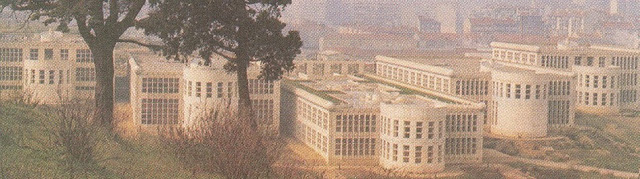 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)





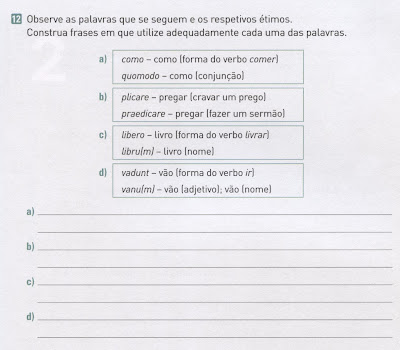

<< Home