Aula 122-123
Aula 122-123
(22 [4.ª], 24/abr [1.ª, 3.ª]) Compreensão de trecho sobre rémora em A
eloquência da sardinha, através de escolha de sinónimos.
Escolhe — circundando-a — a palavra que, no contexto em causa, seria o
melhor sinónimo da palavra usada em A eloquência da sardinha (não contes
com as possíveis diferenças de género ou com implicações na preposição que se
lhe segue).
Este diálogo é uma arte
que se perdeu. Provavelmente, nunca ninguém estabeleceu um verdadeiro diálogo
com os animais marinhos, como fazemos entre humanos. No entanto, muitos dos
nossos antepassados dominavam certamente algumas facetas desse diálogo,
na época em que as suas existências eram indissociáveis dos ecossistemas
naturais. Alguns excertos dessas conivências sobreviveram até aos nossos
dias e constituem uma prova de que um dia será possível reatar esses contactos.
A civilização dos
aborígenes australianos perdurou por quarenta mil anos. Este povo teve tempo
para tecer com a natureza uma relação estreita e profundamente
misteriosa. Entre os mistérios das suas técnicas esquecidas, os aborígenes eram
capazes de conversar com a rémora, esse peixe-ventosa com quem já nos cruzámos
anteriormente, quando Plínio o presumiu culpado de abrandar os navios.
Desde a «descoberta» da
Austrália pelos europeus, inúmeros exploradores descreveram uma técnica de
pesca original utilizada pelos aborígenes do estreito de Torres. Para
capturar tartarugas, tubarões e peixes de grande porte, recorriam à ajuda de
uma rémora, presa pela extremidade de uma fina corda. Os pescadores
aproximavam-se lentamente da presa, a bordo de uma piroga semialagada de água,
onde estavam mergulhadas as rémoras, fixadas ao fundo do casco graças às
suas ventosas dorsais. Quando avistavam uma tartaruga ou um tubarão, os
aborígenes descolavam a rémora do casco e atiravam-na delicadamente pela borda
fora. Esta começava a nadar discretamente, ganhava a confiança do
tubarão ou da tartaruga e fixava-se a eles com a sua ventosa, como é hábito
fazerem na natureza. Então, os aborígenes iam puxando progressivamente o fio. A
rémora não largava a presa; pelo contrário, recuava, para reforçar a
aderência da ventosa. A presa caía na armadilha. Alguns exploradores ingleses
contavam que a rémora chegava mesmo a puxar o fio para avisar, como num
telégrafo, que a presa estava prestes a mergulhar energicamente nas
profundezas, sendo por isso necessário dar-lhe mais fio. Era tanta a
cumplicidade entre humanos e rémoras que, se o fio se partisse, a rémora
voltava geralmente a fixar-se ao barco. Entre duas saídas para o mar, a
rémora era colocada numa bacia de água límpida, e era alimentada
diariamente. Graças a este método, os pescadores conseguiam capturar
tartarugas, tubarões e uma grande variedade de peixes de grande porte.
Os recursos nunca foram
ameaçados por esta pesca tradicional: as tradições aborígenes impunham quotas
de pesca de forma natural, reservando o consumo de cada espécie a uma fase da
vida. A carne dos grandes animais marinhos era destinada às pessoas idosas.
Desta forma, as tribos evitavam a sobrepesca destas espécies, de reprodução
lenta, mas também a intoxicação por mercúrio, que, acumulado pelos grandes
predadores, é nefasto para os jovens e para as mulheres grávidas.
Os relatos dos exploradores
sobre a pesca com rémora pareciam demasiado fantasiosos para serem verdadeiros
aos olhos dos sábios da metrópole. No entanto, todos os navegadores descreviam
rigorosamente a mesma técnica, com numerosas ilustrações e pormenores. E esta
técnica também era utilizada fora da Austrália, pelos quatro cantos do mundo.
Cristóvão Colombo foi o primeiro a mencioná-la, onde pensava serem as Índias; feitos
similares foram relatados em todo o golfo das Caraíbas, em Cuba e também na
Jamaica. Commerson observou-a em Moçambique em 1829, e o cônsul britânico
Holmwood em Zanzibar em 1881. Mas as populações que detinham esta arte
foram desaparecendo pouco a pouco; as suas culturas e as suas tradições
perderam-se com o contacto com o Ocidente.
Em 1905, o sábio britânico
Holder quis verificar ele próprio o método e capturar uma tartaruga ou um
tubarão com a ajuda de uma rémora. Inspirou-se nas várias informações e
descrições técnicas e tentou a sua sorte nos recifes coralinos de Cuba. Mas, a
cada tentativa, a rémora limitava-se a fazer o que bem lhe apetecia. Umas
vezes, simplesmente não nadava em direção à presa, outras colava-se a ela, mas,
ao menor puxão do fio, largava-a, ou então adotava uma atitude de fuga, o que aguçava
o apetite do tubarão, que a engolia de um só trago. Foi um fracasso. Holder
concluiu que os aborígenes e os outros povos detinham certamente os segredos
que lhes permitiam a pesca com a rémora, nomeadamente a forma como encorajavam
a rémora a colaborar com eles e a prendiam ao fio sem que ela sentisse isso
como um entrave à sua liberdade. Sugeriu que o melhor seria aprofundar o estudo
da técnica antes de tentar de novo a experiência. Mas ninguém teve a
oportunidade de tornar a pô-la em prática. A arte da pesca com a rémora, tradicional
e difícil de reproduzir, perdeu-se com o surgimento das técnicas modernas. Os
etnólogos observaram esta prática até aos anos oitenta em tribos isoladas. Mas
nenhum deles pôde descrever ou entender o segredo do diálogo com a rémora, a
forma de lhe pedir ajuda, de conquistar a sua confiança. Esse segredo estava
certamente escondido entre os múltiplos ritos que envolviam a pesca, dissimulado
numa das canções mágicas ou danças tradicionais, e transmitido unicamente por
tradição oral como uma história. Hoje, já ninguém sabe falar com as rémoras.
Bill
François, A Eloquência da Sardinha. Histórias extraordinárias do mundo
submarino, tradução de Sandra Silva, Lisboa, Quetzal, 2021, pp. 147-150 (negros são meus)
diálogo || conversa | fala | oaristo | colóquio | entretenimento
faceta
|| rosto | cara | aspeto | vulto | fronte
conivência || conluio | cumplicidade | mancomunação | acordo
tecer
|| enfeitar | entabular | adornar | entrelaçar | matizar | ornar
culpado
|| réu | pecador | delinquente | acusável | criminoso
estreito
|| curto | delgado | canal | vínculo | acanhado | aperto | conciso
casco
|| miolos | inteligência | crânio | armação | cabeça
discretamente || ajuizadamente | cordatamente | engenhosamente | mudamente
reforçar
|| corroborar | restaurar | guarnecer | reanimar | refrescar | intensificar
fio
|| linha | telefone | viveza | agudeza | contexto
fixar
|| decorar | pegar | marcar | concentrar | coagular
límpida
|| fresca | inocente | ingénua | pura | cristalina
porte
|| atitude | tamanho | comportamento | transporte
quotas
|| quinhões | partes | prestações | importâncias
nefasto
|| fatal | triste| trágico | nocivo | duro
exploradores || especuladores | sanguessugas | aventureiros | espiões
arte
|| cautela | índole | profissão | perícia | feitio
inspirou
|| fundou | meteu | entusiasmou | bafejou
aguçava
|| afiava | adelgaçava | afunilava | estimulava
dissimulado || astuto | sonso | oculto | falso
No Sermão de Santo António — costuma acrescentar-se «aos
peixes» para o distinguir de outros sermões de Santo António do Padre
António Vieira —, a rémora aparece quer como peixe repreendido quer como
peixe louvado.
No capítulo III, sob o seu exato nome, é elogiada por
______________; no capítulo V, integrada nos [peixes] pegadores, é verberada
por se aproveitar do peixe maior (exemplificando os defeitos humanos de
_________________).
Vejamos trechos da parte da rémora no capítulo III:
(ver a partir de 19:50)
Passando dos da Escritura
aos da História natural, quem haverá que não louve, e admire muito a virtude
tão celebrada da Rémora? No dia de um Santo Menor, os peixes menores devem
preferir aos outros. Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixezinho
tão pequeno no corpo e tão grande na força, e no poder, que não sendo maior de
um palmo, se se pega ao leme de uma Nau da Índia, apesar das velas, e dos
ventos, e de seu próprio peso, e grandeza, a prende, e amarra mais, que as
mesmas âncoras, sem se poder mover, nem ir por diante? Oh se houvera uma Rémora
na terra, que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria na
vida, e que menos naufrágios no mundo! Se alguma rémora houve na terra, foi a
língua de Santo António, na qual como na rémora se verifica o verso de São
Gregório Nazianzeno: Lingua quidem parva est, sed viribus omnia vincit.
O Apóstolo Santiago naquela sua eloquentíssima Epístola compara a língua ao
leme da Nau e ao freio do cavalo. Uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente
a virtude da Rémora, a qual pegada ao leme da Nau é freio da Nau, e leme do
leme. E tal foi a virtude, e força da língua de Santo António. O leme da
natureza humana é o alvedrio, o Piloto é a razão: mas quão poucas vezes
obedecem à razão os ímpetos precipitados do alvedrio? Neste leme porém tão
desobediente e rebelde mostrou a língua de António quanta força tinha, como
Rémora, para domar, e parar a fúria das paixões humanas. [...] Esta é a língua,
peixes, do vosso grande Pregador, que também foi Rémora vossa, enquanto o
ouvistes; e porque agora está muda (posto que ainda se conserva inteira) se
veem, e choram na terra tantos naufrágios.
«Passando dos
da Escritura aos da História natural» alude ao primeiro peixe elogiado, que
é um animal bíblico, o __________, cujas virtudes eram, graças ao seu fel e ao
seu coração, _________.
A seguir à rémora virão mais dois peixes «da História natural»,
isto é, verdadeiros, existentes na natureza, que são o torpedo (também chamado
«tremelga» ou «raia elétrica») e o ___________.
As suas virtudes serão, respetivamente, a de ________________ (na
reversão em termos de exemplo para os homens, significa deverem estes não ser
tão indiferentes aos pecados) e a de ver para cima e para baixo (o que, na
reversão para os homens, significa deverem estes ser mais __________).
«No dia de um Santo
Menor, os peixes menores devem preferir aos outros». Com efeito, Santo
António era um «Santo Menor», porque era um franciscano (e a ordem de S.
Francisco era a Ordem dos Frades Menores). Entretanto, não nos esqueçamos que,
quando o orador, o Padre Vieira, proferiu o sermão, era ____ de junho, dia de
Santo António.
[quadro tirado de Fernanda Carrilho, Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira. Análise da Obra, 3.ª ed., Lisboa, Texto, 2004, p. 71]
Vejamos um excerto do capítulo V (que já não é de louvores mas
de repreensões):
Nesta viagem, de que fiz
menção, e em todas as que passei a Linha Equinocial, vi debaixo dela o que
muitas vezes tinha visto e notado nos homens, e me admirou que se houvesse
estendido esta ronha, e pegado também aos peixes. Pegadores se chamam estes, de
que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se
chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que jamais
os desaferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão
seguindo de longe aos Leões na caça, para se sustentarem do que a eles sobeja.
O mesmo fazem estes Pegadores, tão seguros ao perto, como aqueles ao longe;
porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre os que
traz às costas, e assim lhes sustenta o peso, e mais a fome. Este modo de vida,
mais astuto que generoso, se acaso se passou, e pegou de um elemento a outro,
sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto depois que os nossos Portugueses
o navegaram; porque não parte Vizo-Rei ou Governador para as Conquistas que não
vá rodeado de Pegadores, os quais se arrimam a eles, para que cá lhes matem a
fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da
experiência, despegam-se, e buscam a vida por outra via; mas os que se deixam
estar pegados à mercê e fortuna dos maiores vem-lhes a suceder no fim o que aos
Pegadores do mar.
Rodeia a Nau o Tubarão nas
calmarias da Linha com os seus Pegadores às costas, tão cerzidos com a pele que
mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes, ou companheiros.
Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de quatro Soldados, arremessa-se
furiosamente à presa, engole tudo de um bocado, e fica preso. Corre meia
companha a alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos,
enfim, morre o Tubarão, e morrem com ele os Pegadores.
(ver de 23:30 a 25:30)
Eis aqui o grupo I do
exame de Português de 2023 (2.ª fase):
GRUPO I
Parte A
Leia o poema e a
observação.
ABDICAÇÃO
Toma-me,
ó noite eterna, nos teus braços
E
chama-me teu filho.
Eu
sou um rei
Que
voluntariamente abandonei
5 O
meu trono de sonhos e cansaços.
Minha
espada, pesada a braços lassos,
Em
mãos viris e calmas entreguei;
E
meu cetro e coroa, — eu os deixei
Na
antecâmara, feitos em pedaços.
10 Minha
cota de malha, tão inútil,
Minhas
esporas, de um tinir tão fútil,
Deixei-as
pela fria escadaria.
Despi
a realeza, corpo e alma,
E
regressei à noite antiga e calma
15 Como
a paisagem ao morrer do dia.
Fernando Pessoa, Ficções
do Interlúdio, edição de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio &
Alvim, 2018, p. 57.
OBSERVAÇÃO: As linhas 2 e 3 constituem um único verso.
* 1. O sujeito poético
metaforiza a sua existência definindo-se como um rei. Caracterize a atitude
desse rei ao longo do poema.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Relacione o sentido dos
dois últimos versos do poema com a apóstrofe à «noite», presente nos versos 1 e
2.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Considere as afirmações
seguintes sobre o poema.
(A) Embora Fernando Pessoa
seja um poeta modernista, em «Abdicação» são revelados traços de egotismo, que
associamos ao Romantismo.
(B) Ao
longo do poema, o sujeito poético evidencia o desejo de evasão no tempo para a
época medieval.
(C) No
primeiro terceto, são convocadas sensações auditivas e táteis para realçar as
ideias transmitidas.
(D) O sujeito lírico, ao
assumir os seus atos, expõe dúvidas existenciais relativamente às suas
decisões.
(E) Ainda que escrito num
tempo em que se valoriza a liberdade formal, o poema apresenta a estrutura
clássica de soneto, com versos decassilábicos e com o esquema rimático
abba/abba/ccd/eed.
Identifique as duas
afirmações falsas. Escreva, na folha de respostas, o número do item e as
duas letras que correspondem às afirmações selecionadas.
Parte B
Este
excerto, extraído do Sermão de Sto. António (aos peixes), integra-se no
capítulo III, no qual Vieira elogia os peixes em
geral, constituindo a parte final do elogio ao Santo Peixe de Tobias.
Abria S. António a boca
contra os Hereges, e enviava-se a eles1, levado do fervor e zelo da Fé e glória
divina. E eles que faziam? Gritavam como Tobias2 e assombravam-se com aquele
homem e cuidavam que os queria comer. Ah homens, se houvesse um Anjo que revelasse
qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e
quão necessário vos é! Se vós lhe abrísseis esse peito e lhe vísseis as
entranhas, como é certo que havíeis de achar e conhecer claramente nelas que só
duas cousas pretende de vós, e convosco: uma é alumiar e curar vossas
cegueiras, e outra lançar-vos os Demónios fora de casa. Pois a quem vos quer
tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos Demónios, perseguis vós?! Só uma
diferença havia entre S. António e aquele Peixe3: que o Peixe abriu a boca
contra quem se lavava, e S. António abria a sua contra os que se não queriam
lavar. Ah moradores do Maranhão, quanto eu vos pudera agora dizer neste
caso! Abri, abri estas entranhas; vede, vede este coração. Mas ah sim, que me
não lembrava! Eu não vos prego a vós, prego aos peixes.
Padre António Vieira, Sermão
de Sto. António (aos peixes) e Sermão da Sexagésima, edição de Margarida
Vieira Mendes, Lisboa, Seara Nova, 1978, pp. 77-78.
NOTAS
1 enviava-se a eles – investia contra eles.
2 Tobias – personagem bíblica que
gritou quando um peixe com poderes curativos investiu contra ele nas margens de
um rio.
3 aquele Peixe – referência ao Santo
Peixe de Tobias, cujo fel curou a cegueira do pai de Tobias e cujo coração, ao
ser queimado, expulsou os demónios de sua casa.
*4. Explique as relações
estabelecidas, por um lado, entre Santo António e o peixe mencionado no excerto
e, por outro lado, entre os «Hereges» (linha 1) e os homens interpelados na
linha 3.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*5. Justifique o sentimento
evidenciado pelo pregador no final do excerto, bem como o recurso à ironia
(linhas 11 a 13 [cfr. sublinhado]).
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Selecione a opção que
completa corretamente a frase seguinte.
Neste excerto, a
estratégia argumentativa usada pelo pregador para cumprir os objetivos da
eloquência («docere», «delectare» e «movere») desenvolve-se através de recursos
variados, nomeadamente
(A) a interpelação a Tobias,
a citação de obras clássicas e o uso de recursos como as interrogações
retóricas e as gradações.
(B) o jogo com o valor
polissémico de algumas palavras e o uso de recursos como as interrogações
retóricas e as interjeições.
(C) a reprodução de
provérbios, a interpelação a Tobias e o jogo com o valor polissémico de algumas
palavras.
(D) o uso de gradações e de
estruturas anafóricas, a citação de obras clássicas e a reprodução de
provérbios.
Parte C
* 7. Eça de Queirós revela nos
seus romances um agudo olhar crítico sobre a sociedade do seu tempo.
Escreva uma breve exposição na qual
explicite dois aspetos que são objeto de crítica social em Os Maias ou
em A Ilustre Casa de Ramires.
A sua exposição deve
incluir:
• uma introdução ao tema;
• um desenvolvimento no qual explicite dois aspetos que são
objeto de crítica na obra selecionada, fundamentando cada um desses aspetos em,
pelo menos, um exemplo significativo;
• uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema.
Comece por indicar, na
folha de respostas, o título da obra por si selecionada.
TPC — (i) Relanceia esta ficha
corrigida sobre um passo do Sermão (próximo deste aliás); e, também, as pp. 396-397 do manual (com análise do passo do
«quatro-olhos»). (ii) Se ainda não o fizeste, compra, ou tem à mão, O Ano da
Morte de Ricardo Reis, de José Saramago.
#
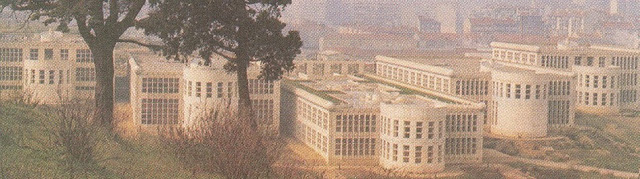 Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)
Português / 12.º 1.ª; 12.º 2.ª; 12.º 3.ª / Escola Secundária José Gomes Ferreira / 2025-2026
(O nome do blogue aproveita título de um livro do patrono da escola.)


<< Home